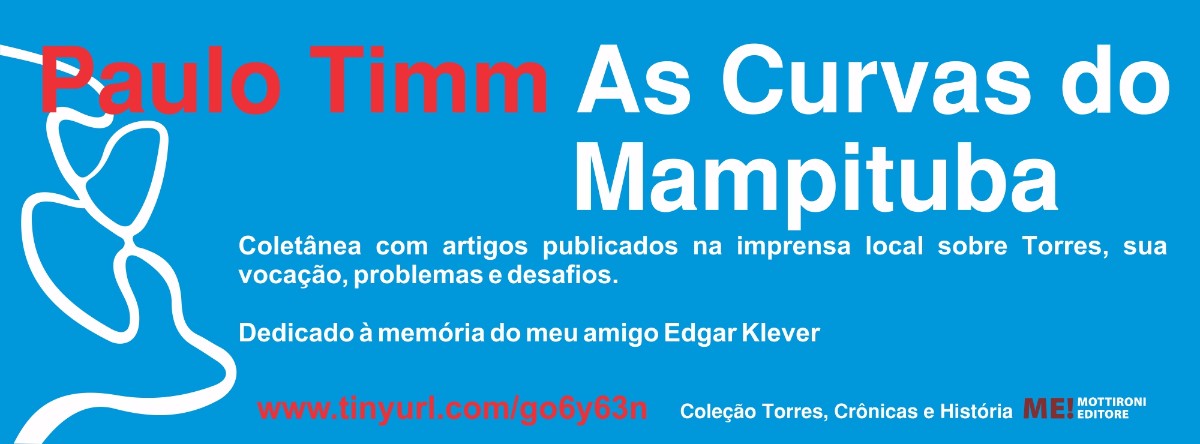COLUNA DO TIMM
EDITORIAL - CULTURAL FM Torres
www.culturalfm.com -DIA 30 jan.2026.
Eleições 2026: Oligarquização Trava a Esquerda e
Favorece a Direita -https://red.org.br/noticias/eleicoes-2026-oligarquizacao-trava-a-
esquerda-e-favorece-a-direita/#google_vignette
Por BENEDITO TADEU CÉSAR*
A corrida eleitoral brasileira de 2026 vai tomando forma em meio a
tensões profundas e riscos reais para o campo democrático
popular. As pesquisas eleitorais nacionais mais recentes esboçam um
cenário complicado: embora Luiz Inácio Lula da Silva lidere as
pesquisas diante dos principais concorrentes de direita, o quadro
geral — sobretudo para o Legislativo e para as disputas estaduais —
permanece desfavorável e fragmentado para quem se identifica com a
democracia social.
No plano presidencial, levantamentos eleitorais de abrangência
nacional mostram Lula na liderança das intenções de voto,
beneficiado pela polarização persistente e pela permanência do
bolsonarismo como ameaça concreta à democracia. Essa condição
pode garantir competitividade no segundo turno, mas não resolve o
problema central: o desgaste de um governo que, embora tenha
entregado resultados relevantes, não conseguiu empolgar amplos
setores da sociedade como em ciclos anteriores. Diferentemente de
2002 e 2006, Lula já não encarna a promessa de um novo ciclo
virtuoso de crescimento e inclusão, mas sim a defesa possível de um
terreno democrático sob ataque.
Além disso, quando se observam os cenários de primeiro turno, a
soma das intenções de voto atribuídas aos candidatos de direita e
centro-direita frequentemente supera o percentual isolado de Lula.
Esse dado, recorrente nas pesquisas, indica que sua liderança é real,
mas politicamente vulnerável, fortemente dependente da
configuração final das candidaturas e da dinâmica do segundo turno.
No Congresso Nacional, as pesquisas eleitorais e projeções
partidárias são ainda mais preocupantes para o campo democrático
popular. Partidos de direita e centro-direita aparecem com vantagens
consistentes na disputa pelo Senado e com tendência de ampliar suas
bancadas na Câmara dos Deputados. Trata-se de um projeto de poder
no espaço legislativo de longo prazo, voltado não apenas à disputa
eleitoral, mas ao controle estrutural das instituições, inclusive como
forma de pressão permanente sobre o Supremo Tribunal Federal. O
PL, na conquista do legislativo, opera com método e antecedência,
algo que o campo democrático popular negligenciou por anos.
Além deste, o campo democrático popular vive um problema mais
profundo: o processo de oligarquização dos partidos políticos, que já
não se limita às legendas conservadoras. À semelhança de seus
congêneres europeus desde o século passado, também os partidos do
campo democrático popular foram capturados por lógicas internas
que concentram poder, recursos e decisões nas mãos de
parlamentares com mandato, especialmente deputados federais que
controlam o fundo partidário e o fundo eleitoral. A política cada vez
mais deixa de ser instrumento coletivo e passa a operar como
carreira individual. A renovação é bloqueada. A militância é
desestimulada. A vitória do projeto partidário cede lugar à
sobrevivência do mandato.
O Rio Grande do Sul é um exemplo particularmente elucidativo desse
processo que, com grande probabilidade, está ocorrendo também em
outras unidades da federação. Estado com longa tradição de inovação
democrática e participação popular, hoje reproduz, de forma quase
didática, as distorções do sistema político nacional. As pesquisas
eleitorais realizadas no estado apontam, em sua maioria, uma
vantagem relativa das candidaturas situadas à direita e à centro-
direita, ainda que haja levantamentos que indiquem, em determinados
momentos e cenários, a liderança de candidatos do campo
democrático popular.
A dificuldade de construção de uma frente ampla entre PT, PSOL, PDT
e PSB não decorre apenas de divergências programáticas, mas da
defesa obstinada de espaços individuais por lideranças consolidadas,
mesmo quando isso compromete a viabilidade de uma frente eleitoral
do campo democrático como um todo. Essa fragmentação se reflete
diretamente nas pesquisas, ampliando a vantagem relativa da direita
e da centro-direita, tanto na disputa pelo governo estadual quanto
pelas vagas ao Senado e pela composição das bancadas na
Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.
A retirada da candidatura de Paulo Paim à reeleição teve impacto
direto na configuração da disputa ao Senado no estado. Paim reunia
um eleitorado amplo e transversal, que incluía setores do centro e até
da centro-direita, atraídos por sua trajetória, seu perfil conciliador e
sua imagem pública não confrontacional. As pesquisas eleitorais
indicam que, com sua saída do páreo, parte desse eleitorado tende a
migrar para Eduardo Leite, reforçando sua posição relativa na disputa
— embora outra parcela possa se dispersar ou se abster.
A comparação com o desempenho eleitoral de Olívio Dutra em 2022
ajuda a compreender esse movimento. Como Olívio já se encontrava
na casa dos 80 anos, uma parcela do eleitorado avaliou que havia a
possibilidade concreta de ele não exercer integralmente o mandato
de oito anos, o que levaria à assunção de seus suplentes, ambos
vinculados ao PSOL, partido percebido por amplos setores do
eleitorado mais ao centro como “radical”. Foi essa percepção de
radicalidade projetada sobre a suplência — e não a idade
isoladamente — que afastou da candidatura de Olívio eleitores do
centro e da centro-direita.
Esse mesmo fator pesa hoje sobre as candidaturas de Manuela
D’Ávila e Paulo Pimenta, ambos candidatos ao Senado. As pesquisas
eleitorais no estado mostram que Manuela, que já carregava
rejeições quando estava no PCdoB, não conseguiu reduzi-las após sua
filiação ao PSOL; ao contrário, passou a agregar a rejeição dirigida ao
novo partido. No imaginário de parte significativa do eleitorado
moderado, sua candidatura é associada a posições consideradas
excessivamente ideológicas, o que limita severamente sua
capacidade de expansão eleitoral. A viabilidade de Manuela — assim
como a de Pimenta — depende, em grande medida, de um cenário
improvável: a insistência da extrema direita em manter duas
candidaturas competitivas até o final da campanha. Caso
contrário, as pesquisas apontam para uma tendência
predominante: uma vaga de centro-direita, ocupada por Eduardo
Leite, e a outra pela extrema direita.
Na disputa pelo governo estadual, os levantamentos
eleitorais indicam que Edegar Pretto, apesar de sua reconhecida
honestidade, sensibilidade política e capacidade de diálogo, enfrenta
dificuldades para romper seu nicho eleitoral. Sua candidatura não
empolga corações, não atravessa a rua, isto é, não consegue avançar
de forma consistente sobre o eleitorado de centro. Sua chance real
depende diretamente do desempenho de Gabriel Souza. Caso Gabriel
ganhe tração nas pesquisas, pode repetir o movimento de Eduardo
Leite em 2022, quando chegou ao segundo turno por margem mínima
e, então, recebeu os votos da esquerda e da centro-esquerda para
barrar o que era percebido como o “mal maior”, a vitória de Onyx
Lorenzoni.
Juliana Brizola, por sua vez, teve sua trajetória interrompida
precocemente no primeiro ensaio de voo, devido ao vazamento de
processo judicial sob segredo de Justiça relativo à tutela de sua
avó. As pesquisas eleitorais subsequentes indicam queda de
desempenho e dificuldade de recuperação em curto prazo. Pode se
recompor, mas o custo político é elevado e o tempo é curto.
Isoladamente, sua tendência é alcançar desempenho próximo ao de
Pretto, sem romper o teto necessário para liderar a disputa. Nesse
contexto, as pesquisas não autorizam descartar a força da
candidatura de Luciano Zucco, que se alimenta justamente da
fragmentação do campo democrático e da incapacidade deste campo
de construir uma alternativa unitária e competitiva.
Esse quadro estadual se conecta a uma estratégia nacional mais
ampla da direita. Pesquisas e dados eleitorais mostram que o PL vem
apostando deliberadamente na valorização de candidaturas jovens
para os legislativos estadual e federal, combinando forte presença
digital, discurso seletivamente identitário e coordenação nacional.
Trata-se de uma tentativa consciente de renovar quadros sem alterar
o projeto político, ampliando sua capilaridade social e ocupando
espaços que os partidos progressistas abandonaram ou
negligenciaram.
O diagnóstico final é incontornável. O cenário eleitoral de 2026, tal
como revelado pelas pesquisas, expressa o esgotamento de um
sistema partidário fechado, envelhecido e crescentemente
oligárquico. Sem enfrentamento interno, sem renovação real e sem
estratégia consistente para o Legislativo, o campo democrático
popular continuará refém de lideranças isoladas e alianças
defensivas. O risco não é apenas perder eleições, mas consolidar uma
democracia formal, esvaziada de participação social e capturada por
interesses políticos oligárquicos.
O Rio Grande do Sul, que já foi laboratório de inovação democrática,
pode voltar a sê-lo. Mas isso exigirá romper com a lógica da
autopreservação política, recolocar o projeto coletivo no centro e
compreender que a conquista de espaço no poder executivo e no
legislativo por lideranças efetivamente democráticas é imprescindível
para a manutenção da democracia e o avanço da justiça social no
país.
*Benedito Tadeu César é mestre em antropologia social e doutor em sociologia, ambos pela UNICAMP,
cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Especialista em democracia, partidos políticos e análise eleitoral, poder e soberania, integra a
Coordenação do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito e é diretor da
RED – Rede Estação Democracia.
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
O QUE SERÁ, SERÁ! Aquilo que for será. Será?
Paulo Timm – 28 jan 2026
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:" A maior conquista do complexo cognitivo-militar é de que a opressão
direta e óbvia já não é necessária..Os indivíduos são muito melhor
controlados e dirigidos na direção desejada quando pensam ser agentes
livres e autônomos de sua próprias vidas"
Slavoj Zizek
"Os dois horizontes" (Machado de Assis):
"Dois horizontes fecham nossa vida:
Um horizonte, — a saudade
Do que não há de voltar;
Outro horizonte, — a esperança
Dos tempos que hão de chegar;"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*
Há cem anos a Europa, ainda centro do mundo, entrava numa
etapa de grandes tensões que culminariam na ascensão de
Mussolini, Itália, em 1922, e Hitler, na Alemanha, em 33. Era um
espasmo diastólico do Ocidente, no rumo do fascismo. Nessa
fase, a Internacional Comunista, que articulava a esquerda
revolucionária em escala internacional sob a batuta da URSS,
ainda traumatizada com o fracasso da Revolução na Alemanha,
persistia numa política de defesa de princípios: contra alianças.
Ao longo da década de 30, entretanto, percebendo o perigo, foi
flexibilizando suas posições e apoiando a República na Espanha
e o Front Populaire, na França, fazendo concessões ao social-
liberalismo. Pouco antes de estourar a guerra, com a ocupação
do Corredor Polonês até Dantzia, em 1939, Stalin apostou na
tese da Guerra Imperialista e acabou fazendo um ACORDO DE
NÃO AGRESSÃO com Hitler por 10 anos, o qual continha uma
cláusula secreta da divisão da Europa entre estes dois países
depois da “vitória”. Foi o acordo RIBENTROP-MOLOTOV, que
custou aos comunistas da Europa ocupada grande
constrangimento e perplexidade. Não eram sequer aceitos na
Resistência. A essas alturas, o Chanceler britânico, que
acreditava na possibilidade de segurar as ambições de Hitler,
perde o governo para Churchill, ambos conservadores, enquanto
o Presidente americano promete neutralidade aos americanos ,
mesmo dispondo-se a ser o “arsenal da guerra”. Com efeito,
ainda em 1940 - Roosevelt preparando-se para concorrer ao seu
terceiro mandato -, os Estados Unidos ainda tinham 10 milhões
de desempregados e sofria, mesmo com o New Deal, os efeitos
da depressão iniciada com o Crash de 29. A possibilidade de
fornecer armas para a Inglaterra – depois de 41 para a URSS , já
ocupada pelos nazistas – reorientaria a economia americana
para seu complexo industrial militar. Stalin, à sua maneira,
desconfiava tanto de Churchill quanto de Roosevelt e não deu
ouvidos aos avisos de que acabaria sendo invadido, também,
por Hitler, o que ocorreria a 2 de junho de 1941, provocando a
morte em poucas semanas de cerca de 20 milhões de russos,
metade civis. Aí, recalcitrante, aceitou o apoio dos Aliados
Ocidentais e se preparou para ofensiva que o levaria à gloriosa
tomada de Berlim quatro anos depois.
Importa disso tudo, lembrar, quando novamente entramos num
período de grandes tensões e rearmamento retórico e
orçamentário no mundo inteiro que, hoje, o país agressor não é
uma potência emergente, mas a potência nuclear
“submergente”. A propósito, o cenário não é propriamente
recente. Veja-se o que o Presidente Putin dizia, já em 2097, na
Conferência de Munique:
“Hoje, testemunhamos um uso quase desenfreado e
hipertrofiado da força nas relações internacionais — força
militar, força que está mergulhando o mundo no abismo de um
conflito após o outro. Como resultado, não há força suficiente
para uma solução abrangente para nenhum deles. Uma solução
política também está se tornando impossível. Observamos um
crescente desrespeito aos princípios fundamentais do direito
internacional. Além disso, normas individuais e, de fato,
praticamente todo o sistema jurídico de um Estado,
principalmente, é claro, os Estados Unidos, ultrapassaram as
fronteiras nacionais em todas as esferas: econômica, política e
humanitária — e estão sendo impostas a outros Estados. Quem
gostaria disso? Quem gostaria disso?"
Contra a Alemanha fascista, levantou-se o mundo liberal
proeminente, que acabaria associado à esquerda, URSS, e a
sufocou em maio de 1945. Hoje, quem se levantaria em nome do
liberalismo, seja político, na defesa da democracia, seja na
defesa do livre comércio, contra os Estados Unidos? O
contexto, enfim, é outro. Mais grave. O bloco adversário ao
Ocidente , hoje, é um conjunto heterogêneo de países
emergentes, mais ou menos articulados ao BRICS, mas que se
vê na contingência de defender o próprio liberalismo, como
democracia ou livre comércio, para consolidar sua própria
aliança. Isso é tático ou estratégico?
“Aí vindes outras vez eternas sombras”
Aí está o Brasil, um imenso país, navegando com um governo
de centro esquerda no fio da navalha entre “Ocidente” e BRICS,
com vistas a ganhar tempo, pelo menos, até a reeleição de Lula
em outubro. Nesse ínterim, mantém um discurso de princípios
na esperança de evitar o confronto com Trump, quem, por sua
vez, vai também alinhavando sua determinação no controle de
todo o continentes, da Groenlândia ao Ushuaia, expressa com
clareza na sua atualização da Doutrina Monroe, a que deu o
nome de Donald Monroe – DONROE. Já detém o apoio da
Argentina, do Paraguai e da Bolívia, daqui a pouco Chile.
Estamos cercados na própria América Latina, sob ameaça de
uma chantagem em Itaipu... Situação tensa e difícil que exigirá
grande habilidade do Presidente Lula, acossado internamente
por uma desafiadora corrente de extrema direita servil, apoiada
pela Faria Lima, pela Imprensa Corporativa, pelo Agro, pelo
Congresso conservador, pelo Velho Testamento dos
neopentecostais. Servil a tal ponto ao novo Eixo Estados
Unidos-Israel que seu candidato presidencial, Flavio Bolsonaro,
correu a buscar apoio ao Premier Netanyahu. Não obstante,
Trump elege Lula como seu interlocutor privilegiado no Brasil,
declinando de Bolsonaro, convidando-o, inclusive, para um
jantar de gala em sua homenagem em Washington em março
próximo. O que significa isso...? Ou como diria Freud: O que
deseja Trump conosco? Estaremos à beira de uma reedição
arriscada do Acordo Ribentrop-Molotov? Ou devemos acreditar
que Henrique VIII, redivivo, nos poupará de participar da
fundação de sua nova Igreja? Tudo incerto. “O que será que me
dá...?” Na nossa música, nossa Filosofia:
EXPLODE CORAÇÃO - Gonzaguinha
Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder
O que não dá mais pra ocultar
E eu não posso mais calar
Já que o brilho desse olhar foi traidor
EDITORIAL - CULTURAL FM Torres – www.culturalfm.com – 26 janeiro 2026
A decadência institucional dos EUA enfrenta o dinamismo de suas
empresas
Somente um declínio no vigor das empresas americanas poderá abalar o
domínio do país nos mercados financeiros - Por The Economist
Um fundo de pensões para funcionários de universidades dinamarquesas não
costuma ser notícia internacional com frequência. Mas, em 20 de janeiro, o
AkademikerPension fez exatamente isso, ao anunciar a venda de suas
participações em títulos do governo americano.
Os gestores do fundo enfatizaram que a decisão não foi uma reação às
ameaças territoriais dos Estados Unidos à Groenlândia, um território
dinamarquês, mas sim um julgamento sobre os gastos excessivos
desenfreados de Washington.
O fundo certamente não está se desfazendo de ações americanas, que
representam 60% de suas participações em ações listadas. Seus ativos de
private equity (investimento em empresas) também têm uma forte inclinação
para os Estados Unidos. De seus títulos de alto rendimento, os emissores
americanos representam uma parcela ainda maior, quase 80%.
A divisão do mercado americano na AkademikerPension ilustra, portanto, de
forma bastante clara, a mais poderosa disputa nos mercados globais da
atualidade. Mesmo após a queda de 2% do S&P 500 em 20 de janeiro, na
sequência de mais uma ameaça de tarifas de Donald Trump sobre a
Groenlândia (posteriormente retirada), os ativos americanos continuam a atrair
investidores.
De um lado, a deterioração institucional americana exerce forte pressão.
Investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, temem uma combinação
nociva de isolacionismo americano e beligerância ocasional. Políticas
econômicas autodestrutivas, especialmente em relação ao comércio, são uma
preocupação constante. Eles se preocupam com os imensos déficits de
Washington, os ataques da Casa Branca à independência do Federal Reserve
e a falta de contenção legislativa sobre um presidente imprevisível e, por
vezes, hostil.
Mas, puxando na outra ponta, estão as forças de um dinamismo americano
sem paralelo. Os Estados Unidos ostentam mercados de capitais imensos e
eficazes e, diferentemente de quase todos os outros países ricos, conseguiram
sustentar um sólido crescimento da produtividade nas últimas duas décadas.
O poder das empresas americanas
Dez das doze empresas listadas com valor de mercado superior a US$ 1 trilhão
são americanas. O mesmo acontece com quase todas as empresas privadas
que lideram a corrida pela supremacia em inteligência artificial. Na
interpretação mais cínica de um investidor: quanto as ameaças de. Trump
contra a Groenlândia afetarão os lucros da Microsoft ou da Apple este ano?
Dias como 20 de janeiro dão a impressão de que a decadência está vencendo.
Mas o mesmo parecia verdade em abril passado, depois que Trump declarou
que enormes tarifas seriam impostas às importações de todo o mundo.
O pânico com os danos econômicos e o isolamento geopolítico prevaleceu
apenas brevemente. Nos primeiros 11 meses de 2025, US$ 628 bilhões foram
investidos em ações americanas vindos do exterior. Apesar da venda para
a Dinamarca, estrangeiros detêm mais títulos do governo americano do que
nunca.
Alguns investidores argumentam que a propensão de Trump para recuar em
suas posições — apelidada de “comércio taco” — é o que mantém o mercado
de ações em alta. Essa é parte da resposta, mas apenas parte.
Tarifas e lucros em alta
A taxa efetiva de tarifas dos Estados Unidos é de 11,2%, a mais alta desde
a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, os lucros por ação das
empresas listadas nos Estados Unidos cresceram cerca de 12% em 2025, em
comparação com 1% para as de outros países ricos.
Se os lucros tivessem despencado, as mudanças parciais de posição de Trump
não teriam sido suficientes para impedir a queda acentuada dos preços das
ações.
Apesar de toda a empolgação com as ações europeias, especialmente as de
bancos e empresas de defesa, os lucros corporativos do continente ainda não
superaram os níveis de 2008, antes do pior da crise financeira global.
Analistas do Goldman Sachs esperam um crescimento anual dos lucros por
ação de cerca de 6% para as ações americanas nos próximos cinco anos, o
dobro da taxa no restante do mundo desenvolvido.
O mundo não deve esperar muita retidão de seus investidores. Os mercados
financeiros são, em última análise, amorais. Qualquer europeu inspirado pelo
patriotismo ou incentivado por seus governos a vender ativos americanos criará
oportunidades fáceis para compradores menos escrupulosos.
Qualquer medida que não seja o controle de capitais direto — extremamente
improvável mesmo agora, apesar da crescente tensão — provavelmente terá
pouco efeito.
Riscos no horizonte
Mas os americanos também não devem acreditar que o dinamismo corporativo
de seu país o torna invulnerável a um choque financeiro. Os comitês de
investimento de Sydney a Estocolmo já têm todo o incentivo necessário.
Uma desaceleração econômica começando nos Estados Unidos, uma
recuperação nos lucros de empresas em outras partes do mundo ou qualquer
sinal de que a liderança americana em inteligência artificial esteja diminuindo
seria prejudicial mesmo nas melhores circunstâncias.
Agora, seria aproveitada como uma desculpa bem-vinda para uma rotação há
muito adiada de ativos americanos em geral. Caso o dinamismo americano
vacile, a liquidação que se seguirá será ainda mais violenta.
As decisões temerárias do Trump associadas às mentiras vergonhosas estão
sendo apoiadas pela população americana em geral?
Apoio às ações e declarações de Donald Trump nos EUA é dividido e
complexo. Pesquisas recentes mostram que parte significativa da população
aprova sua agenda, mas sua taxa geral de aprovação permanece baixa,
indicando um país profundamente polarizado.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDITORIAL - CULTURAL FM Torres –
www.culturalfm.com 23 jan
Dominique Wolton, a Europa precisa negociar com os Estados Unidos-
Sociólogo comentou ameaças de Donald Trump ao mundo
Por Juremir Machado da Silva - https://www.matinal.org/opiniao/dominique-wolton-a-europa-precisa-negociar-com-os-estados-unidos/
=Levo muito em consideração as análises de Dominique Wolton, que conheço desde os anos 1990, em Paris, pelo fato que, por trás da sua afetividade sempre explícita e agitada, há uma coerência racional baseada em ponderação e numa aposta permanente em diálogo. Além disso, sem paixões ideológicas, ele consegue ver claro onde outros racionalizam.
O diálogo para Wolton não resulta da simples boa vontade de políticos inspirados, mas da correlação de forças militares e econômicas. Negocia-se para não perder e evitar a guerra, que, no caso da Europa, com a experiência de dois conflitos mundiais, soa como o pior dos mundos.
Para Wolton, haverá um limite às loucuras de Donald Trump se existir união entre os seus alvos. Ele não crê que os Estados Unidos invadam a Groenlândia pelo que isso significaria em termos das relações com a Europa.
Na questão militar, destaca Wolton, só a França, na Europa, tem autonomia nuclear, além da Rússia. A Inglaterra precisa de aviões com tecnologia americana para usar o seu arsenal. Além disso, a bomba atômica é uma arma dissuasiva. Não se vai jogar uma bomba atômica em Nova York.
Negociar, porém, não é dobrar joelhos. A Europa terá de adotar medidas para mostrar a Trump que não está intimidada. Por exemplo, com taxação de produtos americanos. Potência econômica mundial, a Europa tem cartas na manga que pode usar, mas é necessário, entende Wolton, ter paciência nesse jogo para não se cair nas armadilhas da precipitação.
Quem vai parar Donald Trump?
Essa é a questão que interessa. Para Dominique Wolton, Trump será parado pela China, pela Europa e pelos norte-americanos. Se a Europa taxar produtos dos Estados Unidos e se Trump cumprir as ameaças de taxar em 200% produtos franceses, as consequências sobre a economia dos Estados Unidos serão tão graves que a insatisfação popular determinará mudanças na política destrambelhada do presidente mais inusitado da história dos Estados Unidos nos últimos cem anos.
Em Davos, Donald Trump chicoteou a Europa dizendo que ela descarta tudo que produz a riqueza das nações, apostando em energia eólica, o que lhe parece o próprio sinal do fracasso, e não explorando os seus recursos por crenças inadequadas e mentiras da esquerda. Sobre a Groenlândia, foi incisivo: “Só os Estados Unidos podem protegê-la. Lembro que, na Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca perdeu a Groenlândia para a Alemanha em seis horas, o que obrigou os Estados Unidos a enviar tropas para salvar a ilha.
Para Dominique Wolton, Donald Trump testa o mundo com suas ameaças e com o seu imenso poder de comunicação. Será necessário enfrentá-lo no terreno dos atos. Se o homem é louco, não adianta bancar o louco com ele.
Juremir Machado da Silva - Jornalista, escritor e professor de Comunicação Social na PUCRS, publica semanalmente a Newsletter do Juremir, exclusiva para assinantes dos planos Completo e Comunidade
EDITORIAL - CULTURAL FM Torres –
www.culturalfm.com 22 jan
Dominique Wolton, a Europa precisa negociar com os Estados Unidos-
Sociólogo comentou ameaças de Donald Trump ao mundo
Por Juremir Machado da Silva - https://www.matinal.org/opiniao/dominique-wolton-a-europa-precisa-negociar-com-os-estados-unidos/
=Levo muito em consideração as análises de Dominique Wolton, que conheço desde os anos 1990, em Paris, pelo fato que, por trás da sua afetividade sempre explícita e agitada, há uma coerência racional baseada em ponderação e numa aposta permanente em diálogo. Além disso, sem paixões ideológicas, ele consegue ver claro onde outros racionalizam.
O diálogo para Wolton não resulta da simples boa vontade de políticos inspirados, mas da correlação de forças militares e econômicas. Negocia-se para não perder e evitar a guerra, que, no caso da Europa, com a experiência de dois conflitos mundiais, soa como o pior dos mundos.
Para Wolton, haverá um limite às loucuras de Donald Trump se existir união entre os seus alvos. Ele não crê que os Estados Unidos invadam a Groenlândia pelo que isso significaria em termos das relações com a Europa.
Na questão militar, destaca Wolton, só a França, na Europa, tem autonomia nuclear, além da Rússia. A Inglaterra precisa de aviões com tecnologia americana para usar o seu arsenal. Além disso, a bomba atômica é uma arma dissuasiva. Não se vai jogar uma bomba atômica em Nova York.
Negociar, porém, não é dobrar joelhos. A Europa terá de adotar medidas para mostrar a Trump que não está intimidada. Por exemplo, com taxação de produtos americanos. Potência econômica mundial, a Europa tem cartas na manga que pode usar, mas é necessário, entende Wolton, ter paciência nesse jogo para não se cair nas armadilhas da precipitação.
Quem vai parar Donald Trump?
Essa é a questão que interessa. Para Dominique Wolton, Trump será parado pela China, pela Europa e pelos norte-americanos. Se a Europa taxar produtos dos Estados Unidos e se Trump cumprir as ameaças de taxar em 200% produtos franceses, as consequências sobre a economia dos Estados Unidos serão tão graves que a insatisfação popular determinará mudanças na política destrambelhada do presidente mais inusitado da história dos Estados Unidos nos últimos cem anos.
Em Davos, Donald Trump chicoteou a Europa dizendo que ela descarta tudo que produz a riqueza das nações, apostando em energia eólica, o que lhe parece o próprio sinal do fracasso, e não explorando os seus recursos por crenças inadequadas e mentiras da esquerda. Sobre a Groenlândia, foi incisivo: “Só os Estados Unidos podem protegê-la. Lembro que, na Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca perdeu a Groenlândia para a Alemanha em seis horas, o que obrigou os Estados Unidos a enviar tropas para salvar a ilha.
Para Dominique Wolton, Donald Trump testa o mundo com suas ameaças e com o seu imenso poder de comunicação. Será necessário enfrentá-lo no terreno dos atos. Se o homem é louco, não adianta bancar o louco com ele.
Juremir Machado da Silva - Jornalista, escritor e professor de Comunicação Social na PUCRS, publica semanalmente a Newsletter do Juremir, exclusiva para assinantes dos planos Completo e Comunidade
EDITORIAL -CULTURAL FM Torres – www.culturalfm.com
OPINIÕES – Cultural FM Torres RS – www.culturalfm875.com
PORTAIS PROGRESSISTAS
A TERRA É REDONDA - aterraeredonda.com.br
OUTRAS PALAVRAS- https://outraspalavras.net/
BOLETIM DA AEPET –R. www.aepet.org.br | contato | Facebook | Youtube | Telegram
DIALOGOS DO SUL - RJ - https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/?utm_campaign=boletim_diario_2309&utm_medium=email&utm_source=RD+Station]
FORUM 21 – O portal das esquerdas – SP - https://forum21br.com.br/
Twittão do Saul – por Saul Leblon /// Tweets do Emir Sader
Clique: https://eb4.app/37b752ff Clique: https://eb4.app/40b06269
Gramsci e o Brasil - .: Gramsci e o Brasil :.
Observatório Internacional - Nucleo de Bioetica e Etica Aplicada - CCS/UFRJ - OBSERVATÓRIO INTERNACIONAL
Outras Palavras - https://outraspalavras.net
Movimento Paraíso Brasil - https://paraiso-brasil.org/
Democracia – RED - https://red.org.br/
Esquerda Net - https://www.esquerda.net/
Vermelho - https://vermelho.org.br/
Radio Sputnik Metropolitana RJ – Podcasts -A Rádio Metropolitana Rio oferece podcasts de seus programas jornalísticos e de entretenimento, como "Manhã em Foco", "Mundioka", "Virada de História", "Em Órbita", "Chupim Metropolitana" (fofocas e famosos) e "Entretanto", disponíveis em seu site e plataformas como Spotify-. https://metropolitanario.com.br/
Radio Sputnik Metropolitana – https://noticiabrasil.net.br/broadcasts/live/
"Radio UNESCO" refere-se tanto ao projeto histórico de radiodifusão da UNESCO, que distribuía programas em 1949, quanto à celebração anual do Dia Mundial do Rádio (13 de fevereiro), promovida pela organização para destacar a importância do meio na informação, educação e segurança pública. A UNESCO também fornece materiais de áudio e recursos para promover o uso do rádio, apoiar a liberdade de imprensa e aumentar a conscientização sobre questões globais, como as mudanças climáticas.
Site do Observatório Internacional do Século XXI https://nubea.ufrj.br/index.php/observatorio-internacional
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –
Em artigo no New York Times, Lula condena ataque dos EUA à Venezuela
Brasileiro rebateu lógica da força e defendeu autodeterminação do povo venezuelano
FacebookWhatsAppEmailXCompartilhar
Os bombardeios dos Estados Unidos em território venezuelano e a captura de seu presidente em 3 de janeiro são mais um capítulo lamentável na erosão contínua do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. A avaliação é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em artigo publicado no New York Times (NYT) neste domingo (18).
Segundo o líder brasileiro, chefes de Estado ou de governo – de qualquer país – podem ser responsabilizados por ações que prejudiquem a democracia e os direitos fundamentais. “Nenhum líder tem o monopólio do sofrimento de seu povo. Mas não é legítimo que outro Estado se arrogue o direito de fazer justiça”, afirmou. Ele acrescentou que as ações unilaterais ameaçam a estabilidade em todo o mundo, perturbam o comércio e os investimentos, aumentam o fluxo de refugiados e enfraquecem ainda mais a capacidade dos Estados de enfrentar o crime organizado e outros desafios transnacionais.
Lula declarou ser particularmente preocupante que tais práticas estejam sendo aplicadas à América Latina e ao Caribe, uma vez que trazem violência e instabilidade para uma parte do mundo que luta pela paz por meio da igualdade soberana das nações, da rejeição ao uso da força e da defesa da autodeterminação dos povos.
“Em mais de 200 anos de história independente, esta é a primeira vez que a América do Sul sofre um ataque militar direto dos Estados Unidos, embora forças americanas já tenham intervido na região anteriormente”, pontuou ao NYT.
A América Latina e o Caribe abrigam mais de 660 milhões de pessoas. “Temos interesses e sonhos próprios a defender”, afirmou o presidente. Para Lula, em um mundo multipolar, nenhum país deve ter suas relações exteriores questionadas por buscar a universalidade. “Não seremos subservientes a empreendimentos hegemônicos alheios. Construir uma região próspera, pacífica e pluralista é a única doutrina que nos convém”, declarou.
Lula afirmou que os países devem lutar por uma agenda regional positiva, capaz de superar diferenças ideológicas em favor de resultados pragmáticos. “Queremos atrair investimentos em infraestrutura física e digital, promover empregos de qualidade, gerar renda e expandir o comércio dentro da região e com nações fora dela”, acrescentou. A cooperação é fundamental para mobilizar os recursos que a América Latina precisa para combater a fome, a pobreza, o tráfico de drogas e as mudanças climáticas.
“A história mostrou que o uso da força nunca nos aproximará desses objetivos. A divisão do mundo em zonas de influência e incursões neocoloniais por recursos estratégicos são ultrapassadas e prejudiciais”, disse ao NYT.
Ele enfatizou que é crucial que os líderes das grandes potências entendam que um mundo de hostilidade permanente não é viável. Por mais fortes que essas potências sejam, elas não podem contar apenas com o medo e a coerção.
“O futuro da Venezuela, e de qualquer outro país, deve permanecer nas mãos de seu povo”, afirmou. Lula lembrou que somente um processo político inclusivo, liderado pelos venezuelanos, levará a um futuro democrático e sustentável. “Esta é uma condição essencial para que os milhões de cidadãos venezuelanos, muitos dos quais estão temporariamente abrigados no Brasil, possam retornar com segurança ao seu país”, acrescentou.
Lula reiterou que o Brasil continuará trabalhando com o governo e o povo venezuelano para proteger os mais de 2 mil quilômetros de fronteira que compartilham e para aprofundar a cooperação.
“É nesse espírito que meu governo se engajou em um diálogo construtivo com os Estados Unidos. Somos as duas democracias mais populosas do continente americano. Nós, no Brasil, estamos convencidos de que unir nossos esforços em torno de planos concretos para investimento, comércio e combate ao crime organizado é o caminho a seguir. Somente juntos podemos superar os desafios que afligem um hemisfério que pertence a todos nós”, concluiu ao New York Times – um hemisfério que, como ele mesmo afirma, “pertence a todos nós”, e não a uma única potência.
EDITORIAL - FM Torres-19 Jan. 2026
www.culturalfm.com
POLÍTICAS PÚBLICAS SALVAM VIDAS - Cláudio Carvalho
Quem nunca passou fome não conhece o valor do Bolsa Família.
Quem sempre teve casa própria não entende o impacto do
Minha Casa, Minha Vida.
Quem nasceu em família rica não sabe o que o ProUni
representa para quem nunca teve oportunidades.
Quem sempre viveu cercado de privilégios ignora a importância
das cotas sociais, raciais e de gênero.
Quem nasceu em berço de ouro não compreende a esperança
que programas como o Pé-de-Meia levam a estudantes pobres.
Quem nunca correu riscos com fogão improvisado não entende
o que é o gás do povo.
Quem serve ao mercado acima das pessoas jamais reconhecerá
a importância da geração de empregos.
Quem sempre teve água encanada não sabe o valor das
cisternas e barragens no semiárido.
Quem sempre teve carro não entende a importância do SAMU.
Quem nega a ciência se recusa a reconhecer o valor das
vacinas.
Quem sempre teve acesso à saúde não sabe o que o Mais
Médicos representa.
Quem nunca ficou sem remédio ignora a importância da
Farmácia Popular.
Quem sempre teve saúde bucal não entende o impacto do Brasil
Sorridente.
Quem nunca viveu no interior sem energia elétrica não sabe o
que significa o Luz para Todos.
Quem só conhece a agricultura empresarial não reconhece a
importância do Plano Safra para pequenos produtores.
Quem nasceu atleta de elite não entende o que o Bolsa Atleta
representa para quem vem da periferia.
Quem sempre sonegou impostos não compreende a
necessidade de uma reforma tributária justa.
Quem trai a pátria não respeita a soberania nacional.
Talvez muita gente não mereça o Lula, mas o povo brasileiro
merece.
Lutamos, resistimos, choramos, perdemos vidas, mas não
desistimos.
Tenho orgulho do presidente que elegemos.
Luiz Inácio Lula da Silva é um presidente que trabalha, cuida do
povo e seguirá sendo nossa esperança.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDITORIAL - FM Torres – www.culturalfm.com 16 JAN
CRESCEM EXPECTATIVAS PARA AS ELEIÇÕES DE OUTUBRO
Virou o ano, mudou a lua, veio o calor, e o único que se ouve no Estado é: “Nós
sempre teremos o litoral”. Poucos, na verdade, sabem que, a construir-se o tal
Porto de Arroio do Sal, acabou-se a vocação turística da nossa região.
Acabaremos, todos em Punta del Este. Meu amigo Dr. Cesar Paim, “torricácio”
há décadas, mas visitante eventual nas praias do Uruguai, já decidiu: - Não vou
mais vender meu apartamento lá, sabe-se lá o que vai acontecer por aqui.”..
Entrementes, o mundo gira, a “Luzitana “ roda e os brasileiros de todos os
cantos e matizes, o primeiro deles Lula, candidato à reeleição, começam a
pensar nas eleições em outubro. Eleições gerais : Presidente e Governadores,
com respectivos vices, Senadores e deputados federais e estaduais. Neste
nível, parlamentar, não se esperam muitas mudanças. São eleições
proporcionais, alimentadas por alianças com Prefeitos, solidamente nutridos pelo
processo de “distritalização” dos Orçamentos Executivos por parlamentares das
respectivas casas e localidades: as Emendas. No Legislativo, a grande corrida
será mesmo para o Senado, que terá 2/3 de seus membros substituídos, alguns,
poucos, tentando a manutenção da cadeira cujos mandatos vencem. Risco total
para quem estiver no Palácio do Planalto em 2027. A esse respeito o melhor
artigo, recentemente publicado é este: A batalha real de 2026 será pelo
Senado, Wilson Gomes =
Folha de S. Paulo https://gilvanmelo.blogspot.com/2026/01/a-batalha-real-de-2026-sera-pelo-
senado.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExS25Ya2lrdXV1bTVJNmpaUHNydGMGYXBwX2lkEDIyMj
AzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4VwLOj5oHnt-
Lh6q6ez8Qkddz_YcDjYsyYCCV6RiON1a9uzVK8N9EMC2Nhvw_aem_46Xt56X0MYL9u2kYf6v5ew ]] quarta-
feira, 14 de janeiro de 2026 -
“Dos 81 senadores, 54 terão seus mandatos renovados. Para qualquer governo
sobreviver politicamente, é indispensável manter 41 cadeiras, a maioria
absoluta. Considerando o estoque atual que não entrará em disputa, os partidos
da base precisariam eleger ao menos 28 das 54 cadeiras em disputa, algo
próximo de 52%. Trata-se de um patamar elevado para um governo que entra no
ciclo eleitoral sob desgaste natural, polarização intensa e um eleitorado mais
favorável à direita nas disputas majoritárias estaduais. O risco ( para Lula, se for
reeleito) não está em uma derrota acachapante, mas em pequenas perdas mal
distribuídas. Hoje, cerca de 33 das cadeiras governistas entram em disputa.
Basta que sua base perca seis delas, sem reposição, para cair abaixo da maioria
absoluta.”
Daí a preocupação do Presidente quanto à indicação de nomes estaduais com
efetiva capacidade competitiva. Fala-se que está de olho na mudança de Partido
de Marina e Simone Tebet, com vistas a candidaturas delas ao Senado E,
aparentemente, não desistirá facilmente de ter Haddad para o Senado em São
Paulo.
Quanto ao Rio Grande do Sul, o cenário já está mais ou menos definido.
Na esquerda, depois da defecção de Paulo Paim, por Paulo Pimenta no PT, este
deverá como parceira a Manoela D´Avila, que volta à Política pelo PSOL. Ela,
aliás, está melhor do que ele na preferência eleitoral (26%) , tem mais e melhor
imagem mulher jovem -, eis que já foi até candidata a Vice de Lula e candidata a
Prefeita da capital; mas o Governador Leite (24%) também será candidato ao
Senado, vez que seus sonhos à Presidência esfumaram-se no tempo. Ele,
porém, não tem, ainda uma chapa própria forte ao Governo, que deverá ser
disputado, na aliança já consolidade com MDB, pelo seu Vice Gabriel Souza.
Namora com o PDT na esperança de ganhar os votos brizolistas, numa eventual
dobradinha com Juliana. Se ela for inteligente, não cai nessa. Ele, depois de 8
anos no Governo está bem melhor “aparelhado”. Ficará mais garantida como
candidata à deputada federal. Tem nome, mas lhe falta empenho para uma
campanha estadual. À direita, dois candidatos se apresentarão, Von Hatten ( 15
%) ,pelo Novo, e Sanderson (4%), pelo PL; ou seja, só o primeiro é competitivo.
Enfim, tudo indica que Leite, Manoela e Von Hatten serão os mais cotados para
o Senado. No máximo, um voto “governista” ...
Quanto ao Piratini, sem novidades. A “terceira via” que sucumbiu no plano
nacional teima em sobreviver nos campos do Rio Grande. Viveremos a reedição
de várias outras eleições que elegeram Brito, Rigotto, Yeda Crusius e o
indefectível Sartori. Divisão na esquerda, que se reduzirá ao campo mais
combativo do PT + PSOL + PCdo B, com os respectivos “federados”, na
indicação de E. Pretto (PT) ao Governo, um meio de campo com o Gabriel
Souza, puxado por Leite ao Senado, com eventual apoio do PDT, eterno inimigo
do PT no Estado e um polo bolsonarista com o Deputado Luciano Zucco (PL)
articulado com P.Novo, com apoio do que sobrar do Centrão articulado ao
projeto nacional.
Independentemente de seu voto, que tal este cenário, lembrando que ele é
apenas um foto do momento, sempre sujeito às “mudanças climáticas”...
Nota – Os números relativos à preferência eleitoral colhidos em
www.gazetadopovo.com.br
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDITORIAL – FM Torres 15 jan. 2026– www.culturalfm.com
NÃO IMAGINAM O QUE SEJA UMA DITADURA. Milton Saldanha, Jorn.
Aquele bando de idiotas que acampou na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar, e depois foi quebrar as sedes dos 3 Poderes, em Brasília, no 8 de janeiro, nunca teve a menor ideia do que seja uma ditadura.
Ficaria aqui horas escrevendo sobre isso.
Mas só vou citar um detalhe: qualquer garoto, estudante, que fosse flagrado pichando um muro contra a ditadura, era conduzido a um centro de torturas.
Era assim e não estou exagerando.
O operário Olavo Hansen, chefe de família, foi preso, torturado e assassinado porque fazia panfletagem. Não tinha arma.
Observem o tamanho da violência. Panfletagem é um método de luta política dos mais inofensivos. Na maioria dos casos, coisa banal.
O pior dia da minha vida foi quando, com meu irmão, nos vimos seguidos pelo Doi-Codi pelas ruas de São Paulo e do ABC, onde éramos editores no Diário do Grande ABC.
Eles seguiam nosso pequeno Gordini com 4 ou 5 viaturas sem caracterização policial e faziam questão de se mostrar, num jogo de gato e rato, de uma covardia brutal.
O que fariam dois jornalistas, desarmados, contra jagunços urbanos com metralhadoras?
Nosso receio era o de ser metralhados na rua e depois bastaria a eles colocar alguma arma em nosso carro para simular um confronto. Ou talvez nem isso: sumiriam com os corpos, em algum dos cemitérios clandestinos onde enterravam suas vítimas.
Ao chegar no jornal reunimos a redação na sala do diretor Fausto Polesi e relatei o que estava acontecendo, com um aviso: “se a gente desaparecer, saibam todos que estaremos presos no Doi-Codi”. Como segurança era um fiapo, mas melhor do que nada.
Digo mais: era governo Médici, (1969-1974), o mais repressivo dos quatro generais da ditadura.
O que o ex-presidente agora preso por golpismo queria trazer de volta foi isso. Só que, uma vez ditador, seria pior do que os generais da ditadura, porque se trata de um completo boçal, cruel e vingativo.
Feliz do país que condena à prisão um criminoso desse naipe, para que sirva de exemplo e desencoraje novas aventuras golpistas. Uma praga que infelicita o Brasil desde a derrubada da monarquia.
Sem anistia! Sem redução de penas!
Milton Saldanha.
EDITORIAL – FM Torres 14 jan.2026– www.culturalfm.com
Cultural FM Torres – Informe
O Irã, segundo Prof. Marandi, sempre uma referência: https://www.youtube.com/watch?v=dFRO4bXzEQw
Irã. Por Marcelo Zero
https://paraiso-brasil.org/2026/01/13/ira-por-marcelo-zero/
É muito difícil saber, com precisão, o que está acontecendo, de fato, no Irã.
Como sempre, a mídia ocidental, fala na “sangrenta ditadura” do Irã e que centenas de pessoas já teriam sido mortas pela repressão do regime iraniano.
De outro lado, imagens difundidas no Ocidente mostram incêndios de carros e construções, e o regime acusa alguns grupos de manifestante de terem atirado e matado policiais iranianos.
O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, moderado e progressista, já fez vários apelos ao diálogo.
Nesse contexto nebuloso e contraditório, é preciso considerar que Israel e os EUA estão fortemente empenhados na derrubada do regime iraniano há muito tempo. Tanto o governo de Israel quanto o governo dos EUA têm capacidade de promover a chamada “guerra híbrida” e de articular e promover protestos, via redes sociais e a internet.
Embora o regime iraniano tenha derrubado a internet no país, os manifestantes estariam usando terminais da Starlink de Elon Musk para se articularem.
É claro que há um substrato real na insatisfação da sociedade iraniana, principalmente naqueles setores mais jovens e que vivem em grandes cidades, como Teerã, por exemplo.
Mas tal insatisfação não tem mais muito a ver com a promoção de valores tradicionais da sharia islâmica. Hoje em dia, por exemplo, a maioria das mulheres iranianas que vive nas grandes cidades não usa mais o hijab. O regime tonou-se bem mais permissivo, nesse aspecto.
A questão central é econômica.
Há de se observar que, desde 1979, o Irã tornou-se o país mais sancionado do mundo. Só perdeu esse “honroso” posto, após a Rússia ter feito a intervenção militar na Ucrânia, em 2022. Mas continua a ocupar um terrível e muito incômodo segundo lugar.
As dificuldades econômicas advindas, essencialmente, das sanções unilaterais dos Estados Unidos e de aliados, as quais restringem fortemente o acesso do Irã aos mercados internacionais e a consequente disponibilidade de moedas fortes, bem como congelam ativos iranianos em bancos no exterior, conformam um contexto de instabilidade política constante, que se agravou, nos últimos anos.
Somente entre 2012 e 2015, tais sanções teriam provocado um prejuízo acumulado de cerca de US$ 500 bilhões.
O ex-presidente reformista Hassan Rouhani, eleito em 2013 e reeleito em 2017, tinha conseguido reinserir parcialmente o Irã na comunidade internacional, mediante equacionamento do dossiê nuclear, com a assinatura do acordo sobre o programa nuclear iraniano (“Joint Comprehensive bserva Action” – JCPOA).
Mas Trump, desde o seu primeiro governo, adotou uma política de “pressão máxima” sobre o regime do Irã e retirou os EUA do JCPOA, em 2018. Desde então, a tensão vem aumentando, com o Irã, compreensivelmente, se retirando de seus compromissos e os EUA, por seu turno, apertando as sanções.
Os efeitos da pandemia, muito amplificados pelo isolamento do regime iraniano, foram devastadores no Irã. O Irã foi, inicialmente, um dos países mais atingidos, com mais de 7 milhões de casos registrados e mais de 145.000 mortos. Teve de desenvolver imunizantes próprios para conter, com sucesso, a pandemia.
Ademais, a tomada do poder pelo Talibã (força sunita) no vizinho Afeganistão, em agosto de 2021, agravou a pressão sobre os serviços públicos iranianos, que receberam contingente extra estimado em 2 milhões de refugiados, que se beneficiam de serviços básicos de saúde e educação.
As dificuldades na condução da política macroeconômica, o aumento do desemprego entre os jovens, a perda do poder de compra da classe média e o empobrecimento da população já estavam entre as causas dos protestos que eclodiram em setembro de 2022, logo após a morte, em custódia policial, da jovem curda Mahsa Amini.
Agora, não há dúvida de que os protestos são motivados substancialmente por uma inflação de 42% e pela desvalorização recente da moeda nacional, que repercute diretamente nos preços dos alimentos.
Apesar dos esforços para obter autossuficiência alimentar, o Irã, que tem apenas 11% do seu território de terras agricultáveis e que enfrenta uma seca de dois anos, ainda importa muitos alimentos essenciais, como trigo, arroz, laticínios e produtos para alimentação animal, como milho (importado, em grande parte, do Brasil). Cerca de 30% das importações do Irã são de alimentos.
Isso não significa que as manipulações feitas pelo governo de Netanyahu e pelo governo de Trump não estejam presentes.
A divulgação, como “alternativa de poder”, do filho de Reza Pahlevi, homônimo, um dos ditadores mais brutais que o mundo conheceu, representa uma tentativa canhestra e patética de derrubar o regime do Irã, apenas para fazer regredir, de novo, esse notável país de cultura milenar ao status de colônia dos EUA e do chamado Ocidente de um modo geral.
Lembre-se que o tenebroso Xá ascendeu ao poder, após os britânicos e os estadunidenses terem derrubado Mosaddegh, que havia nacionalizado, na década de 1950, as jazidas de petróleo iranianas. Os iranianos jamais esquecerão essa passagem trágica de sua história.
Não creio que vá funcionar. Assim como não teria funcionado uma reunião sigilosa no Itamaraty, entre o governo de Bolsonaro e o governo de Netanyahu, a qual teria sido realizada na gestão de Ernesto Araújo, com o objetivo de que o nosso país se somasse aos esforços para desestabilizar o Irã.
As manifestações não têm lideranças internas coesas e críveis e estão sendo conduzidas, em grande parte, por agendas externas, como a de Pahlevi.
Obviamente, Trump e Netanyahu não têm preocupação alguma com democracia e direitos humanos e nem com a crise econômica no Irã. Querem simplesmente derrubar um regime que é estratégico para o equilíbrio de forças no Grande Oriente Médio e que tem as terceiras maiores jazidas de petróleo e gás do mundo.
Diga-se de passagem, qualificar o regime iraniano como uma ditadura cruel representa uma visão um tanto simplória e reducionista do complexo regime político do Irã.
É verdade que a Constituição da República Islâmica do Irã, de 1979, consagrou o princípio da “tutela do jurisconsulto islâmico” (wilayat-e-faqih), que fundamenta a noção de autoridade absoluta do Líder Supremo (hoje, o Aiatolá Ali Khamenei), em assuntos religiosos e políticos.
Ao mesmo tempo, porém, ela consagrou alguns princípios democráticos. Prevendo eleições diretas para presidente, parlamentares e membros da Assembleia dos Sábios.
O Presidente da República, chefe do Poder Executivo, é responsável por elaborar e executar as políticas públicas e de relações exteriores e de defesa, nos limites das diretrizes impostas pelo Líder Supremo. Exerce a chefia do Gabinete de Governo, do Conselho Supremo de Segurança Nacional e do Conselho Supremo da Revolução Cultural.
Já o Parlamento iraniano (Majlis) é unicameral e composto por 290 deputados. As eleições para o Majlis ocorrem a cada quatro anos e, do total de assentos, cinco representam as minorias (judeus, zoroastras, cristãos armênios e cristãos caldeus).
Entretanto, toda candidatura ao Majlis é submetida ao crivo do Conselho dos Guardiães, órgão com poder de veto. O Majlis possui funções típicas de parlamento de uma democracia participativa – proposição legislativa, voto de confiança aos membros do Gabinete do Governo, impedimento do Presidente, aprovação de acordos internacionais –, sujeitas, não obstante, à ratificação ou ao veto do Conselho dos Guardiães.
Apesar dessa óbvia tutela religiosa, exercida basicamente pelo Líder Supremo e pelo Conselho de Guardiães, o Irã é bem mais democrático que as monarquias absolutistas sunitas dos países do Golfo Pérsico, que são, na realidade, regimes politicamente medievais. Tais regimes francamente ditatoriais não incomodam, contudo, o governo Trump, pois são aliados históricos dos EUA na região. As maiores bases militares dos EUA no Oriente Médio estão lá.
O regime iraniano ainda tem muito apoio nas cidades médias e pequenas e nas zonas rurais e semirrurais. Também tem apoio entre os mais pobres e as gerações mais velhas. A oposição está bastante concentrada em jovens de classe média que habitam nos grandes centros urbanos, especialmente na grande área metropolitana de Teerã.
A maior parte da população do Irã é totalmente avessa a pressões externas, principalmente as vindas dos EUA e de Israel.
Caso Trump e Israel decidam bombardear o Irã, como ameaçaram, boa parte da população cerrará fileiras para defender o regime.
Além disso, uma tentativa séria de derrubar o regime implicaria “boots on the ground”, uma ocupação terrestre maciça.
Seria um desastre. Um “atoleiro” muito pior que o do Iraque.
O Irã reúne, entre forças armadas e a Guarda Revolucionária, 530 mil homens na ativa, fora os reservistas, que somam 350 mil. Ao todo são, portanto, cerca de 880 mil homens fortemente armados que poderiam ser mobilizados no curto prazo. Além disso, o Irã dispõe de 40 milhões de homens aptos a combater.
Na realidade, o Irã tem o exército convencional mais poderoso do Grande Oriente Médio. O Irã é a quarta força mundial em termos de lançadores móveis de foguetes e a oitava, no que tange à artilharia convencional. Possui também 1.634 tanques de combate e 165 caças.
O Irã é um país chave para o domínio da Eurásia, o supercontinente cujo controle, como já previa Zbigniew Brzezinski em “O Grande Tabuleiro de Xadrez”, propiciará hegemonia na ordem mundial.
China e Rússia sabem disso.
A China depende bastante do petróleo e do gás do Irã e vem fazendo pesados investimentos naquele país. Os chineses, em contratos de centenas de bilhões de dólares, conseguiram acesso exclusivo a partes significativas dos campos de gás e óleo do Irã. Em contrapartida, prometeram investir na infraestrutura energética do país e, mais do que isso, comprometeram-se a defender essas áreas petrolíferas contra agressões estrangeiras, “como se fossem território chinês”.
O acesso a essas jazidas iranianas, complementado por uma rede de gasodutos, permitirá à China amenizar sua dependência energética e é fundamental para a sua estratégia de constituir uma nova rota da seda. O Irã, por sua vez, poderá bloquear o estreito de Ormuz, por onde passam os grandes petroleiros que vêm do Golfo Pérsico, sem que isso impacte as suas exportações.
Já a Rússia vê o Irã como um parceiro geopolítico muito importante no Oriente Médio. Com a recente e injustificada ofensiva da administração Trump contra o Irã, contrariando abertamente o texto do acordo Joint Comprehensive bserva Action, que colocou o programa nuclear iraniano sob controle dos EUA e Europa, em troca do levantamento das sanções, a Rússia aproximou-se muito do Irã. Em uma reunião entre Putin e Khamenei, realizada em novembro de 2022, o mandatário russo afirmou ao líder iraniano que a “Rússia não trairá o Irã”.
Há, portanto, muito em jogo. E o Irã não é a Venezuela ou o Panamá. Tem um longo histórico de resistência, que inclui uma terrível guerra com o Iraque, e cerca de 90 milhões de habitantes.
A crise iraniana tem de ser resolvida pelos iranianos, sem interferências externas e de forma pacífica. O Joint Comprehensive bserva Action tem de ser plenamente retomado e as sanções precisam ser levantadas.
“Isto também passará”. Afinal, até a terrível Savak passou. Mas o Irã soberano não vai passar. Permanecerá, ainda, por outros milênios.
EDITORIAL - FM Torres –13 jan.2026 www.culturalfm.com
Cenário desafiador - Após registrar os menores níveis de desemprego e informalidade da série histórica do IBGE, a economia brasileira deve desacelerar em 2026
Por André Luiz Passos Santos , Luiz Gonzaga Belluzzo , Murilo Tambasco e Nathan Caixeta
CARTA CAPITAL – 10 JAN -
Os dias que inauguram o ano costumam ser marcados pela proliferação de elaborados panegíricos proferidos por economistas e analistas financeiros, empenhados em delinear projeções acerca do cenário político-econômico do período vindouro, oscilando entre distintos matizes de otimismo e pessimismo. Neste artigo, pretendemos oferecer ao leitor uma apreciação rápida e ponderada das tendências em curso que conformam as perspectivas para o ano de 2026, bem como assinalar potenciais focos de tensão e pontos de inflexão no ambiente econômico-financeiro, os quais podem requerer atenção redobrada por parte dos agentes econômicos e dos formuladores de políticas públicas.
No contexto brasileiro, a conjuntura é cercada de perigos e incertezas. Por um lado, no período recente, o País registrou o menor nível de desemprego da série histórica, com taxa de 5,2%, e a menor informalidade, de 37,7%. Trata-se de resultados do acelerado crescimento da economia entre o início de 2023 e a metade do ano de 2024, proporcionado pela forte expansão do consumo e do setor de serviços, além da reposição e incremento do estoque de capital em vista da maior expectativa de demanda gerada pelo impulso fiscal no ano de 2023.
Por outro, os indicadores recentes de atividade econômica revelam tendência de desaceleração da economia. Essa orientação é puxada, sobretudo, pelo fraco desempenho do consumo privado e da indústria de transformação, o que poderá, em breve, desacelerar os investimentos e reduzir o crescimento dos empregos diante de uma expectativa de demanda que dá sinais de esgotamento e de uma taxa de juros que inviabiliza o lucro empresarial, além de elevar o endividamento das famílias e encarecer o custo de capital das empresas.
A inflação está em um dos patamares mais baixos desde o início do regime de metas, mas o Banco Central mantém a postura restritiva
Outro fator de destaque é a retração do impulso fiscal, conforme revela relatório da Secretaria de Política Econômica (SPE): após contribuir com 3,8% do PIB entre 2023 e 2024, o impulso tornou-se negativo em 2024/2025 (-2,84%), reforçando a desaceleração econômica. Ao contrário do que é frequentemente preconizado, o cenário reflete a combinação de políticas fiscal e monetária contracionistas. Soma-se a isso o caráter cíclico do crescimento brasileiro. Sem elevação sustentada da taxa de investimento e da participação da indústria de transformação – hoje no menor nível histórico em relação ao PIB –, não é plausível manter taxas de crescimento acima da média da última década. A estagnação desses dois vetores centrais limita ganhos de produtividade e condena a economia a ciclos curtos de expansão baseados no consumo ou nas exportações.
No debate recente, atribui-se a desaceleração ao risco fiscal, somada à suposta ineficácia da política monetária. Contudo, se as projeções se confirmarem, o governo Lula III encerrará o período com a menor inflação média desde o regime de metas, favorecida sobretudo pela valorização cambial ao longo de 2025. Ainda assim, o Banco Central mantém uma postura restritiva, condicionada por uma meta de inflação excessivamente baixa para nossos padrões históricos, adiando o afrouxamento monetário.
A combinação de juros elevados e câmbio apreciado, apesar de contribuir para o controle dos preços, é responsável pela ampliação do déficit em transações correntes, redução do superávit comercial e intensificação da remessa de lucros e dividendos ao exterior. Nesse contexto, o BC antecipa choques, eleva juros rapidamente e prolonga a restrição monetária, temendo a amplificação inflacionária via demanda e indexação.
Tal arranjo impõe elevado custo fiscal. Cada aumento de 1 ponto porcentual na taxa básica eleva os encargos da União em 0,49% do PIB. Atualmente, os juros consomem em torno de 7,8% do PIB e mais de 40% do orçamento federal, pressionando a trajetória da dívida. Historicamente, os juros nominais explicaram mais de 80% do crescimento da Dívida Líquida, enquanto o resultado primário teve contribuição limitada, exceto durante a pandemia.
Entre 2003 e 2014, crescimento econômico, expansão do gasto e superávits fiscais reduziram a dívida em proporção do PIB. O período posterior, marcado pela austeridade permanente, resultou em estagnação, déficits recorrentes e piora fiscal. Cortes sistemáticos de gastos comprimem renda, investimento, emprego e arrecadação, agravando as próprias contas públicas.
Embora o atual governo tenha se aproximado do déficit zero em 2025, persiste a pressão por um ajuste adicional de 3% a 4% do PIB, incluindo cortes em benefícios sociais e pisos constitucionais. Tal estratégia é economicamente regressiva e ameaça reverter avanços do mandato. Em contraste, a isenção do IR para rendas até 5 mil reais, acompanhada da tributação das altas rendas, representa vitória relevante para o crescimento da demanda e a redução da desigualdade.
O cenário internacional revela-se igualmente desafiador. Segundo projeções da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), embora a economia mundial tenha demonstrado relativa resiliência diante dos choques comerciais e financeiros recentes, a expansão global deve situar-se em torno de 3,2%, patamar insuficiente para sustentar um ciclo robusto de crescimento nas economias emergentes.
Preocupa sobremaneira a estagnação dos países desenvolvidos, que, mesmo após o fim dos ciclos de aperto monetário direcionados a combater o choque de oferta provocado pelas guerras na Rússia e no Oriente Médio, não chegaram a exibir o desempenho requerido para frear o processo de desindustrialização que acomete suas economias e a elevação do desemprego estrutural ligado ao avanço da indústria 4.0 sobre os setores industrial e de serviços.
No exterior, o avanço meteórico dos ativos de empresas de IA levanta dúvidas sobre a sustentabilidade financeira do setor
Outro ponto de atenção diz respeito às valorações de mercado e à concentração de risco no setor tecnológico dos EUA. O grupo de empresas denominado Magnificent Seven (Sete Magníficas) – formado por gigantes como Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla e Nvidia – alcançou uma capitalização conjunta que ultrapassa o Produto Interno Bruto de grandes economias, como a da União Europeia.
A valorização desses ativos, impulsionada por expectativas otimistas sobre IA e lucros futuros, levou os múltiplos a níveis elevados e remete a episódios de exuberância financeira marcados por concentração de ganhos e distanciamento dos fundamentos. No S&P 500, essas empresas já representam perto de 35% do índice, aumentando o risco sistêmico. Nos últimos cinco anos, enquanto o índice subiu 98,2%, as Sete Magníficas responderam por 57% do avanço, com crescimento agregado de 234,8%.
A valorização das ações norte-americanas já elevou o valor de mercado das empresas para em torno de 230% do PIB dos EUA, o dobro do nível pré-2008, enquanto os múltiplos de lucro se aproximam dos patamares observados antes da bolha dotcom e da Grande Crise. Paralelamente, o fortalecimento do ouro e a maior demanda por títulos públicos sinalizam um reposicionamento defensivo e aversão ao risco. Esse conjunto de fatores sustenta a preocupação com uma nova crise financeira internacional, potencialmente mais difícil de conter do que a anterior. •
*Sócios da BPCT Consultoria Econômica.
André Luiz Passos Santos
Economista, doutorando pelo Instituto de Economia da Unicamp.
Luiz Gonzaga Belluzzo
Economista e professor, consultor editorial de CartaCapital.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –12JAN.2026
www.culturalfm.com
O ACORDO MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA por PAULO TIMM
ACORDO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA, ERA RUIM, FICOU PIOR
dezembro 18, 2025 - https://red.org.br/noticias/acordo-mercosul-uniao-europeia-ja-era-ruim-e-ficou-pior/
Por PAULO NOGUEIRA BATISTA JR. e MANOEL CASADO*
*
A economia mundial vive momentos de grande turbulência, com
riscos cada vez mais alardeados de uma nova crise na bolha
financeira, sempre contestada com a resposta de que “desta
vez é diferente”, apesar de vários revezes desde os anos 70, da
queda do ritmo de crescimento das economias maduras, apenas
compensada pelo “milagres” da India, Irlanda e Indonésia –
quem diria?- , e das incertezas no comércio mundial, força
motriz, desde sempre, do desenvolvimento das nações,
provocadas, em grande parte pelo Presidente Donald Trump.
Desponta, neste cenário, a aprovação pela União Europeia, com
o voto contrário da França, da Hungria, Bélgica e outros países
de menor expressão, do ACORDO MERCOSUL / União Europeia.
O texto, que ainda depende de aval dos parlamentos dos
respectivos países da cada bloco e de regulamentações
complementares, prevê a eliminação gradual de tarifas sobre
cerca de 91% do comércio entre os blocos e pode ampliar o
acesso de produtos brasileiros, especialmente do agronegócio,
ao mercado europeu.
“A União Europeia (UE) é uma união política e econômica única
de 27 países europeus que trabalham juntos para promover a
paz, estabilidade e prosperidade, com um mercado comum,
moeda única (o Euro, para muitos membros) e leis
harmonizadas, atuando como um bloco influente no cenário
global através de instituições supranacionais. Ela surgiu do pós-
Segunda Guerra Mundial para evitar futuros conflitos,
começando com a Comunidade Europeia do Carvão e do
Aço (CECA) em 1951 e evoluindo para a entidade atual. “
O Mercosul, concebido no Governo Sarney e fundado em 26 de
março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, é um
acordo comercial, visando fixar uma tarifa comum entre os
participantes, como ponto de partida para novos horizontes
econômicos, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai; Venezuela ingressou mas foi suspensa por razões
políticas, apesar dos fortes apelos de sua representante, atual
Presidente Interina do pais, indignada com esta decisão. Há,
também, países associados: Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e
Equador. Ultimamente, em decorrência da polarização política
no interior do bloco, o Mercosul vem perdendo seu apelo como
importante veículo de incremento do comércio regional.
Argentina se articula cada vez mais como associada dos
Estados Unidos. Uruguai, no governo anterior, esteve prestes a
firmar acordo bilateral com a China.
A aprovação do Acordo MERCOSUL-União Europeia pode,
porém, redinamizar o grupo, apesar das fortes controvérsias
que ainda cercam sua implementação, crivada de salvaguardas,
registradas sobretudo pela França e Bélgica com vistas à
garantia de seus produtores agrícolas. No Brasil, a esquerda,
sempre contestadora da política de liberação do comércio, na
defesa de mecanismo de proteção à indústria nacional, agora,
com Lula na vanguarda do multilateralismo e da liberação do
comércio mundial, procura afinar-se com a palavra
presidencial. “Em um cenário de crescente protecionismo e
unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do
comércio internacional como fator para o crescimento
econômico, com benefícios para os dois blocos”, comemorou o
presidente Lula. Uma voz dissonante na esquerda é o
Economista Paulo Nogueira Jr, ocupante de importantes
posições no FMI e no Banco BRICS, hoje independente. Teme
ele que o Acordo destrua todos os esforços pela
reindustrialização no país. Aqui no Rio Grande do Sul, onde já
vimos a desmontagem do polo calçadista, enfrentaremos graves
problemas diante da concorrência com os vinhos e chocolates
europeus. Já a direita, pouco festeja o Acordo para não encher
a bola de Lula na campanha eleitoral já em curso neste ano.
Não obstante, será sua base do Agro a principal beneficiária
deste Acordo pois terá acesso, doravante, com vantagens
competitivas inequívocas a um mercado de alto poder aquisitivo
na ordem de 450 milhões de consumidores, no contexto
regional global de um PIB de US$ 22,4 trilhões e um mercado
de 718 milhões de consumidores, incluída a União Europeia e o
Mercosul . Será, enfim, a maior zona de livre-comércio do
mundo. O fechamento das negociações que se arrastaram por
mais de 25 anos, ocorreu ontem, quando houve aprovação pelo
Conselho Europeu e deverá ter seu desfecho no próximo dia 17,
no Paraguai, com a presença de líderes dos dois blocos. Na
prática, haverá menos entraves burocráticos e regras mais
simples para exportações e importações entre os 27 países da
UE e Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
Independente dos resultados no futuro, Lula celebra com
grande euforia a aprovação do Acordo pelo qual ele tanto se
empenhou, sempre destacando que ele garantiu o desfecho de
um processo que já se arrastava há mais de 25 anos. Agora, é
ver no que vai dar.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres 09 JAN.2026–
Folia de Reis ( em tempo)
A trupe dobrou a última curva. Já não se via o palhaço, nem o passo dos jovens foliões. Só o eco do canto persistia, espalhando-se pela noite como se quisesse costurar cada vazio, cada medo, cada esperança. Um canto novo anunciava, no seu modo simples, que a dor não terá a última palavra
OutrasPalavras
Por Célio Turino
Publicado 19/12/2025 às 17:09 - Atualizado 19/12/2025 às 17:12Parte inferior do formulário
Como quem ajeita um véu antes da celebração, a noite se armava devagar. No bairro, que já vira procissão, velório, mutirão e festa, as famílias se preparavam para receber a Folia de Reis. O Natal estava a chegar.
Os vizinhos escolheram a casa de dona Sil para a recepção ao cortejo. Mulher católica, generosa e sorridente, por onde passava distribuía esperança, também valentia. Dias antes ela arrumara a casa com o rigor de quem sabe que rito não combina com improviso. Varreu cada cômodo, a frente e o quintal, montou o presépio e acendeu vela ao lado. Antes da chegada da folia passou pano úmido no Menino Jesus que teimava em acumular poeira, como se quisesse lembrar que nascera do chão do mundo.
As crianças corriam pela calçada e os vizinhos iam achegando. Nem tanto por convite, mas pelo chamado íntimo que aquele momento desperta. Há festas que não se anunciam, apenas se pressentem. Essa, se pressentia. A Folia viria de longe. De um Ponto de Cultura do Vale do Paraíba, que juntava tradição e infância, brincadeiras e reflexões.
Pela estrada antiga, entre as árvores e o riacho, era possível auscultar as pessoas ensaiando passos sobre o pó que se ergue da terra batida. À frente, o bandeireiro, homem magro, olhar firme. Carregava a Bandeira dos Santos Reis como quem conduz uma memória do mundo. Era o único que se avistava. Havia um olhar solene saído daquele homem negro, trabalhador do campo, era um olhar que anunciava que aquela bandeira não pertencia só a ele. O marido de dona Sil desceu a rua para recebe-los com reverência.
As fitas tremulavam, era um vento leve que se somava à respiração coletiva dos foliões. As casas também estavam enfeitadas com fitas azuis, vermelho e amarela. Logo atrás da bandeira vinha o Mestre. Violeiro de viola gasta, tocava um instrumento que parecia trazer ainda o cheiro das manhãs do pé da serra da Mantiqueira em uma mistura entre café torrado, capim-cidreira, pinhão e terra molhada. Ele puxava o tom, modulava o compasso. E a cada nota abria a noite como se fosse clarão de estrela.
O Embaixador, responsável pelo verso de chegada, ensaiava baixinho as rimas da procissão. Capa amarela, selecionava as palavras como quem escolhe sementes para o plantio. O Contramestre, encarregado de responder o canto, vinha logo a seguir. Ao fundo, os foliões jovens, aprendizes de uma tradição que se transmite menos por livros e mais por convivência, suor e fé.
– Convivência ‘Bem’ suada! – brincou com as palavras o palhaço. Como que a dizer que bendição vem junto com suor e esforço. Meio bufão, meio penitente, rosto pintado e roupas remendadas, era ele quem provocava animação, riso e desordem. Desordem intencionalmente provocada para que dela surgisse a ordem verdadeira, aquela que arranca a tristeza da alma como quem extrai do pé uma farpa.
Antes de dobrar a curva da rua, o grupo se reuniu numa pequena roda. O Mestre pede atenção. Deram-se as mãos e rezaram.
Após a oração ajustaram o estandarte. Prenderam uma fita solta. E o Mestre afinou mais uma vez a viola. Então começaram o “ponto de entrada” que subiu pela estrada. Como uma prece:
“Caminhemos com firmeza,
que esta noite é de luz e chão.
Pelos Reis, pela pobreza,
pela força da canção.”
Canto simples, mas firme. Cada voz ecoava a biografia do povo: o agricultor sem-terra, o operário sem trabalho, demitido na última crise e que vendia café com pão nas madrugadas, a costureira que havia perdido o marido para a violência, o rapaz que sonhava em deixar o país, mas permanecia porque ainda acreditava no sentido de sua gente. Cantaram todos. Cantando adentraram na rua íngreme.
Ao avistá-los, as crianças se alvoroçaram e os adultos se levantaram. Havia uma reverência festiva com o cortejo. A Folia foi passando na frente das casas entre cumprimentos e sorrisos, até que para na frente da casa de Dona Sil. O Embaixador pede licença:
“-Oh senhora dona da casa
pedimos agora entrada
com humildade e respeito,
não trazemos ouro nem prata,
mas trazemos canto no peito.”
A família descerra uma fita e abre a porta. O cortejo adentra. Com reverência a gente da Folia de Reis apresenta a bandeira diante do presépio. O Mestre afina o tom. O Contramestre responde. E o palhaço distrai as crianças para que os adultos pudessem rezar sem lágrimas ostensivas.
As famílias cantaram pelas almas e pelos presentes, cada qual com sua dor e memória. À dona Elza, seu Oswaldo e Mariquinha, à filha de uma amiga que desapareceu, às filhas Mariana e Carolina, aos netos Beatriz e Pedro, aos irmãos, sobrinhos, amigos. Cada família cantou sua canção com a voz que sai do coração. Aquela que não precisa ultrapassar a boca. Foi um canto silencioso, de lembrança e amor pelos que partiram e pelos que aqui estão.
E então. Diante do Menino de barro, a Folia cantou seu ponto mais antigo. O verso parecia recitar o drama de um mundo inteiro:
“Noite nasce entre ruínas,
há crianças sem abrigo,
o caminho dos Reis clama
por quem vaga sem destino”
O Mestre, num gesto raro, fez pausa no canto. Começou a falar, não em tom de discurso, mas em confidência de quem conhece as dores do mundo:
– Se Belém fosse hoje, meus irmãos, talvez estivesse sob escombros. Talvez Maria batesse de porta em porta em Gaza e José procurasse refúgio nas ruínas. Talvez os Reis viessem a pé, desviando de cercas e minas. Talvez o Menino nascesse no deserto, entre barracas de lona.
Ninguém respondeu. Não era preciso. Cada pensamento trazia consigo a lembrança dos imigrantes atravessando rios, dos que dormem em abrigos frios, dos que fogem da guerra que nunca escolheram. As cantorias retomadas, porém, não se afogavam na dor. Cantava-se como uma contramaré que é gesto de resistência. A cada estrofe afirmava-se a possibilidade de outro mundo.
O palhaço, percebendo o peso da responsabilidade, entrou em cena. Fez suas palhaçadas, tropeçou de propósito, fingiu brigar com o pandeiro. A criançada explodiu em riso. Os adultos sorriram também. Deram-se as mãos. Após a bênção, o riso; após a fé, a humanidade. Aí estava a sabedoria profunda.
Chegou então o momento da reza final.
Todos se ajoelharam diante do presépio.
Dona Sil segurou a bandeira enquanto o Mestre rezava. Rezava por quem passa fome, por quem perdeu trabalho, por quem vive à beira de enchentes e incêndios, pelas vítimas do colapso climático que chega cada vez mais depressa. Na reza, pediram pelos povos que lutam contra guerras sem sentido. Pediram por Gaza, Ucrânia, Congo, Haiti. Rezaram pelo Haiti e pelos que moram aqui. Pediram pelos que caminham rumo a fronteiras hostis e também por aquela rua simples.
Continuaram firmes no propósito de reverenciar o Menino Jesus e de ser abrigo. Quando a reza terminou a família convidou todos os presentes para se servirem à mesa. Havia arroz de carreteiro, cuscuz fumegante, frango ensopado, pão caseiro, café forte, doce de abóbora, broa de milho e suco de amora. A comida não era muita, mas oferecida com a generosidade de quem sabe que partilhar é o início de qualquer transformação. Foi a suficiente.
Foliões e vizinhos comeram juntos. Juntos trocaram lembranças e pequenas esperanças. E foi ali, entre pratos simples e vozes misturadas, que se reconheceram na essência.
Folia de Reis não é rito, é crítica e transformação, encontro e reverência, memória viva que caminha. Na Cultura Popular, pelo rito e a tradição, se faz a denuncia das dores do mundo. Não pelo que destrói, mas pela beleza que afirma, pela comunidade que convoca, pela fraternidade que se realiza de maneira concreta.
O grupo se despede.
A rua parecia outra. Como se a noite tivesse ganhado um gesto de respiração mais lento. Os vizinhos demoraram a ir embora, presos a uma vontade muda de prolongar o instante. Na frente da casa, vendo a Folia seguir caminho, seguravam nos olhos a última claridade antes que a vida voltasse a endurecer.
Algo firme sustentou o ar daquela noite. Era uma chama pequena, porém teimosa, acesa no fundo do peito de cada morador. A Folia foi ajeitando o compasso, como quem recolhe o que é sagrado para seguir viagem. E o Mestre deu um último aceno. O palhaço recolheu suas graças. O Embaixador guardou o caderno de versos.
A Bandeira novamente à frente.
E a Folia mais uma vez partia sem dizer qualquer palavra. Caminharam. Primeiro devagar. Passos marcando o chão de terra. Depois a cantoria foi começando novamente, baixinho. Iriam a outra rua, outro lugar, outra casa. Os moradores à frente da casa deixada para trás ouviam aquele canto lento, rouco de noite. E ali, imóveis, observaram o cortejo que se afastava.
A poeira levantada pela procissão fez um véu sobre a estrada. As fitas da Bandeira ainda tremulavam. E som da viola, antes tão perto, virou acorde distante. Por um breve momento pareceu que toda a tristeza do mundo iria dissipar-se com a saída do cortejo. Mas não, algo mais forte permaneceu. Ficou a coragem miúda, dessas que só o povo sabe fabricar quando canta.
A Folia dobrou a última curva. Já não se via o palhaço, nem o passo dos jovens foliões. Só o eco do canto persistia, espalhando-se pela noite como se quisesse costurar cada nova casa, cada vazio, cada medo, cada esperança. Um canto novo anunciava, no seu modo simples, que a dor não terá a última palavra.
Quando enfim desapareceram, ninguém teve coragem de falar. A estrada ficou escura outra vez. Mas a escuridão já não parecia tão pesada. No silêncio, sem precisar explicar, cada morador sentia que enquanto houver quem cante pela dignidade do mundo, a esperança seguirá caminhando, mesmo que por estradas tortuosas e longas.
E ali, naquela curva, onde a Folia se perdeu e a poeira demorou a baixar, quem prestasse bastante atenção ouviria o que ela ainda murmurava, muito baixinho:
“ainda estamos aqui… e ainda não desistimos”.
Os vizinhos voltaram para suas casas.
Houve algo firme naquela noite atravessada pela poeira. Dali alguns dias seria Natal mais uma vez. Não um Natal de promessas fáceis, nem de redenções instantâneas. Seria Natal porque o mundo, apesar de tudo, seguiria insistindo em nascer. Porque alguém varreria o quintal antes do sol alto. Porque outra mesa seria posta, ainda que simples. Porque uma bandeira, em algum ponto da estrada, continuaria sendo erguida como quem se recusa a esquecer.
A Folia já estaria longe. Talvez entrando noutra rua. Talvez enfrentando outra noite. Mas o que havia passado por aquela rua não se desfez com a poeira. Ficou no modo como as pessoas se reconheceram umas nas outras. Ficou na coragem compartilhada, essa matéria invisível que sustenta os dias quando tudo parece escasso e duro.
Natal, então, não era data, era prática. Natal existe enquanto houver quem cante junto, quem abra a porta, quem transforme memória em gesto, fé em abrigo. Enquanto houver esses que fazem, o nascimento seguirá acontecendo. Humilde, discreto, frágil, e, por isso mesmo, irrecusável. Natal é decisão cotidiana de permanecer humano num mundo que frequentemente desumaniza.
Daquele encontro nasceu um pequeno poema que um vizinho escreveu:
Auto breve para um Natal que caminha
Não nasceu em palácio,
nasceu na dobra do chão.
Não trouxe cetro nem coroa,
trouxe o peso da condição.
Três Reis não vieram de ouro,
vieram de estrada e poeira,
um trazia canto,
outro trazia riso,
o terceiro trazia espera.
E o Menino,
sem falar,
ensinou:
que o mundo se salva
não por indiferença,
mas por amor,
não por milagre,
mas por insistência.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres 08 JAN.2026–
Somos mestiços mesmo nos declarando negros. Uma resposta necessária a Muniz Sodré - Paulo Baía -= FB 7 jan
Assino este ensaio como sociólogo que pensa o Brasil a partir de suas fraturas históricas, de suas ambiguidades raciais e de suas promessas não cumpridas. O artigo de Muniz Sodré, “Ninguém aqui é mestiço”, é intelectualmente sofisticado, provocador e coerente com uma tradição crítica que denuncia o uso ideológico da raça como instrumento de dominação. No entanto, justamente por sua força, exige resposta. Não para negá-lo, mas para tensioná-lo. Não para refutá-lo, mas para recolocar o problema no terreno histórico, sociológico e político em que ele se constitui.
Começo por uma concordância fundamental. Raça não existe como dado biológico. É uma ficção histórica mobilizada pelo poder. A crítica de Sodré à naturalização da mestiçagem como mistura de raças é correta. Também é correta sua denúncia do luso-tropicalismo e da romantização freyriana da violência colonial. Darcy Ribeiro, aliás, já havia feito essa crítica com clareza exemplar. Nunca houve cordialidade fundadora. Houve estupro, genocídio, escravidão e dominação. A mestiçagem brasileira nasce do trauma, não da conciliação.
O ponto de divergência surge quando Sodré conclui que, por ser a raça uma ficção, o mestiço também o seria. Aqui, o argumento escorrega. Não porque a mestiçagem seja biológica, mas porque ela é histórica, social, cultural e política. Darcy Ribeiro jamais tratou o mestiço como categoria racial. O mestiço, em sua obra, é uma condição civilizatória. É o resultado de um processo violento de etnogênese. É um sujeito histórico produzido pela destruição de povos originários, pela escravidão africana e pela imposição de um modelo colonial de sociedade.
Negar a existência do mestiço como experiência social concreta equivale a apagar uma das formas centrais pelas quais o racismo opera no Brasil. Aqui, o preconceito não se organiza apenas pela oposição branco versus negro, mas por uma hierarquia cromática sofisticada, sinuosa e móvel. O pardo não é um artifício estatístico vazio. É um lugar social instável, ambíguo, atravessado por exclusões específicas. O IBGE não inventou o pardo. Ele registrou uma autodeclaração que corresponde a vivências reais de milhões de brasileiros.
Quando Sodré afirma que negro é pertencimento político-existencial, ele está correto. Mas isso não elimina o fato de que muitos sujeitos vivem uma experiência racializada que não se reconhece integralmente nem no polo da branquitude, nem no da negritude política organizada. Esses sujeitos existem. Trabalham. Sofrem discriminação. Morrem mais cedo. Recebem menos. São abordados pela polícia. E, ao mesmo tempo, são frequentemente interpelados como não negros o suficiente para falar, para reivindicar, para pertencer.
É nesse ponto que emerge o debate contemporâneo sobre Parditude. Não como identidade racial biológica. Não como substituição da luta negra. Mas como linguagem crítica de uma experiência silenciada. O movimento Parditude, articulado intelectualmente por Beatriz Bueno, não reivindica uma raça parda. Reivindica o direito de nomear uma vivência histórica específica produzida pela lógica colonial brasileira. A Parditude não nega a negritude. Ela revela zonas de fratura dentro da racialização.
Afirmar que ninguém é mestiço pode soar libertador no plano conceitual. No plano social, porém, pode operar como nova forma de apagamento. O mestiço de Darcy Ribeiro não é uma carapuça literária. É o povo que construiu o Brasil e foi sistematicamente excluído do poder. É o caboclo, o sertanejo, o crioulo, o caipira. É a base material da nação e o alvo permanente do desprezo das elites brancas.
O erro histórico das classes dominantes brasileiras não foi reconhecer a mestiçagem, mas instrumentalizá-la para negar o racismo. O erro político contemporâneo seria jogar fora o conceito de mestiçagem junto com sua manipulação ideológica. O desafio é outro. É disputar o sentido da mestiçagem. Retirá-la do mito e recolocá-la no conflito.
Somos mestiços mesmo nos declarando negros porque a negritude no Brasil não elimina a história da mistura forçada, da violência sexual colonial e da diluição identitária imposta. Declarar-se negro é um ato político necessário. Mas isso não apaga a memória social da mestiçagem nem as marcas específicas que ela imprime nos corpos, nos territórios e nas trajetórias.
O Brasil não é uma sociedade binária. É uma sociedade de gradações, de zonas cinzentas e de classificações móveis. O racismo brasileiro opera por ambiguidade. Por isso mesmo, exige categorias analíticas capazes de dar conta dessa complexidade. A Parditude, nesse sentido, não é um retrocesso. É sintoma. É resposta. É tentativa de elaboração coletiva de uma ferida histórica que nunca foi tratada com honestidade.
Darcy Ribeiro apostava no povo mestiço como potência civilizatória. Não por ingenuidade, mas por rigor sociológico. O problema do Brasil nunca foi o povo. Foi a elite que se recusou a reconhecê-lo como sujeito histórico. Muniz Sodré tem razão ao denunciar a farsa da raça. Mas é preciso cuidado para não transformar essa crítica em nova abstração que desconsidera experiências concretas de subalternização.
O que está em jogo não é afirmar uma identidade parda como essência. É reconhecer que a luta antirracista no Brasil precisa lidar com a especificidade de um país formado pela mistura violenta, pela negação da origem e pela hierarquização da cor. Ignorar isso é importar modelos analíticos que não dão conta da nossa formação social.
Somos mestiços mesmo nos declarando negros porque a mestiçagem não é escolha individual. É herança histórica. É estrutura. É marca social. E, enquanto ela continuar organizando desigualdades, silenciamentos e exclusões, continuará exigindo nome, análise e disputa política. Não para dividir, mas para compreender. Não para enfraquecer a luta negra, mas para torná-la mais complexa, mais honesta e mais enraizada na realidade brasileira.
Assumo, portanto, esta resposta como parte de um debate necessário. O Brasil não será explicado nem transformado pela negação de suas contradições, mas pela coragem de enfrentá-las com rigor intelectual e compromisso político.
- Sociólogo, cientista político, ensaísta e professor da UFRJ
EDITORIAL -CULTURAL FM Torres 06 JAN.2026–
Discurso do Emb. Sergio Danese, representante do Brasil, no Conselho de Segurança da ONU – 5 jan 26
Senhor Presidente,
O Brasil agradece à Presidência somali pela convocação desta sessão de emergência do Conselho de Segurança.
O Brasil rejeita de maneira categórica e com a maior firmeza a intervenção armada em território venezuelano, em flagrante violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional.
Os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos constituem uma gravíssima afronta à soberania da Venezuela e estabelecem um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.
A Carta das Nações Unidas estabelece, como pilar da ordem internacional, a proibição do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, salvo nas circunstâncias estritamente previstas nela própria.
A aceitação de ações dessa natureza conduziria inexoravelmente a um cenário marcado pela violência, pela desordem e pela erosão do multilateralismo, em detrimento do direito e das instituições internacionais.
Os efeitos do enfraquecimento dos mecanismos de governança e cooperação internacionais já são evidentes: o número recorde, desde a Segunda Guerra Mundial, de 61 conflitos armados ativos; a cifra sem precedentes de 117 milhões de pessoas em situação de catástrofe humanitária em todo o mundo, refletindo o aumento de guerras, deslocamentos e crimes contra a humanidade, como o genocídio em Gaza; e o incremento global dos gastos militares, que se aproxima da marca histórica de 2,7 trilhões de dólares.
Tal como o Brasil tem sustentado reiteradamente, as normas que regem a convivência entre os Estados são obrigatórias e universais. Não admitem exceções baseadas em interesses ou projetos ideológicos, geopolíticos, políticos, econômicos ou de qualquer outra natureza. Não admitem que a exploração de recursos naturais ou econômicos justifique o uso da força ou a mudança ilegal de um governo.
Um mundo multipolar do século XXI, que deve promover a paz e a prosperidade, não se confunde com áreas de influência.
Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Esse raciocínio carece de legitimidade e abre a possibilidade de outorgar aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, e até mesmo de ignorar as soberanias nacionais, impondo as decisões que os mais fracos devem tomar.
A América Latina e o Caribe fizeram da paz uma escolha consciente, duradoura e irreversível.
O recurso à força em nossa região evoca capítulos da história que acreditávamos superados e coloca em risco o esforço coletivo para preservar a região como uma zona de paz e cooperação, livre de conflitos armados, que respeita o direito internacional e o princípio da não intervenção.
As intervenções armadas do passado tiveram consequências profundamente negativas e duradouras. Ao contrário da liberdade e da democracia, essas intervenções produziram regimes autoritários, graves violações dos direitos humanos, deixando como saldo lamentável milhares de mortos, presos políticos, torturados e pessoas desaparecidas, cujos familiares ainda hoje buscam seus entes queridos, além de justiça e reparação.
Pela primeira vez na América do Sul, ocorreu um fato profundamente alarmante: uma agressão armada externa, com o deslocamento de tropas e bombardeios em um país vizinho direto do Brasil, com o qual compartilhamos mais de dois mil quilômetros de fronteira.
Senhor Presidente,
A América do Sul é uma zona de paz, insisto.
Temos sustentado e continuaremos a sustentar com toda determinação a paz e a não intervenção em nosso entorno.
Além disso, o Brasil não acredita que a solução da situação na Venezuela passe pela criação de protetorados no país, mas sim por soluções que respeitem a autodeterminação do povo venezuelano, no marco de sua constituição.
Os eventos de 3 de janeiro transcendem o âmbito regional. O atentado contra a soberania de qualquer país, independentemente da orientação de seu governo, afeta toda a comunidade internacional.
Este e outros casos de intervenção armada contra a soberania de um país, sua integridade territorial ou suas instituições devem ser condenados com veemência. Cabe a este Conselho assumir sua responsabilidade e reagir com determinação, clareza e apego ao direito internacional, a fim de evitar que a lei da força prevaleça sobre a força da lei.
O Brasil confia que o futuro da Venezuela deve ser construído pelo povo venezuelano, por meio do diálogo, sem ingerências externas e no marco do direito internacional.
Muito obrigado!
EDITORIAL - CULTURAL FM Torres –02 JAN. 2026
A economia política do atraso brasileiro
Henrique Morrone - Prof. Associado da UFRGS
Livro de Carlos Paiva é uma das análises mais consistentes e
incômodas sobre o Brasil recente
O livro A Economia Política do Atraso: A Fragmentação do
Estado, o Plano Real e a Industrialização Brasileira, lançado em
2025 por Carlos Paiva, é uma das análises mais consistentes e
incômodas sobre o Brasil recente. Trata-se de uma obra de
economia política no sentido forte do termo: aquela que não
separa números de poder, política econômica de interesses e
resultados macroeconômicos de estruturas institucionais.
Paiva, economista e doutor pela Unicamp, mobiliza história
econômica, teoria econômica e ciência política para dissecar o
que chama — sem rodeios — de atraso brasileiro. O livro
percorre tanto os grandes agregados macroeconômicos quanto
aspectos mais estruturais e institucionais, algo ainda raro no
debate econômico nacional. E faz isso em linguagem clara, bem
escrita, sem o pedantismo que costuma afastar o leitor não
especializado.
A obra está organizada em duas grandes partes e onze
capítulos, mas o cerne do argumento já está anunciado no
subtítulo: a fragmentação do Estado, o Plano Real e a
desindustrialização brasileira. Paiva parte de uma constatação
simples, mas decisiva. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu
rapidamente, impulsionado pela indústria. A partir dos anos
1980, o crescimento desaba — e a indústria passa de motor a
freio do desenvolvimento.
A pergunta central é óbvia: o que mudou?
Para o autor, uma parte crucial da resposta está na perda de
capacidade do Estado — especialmente do Poder Executivo —
de coordenar políticas de desenvolvimento. A crise da dívida
externa e a redemocratização ampliaram direitos e
fortaleceram instituições, mas também fragmentaram o poder
decisório. Legislativo e Judiciário ganharam protagonismo,
enquanto o Executivo perdeu margem de manobra para conduzir
políticas fiscais, monetárias e industriais de longo prazo.
Os governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso
aparecem como momentos decisivos nesse processo. O amplo
programa de privatizações e a redefinição do papel do Estado
reduziram ainda mais os instrumentos disponíveis para uma
estratégia de desenvolvimento. O Plano Real, reconhecidamente
bem-sucedido no combate à inflação crônica, é tratado por
Paiva com mais ambivalência. O controle inflacionário veio
acompanhado de uma âncora cambial baseada em juros
elevados e entrada de capitais financeiros, o que manteve o real
valorizado.
Na prática, explica o autor, o câmbio apreciado barateia
importações e ajuda a conter a inflação dos bens
comercializáveis. O problema é que ele pouco afeta a inflação
dos serviços e dos preços administrados — justamente onde se
concentra boa parte da dinâmica inflacionária brasileira.
Mesmo após a adoção do regime de metas de inflação, em
1999, o mecanismo central permaneceu o mesmo: juros altos
para atrair capital, apreciar o câmbio e conter preços.
O custo dessa estratégia foi elevado. A indústria, que depende
da construção deliberada de vantagens competitivas, perdeu
espaço. Já setores com vantagens comparativas naturais, como
o agronegócio, sofreram menos. O resultado foi um processo
persistente de desindustrialização, baixo crescimento e uma
economia cada vez mais dependente de commodities e
finanças.
Paiva argumenta que o sucesso inicial do Plano Real esteve
fortemente condicionado ao ambiente internacional favorável,
marcado por alta liquidez. A herança deixada, no entanto, foi
perversa: crescimento medíocre, estrutura produtiva fragilizada
e inflação que, apesar de controlada, segue elevada e
frequentemente acima das metas oficiais.
A saída, segundo o autor, passa necessariamente por uma
política de depreciação cambial que recoloque a indústria no
centro da estratégia de desenvolvimento. Isso exigiria juros
mais baixos — e, inevitavelmente, alguma pressão inflacionária
sobre os bens comercializáveis. Para Paiva, esse efeito poderia
ser compensado por políticas mais eficazes sobre preços
administrados e serviços, um tema que, segundo ele, recebe
atenção insuficiente no debate econômico brasileiro.
O livro não é isento de controvérsias. Paiva tende a minimizar o
papel de comportamentos empresariais oportunistas ou
excessivamente avessos ao risco em ambientes institucionais
que favorecem ganhos financeiros de curto prazo. Além disso, a
obra poderia dialogar mais diretamente com a dinâmica da taxa
de lucro e com a relação entre investimento e crescimento
econômico. Ainda assim, essas limitações não comprometem a
força do diagnóstico.
A Economia Política do Atraso é um livro incômodo porque
desloca o debate. Em vez de culpar indivíduos, governos
específicos ou supostas falhas morais, Paiva aponta para
estruturas, preços macroeconômicos e instituições. Em
economia política, raramente há um único culpado. Como diria
Agatha Christie, todos os suspeitos participaram do crime —
ainda que alguns tenham tido papel mais decisivo do que
outros. (Publicado por Sul 21)
LINK PARA EMBUTIR => https://sul21.com.br/opiniao/2025/12/a-
economia-politica-do-atraso-brasileiro-por-henrique-morrone/
EDITORIAL - CULTURAL FM Torres –30 DEZ.2025
www.culturalfm.com
Julio Benchimol Pinto FBook 29 dezembro
ntrdeopSos33696f6i2mafi8tul0mh42a13i3g33ll6im6u05lgi17375
4 l ·
Jornalismo investigativo não é tribunal. Mas também não é
fofoca com crachá.
Dá pra publicar antes da prova final? Dá. Dá pra publicar sem
prova nenhuma? Não.
O que pode: noticiar que há uma denúncia, dizer quem acusa,
explicar o que se sabe e o que ainda não se sabe, deixar claro
que não há comprovação, abrir investigação jornalística sem
fechar sentença. Isso é jornalismo.
O que não pode: tratar suspeita como fato, usar fonte em off
como se fosse prova, escrever como se o crime já estivesse
dado, empurrar o ônus da prova para o acusado, construir
manchete que já condena. Isso não é jornalismo. É linchamento
narrativo.
A Escola Base não foi um erro porque se publicou cedo. Foi um
erro porque se publicou como verdade aquilo que não estava
provado. A manchete matou reputações antes que qualquer fato
existisse. E quando a verdade apareceu, já era tarde.
O Watergate foi o oposto. As reportagens vieram antes da
Justiça, sim. Mas cada passo vinha sustentado por fatos
verificáveis, documentos, checagem cruzada. A imprensa não
condenou: investigou. A Justiça confirmou depois.
A diferença é simples e brutal: no mau jornalismo, a narrativa
antecede os fatos; no bom jornalismo, os fatos conduzem a
narrativa.
Manchete pode vir antes da sentença. O que não pode é a
sentença vir na manchete.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beta Bastos
@roberta_bastoss
Resumo detalhado da coluna de Malu Gaspar (O Globo)
No novo texto, Malu Gaspar revê a narrativa construída em
colunas anteriores sobre o caso envolvendo o Banco Master e a
atuação do Banco Central do Brasil.
Diferentemente do que havia sido sugerido antes, a jornalista
afirma agora que Alexandre de Moraes não exerceu “pressão”
sobre o presidente do BC, Gabriel Galípolo.
Esse ponto representa um recuo relevante, porque em colunas
anteriores ela havia relatado a existência de telefonemas e
descrito esses contatos como indícios de pressão indevida do
ministro do STF sobre o comando do Banco Central.
No novo texto, porém, essa versão é abandonada. Moraes passa
a ser descrito como alguém que defendeu a apuração dos fatos,
e não como agente de interferência.
Ao reconhecer que não houve pressão, a coluna esvazia a
acusação mais grave que havia sido lançada anteriormente, a
de que um ministro do STF teria atuado informalmente para
influenciar decisões do BC.
Não há, no novo texto, confirmação de ordens, ameaças,
cobranças ou qualquer ato concreto que caracterize abuso de
autoridade.
Com a queda dessa tese central, o foco do artigo se desloca
para o ministro Dias Toffoli.
Malu Gaspar afirma que Toffoli estaria “seguindo à risca o script
da defesa” do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco
Master.
Essa crítica, no entanto, é apresentada como interpretação
política do comportamento do ministro, sem a apresentação de
provas documentais ou indícios objetivos de irregularidade.
A coluna também menciona bastidores do Banco Central,
incluindo a situação de um diretor indicado por Roberto Campos
Neto, que poderia deixar o BC para atuar em grandes bancos
privados.
Essa informação aparece como contexto de ambiente
institucional, mas não é acompanhada de demonstração de
nexo causal entre decisões administrativas e interesses
privados.
Em síntese, o novo texto confirma que:
a acusação de “pressão” atribuída a Alexandre de Moraes não
se sustenta;
a referência anterior a telefonemas não resultou em
comprovação de interferência;
o debate passa a se apoiar mais em leituras políticas e
bastidores do que em fatos comprovados;
acusações graves contra autoridades exigem provas robustas,
não apenas inferências.
O resultado é um recuo factual importante, ainda que sem
autocrítica explícita sobre o impacto da narrativa anterior.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –26 DEZ.20-25
“O Brasil no espelho”: Quais lições podemos tirar da pesquisa
Quest? – Por Rodrigo Perez-
https://revistaforum.com.br/opiniao/o-brasil-no-espelho-quais-
licoes-podemos-tirar-da-pesquisa-quest-por-rodrigo-perez-
193555/#google_vignette
Acaba de ser publicado pela Globo Livros a obra “O Brasil no
espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros”,
assinada pelo cientista político Felipe Nunes, CEO da Quest,
uma das mais prestigiadas empresas especializadas em
pesquisas de ...
Por: Rodrigo Perez OliveiraPublicado: 03/12/2025 - às
Acaba de ser publicado pela Globo Livros a obra “O Brasil no
espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros”,
assinada pelo cientista político Felipe Nunes, CEO da Quest,
uma das mais prestigiadas empresas especializadas em
pesquisas de opinião pública que temos no Brasil. O livro
apresenta os dados de um ambicioso trabalho de investigação
sobre os valores da sociedade brasileira. Os dados são muitos e
complexos, e incontornáveis para intelectuais e lideranças
políticas que tenham o interesse em entender o país fora da
histeria ideológica que na última década pautou o debate
político entre nós, à esquerda e à direita.
O livro divide o Brasil em nove identidades políticas:
conservadores cristãos (27%), dependentes do Estado (23%),
agro (13%), progressistas (11%), militantes de esquerda (7%),
empresários (6%), liberais sociais (5%), empreendedores
individuais (5%), extrema-direita (3%). Cada uma delas
apresenta opiniões divergentes sobre os principais temas de
interesse nacional, como economia, assistência social,
segurança pública, democracia, ditadura, costumes etc. Essas
“bolhas” (termo usado pelo próprio Felipe Nunes) possuem
considerável grau de “calcificação”, ou seja, as possibilidades
de trânsito entre elas são restritas, o que sugere o
estreitamento da retórica, entendida como técnica de
convencimento através da palavra. Todos estão tão confortáveis
nas suas bolhas que têm pouco interesse em ouvir opiniões
diferentes.
É certo que toda classificação demanda critérios que não são
imunes às premissas ideológicas e que sempre podem ser
questionados, discutidos e criticados. Por ora, desejo me
concentrar em um aspecto específico da pesquisa, justamente
aquele que me parece ser o mais importante e urgente para a
esquerda. O cruzamento das informações nos permite pensar o
“brasileiro médio” como um tipo ideal, no sentido em que Max
Weber utilizava a categoria: um modelo abstrato que não
necessariamente existe na realidade neste formato, mas nos
ajuda a compreender o fenômeno analisado. Dito isso, sim, o
“brasileiro médio” é conservador nos costumes, o que não quer
dizer que seja “fascista”, ofensa usada e abusada pela esquerda
nos últimos anos. A extrema-direita puro sangue contempla
apenas 3% da população, bem menor do que o capital eleitoral
de Jair Bolsonaro nas duas últimas eleições presidenciais. Se é
verdade que toda a extrema-direita vota em Bolsonaro, também
é verdade que nem todo eleitor de Bolsonaro é de extrema-
direita. Já sabíamos, ainda que intuitivamente. É bom ver a
intuição confirmada nos números.
Mas o que significa ser “conservador nos costumes”? A
interpretação dos dados apresentados pela Quest permite
ensaiar uma resposta. “Conservador nos costumes” é aquele
que vê na casa, no espaço doméstico, um lugar que precisa
estar seguro da criminalidade e das ideias consideradas
desestabilizadoras da estrutura familiar. Isso, porém, não
significa, necessariamente, negar direitos fundamentais para as
minorias sexuais, raciais e de gênero. Para o brasileiro médio,
direitos como adoção de crianças, união civil e igualdade no
mercado de trabalho devem ser universalizados. Entretanto,
“ideologia de gênero”, intervenção hormonal em crianças para
fins de transição de gênero, ameaça aos espaços femininos de
intimidade e a ampliação da política de cotas para além do
acesso de pobres e negros aos cursos de graduação nas
universidades públicas são projetos potencialmente rejeitados e
profundamente identificados com a esquerda, o que explica a
deterioração do prestígio desse campo político junto à maioria
da população.
O brasileiro médio deseja viver em um país onde os direitos
fundamentais estejam universalizados, mas não quer se sentir
prejudicado neste processo, não deseja ser um perdedor na
competição social. A lição me parece muito explícita: a
estratégia que deve conduzir a atuação da esquerda precisa
estar focada na universalização de direitos, sem ceder à
tentação de tensionar nos costumes. Na casa, entre quatro
paredes, cada um faz o que quiser. Na praça, no espaço público,
todos precisamos ser contemplados pelos mesmos direitos. É a
velha e boa utopia republicana.
**Este artigo não reflete, necessariamente, a opinião da Revista
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –24-25 JAN.2025
Natal 2025
Amigos, o mundo racional estigmatiza datas como o natal e o final de ano.
Ao mesmo tempo, as explora.
Para alguns, ocasiões como estas servem apenas para aumentar o ganho e o saldo das contas bancárias, no boa-fé dos iludidos.
Eu, porém, com este olhar ingênuo , penso que datas assim, servem para, ao menos, no mundo ocidental cristão, tornar corações e vibrações mais brandas e envolventes.
O ódio dá uma trégua ao amor.
O sol vence as barreiras das nuvens.
Ventanias se tornam brisas reconfortantes.
Homens se aproximam em torno de um mesmo ideal – um mito que seja, manjedoura e salvador.
Se Nietzsche matou Deus, fez resplandecer, no entanto, o homem.
E o homem pouco sabe além da pretensão de ter respostas para tudo.
“O orvalho cai sobre a relva no momento mais silencioso da noite”, são suas palavras.
Talvez a erudição e o pragmatismo, sem sentir nem explicar o fenômeno, queiram nos reduzir a simples rebanhos do acaso.
Para meu bem viver tenho que acreditar em Algo Superior às nossas pobres vidas.
E estas datas se tornam propícias para que nos unamos no mesmo diapasão.
Talvez, neste orvalho Divino, no silêncio dos pensamentos e no pulsar dos corações, encontremos as respostas para o verdadeiro amor.
"Quando morre um homem, morremos todos, pois somos parte da humanidade" – poema escrito por um pastor, serviu de base a Hemingway, que escreveu seu clássico, “Por quem os Sinos Dobram”.
Os sinos dobram por nós, homens - mortais... no bom combate.
Raul Seixas sabendo disso fez recordar que ninguém vence uma guerra sozinho.
Somos todos irmãos.
Que nossas boas vibrações nos envolvam em ternura e luz nesta data maior da cristandade!
Mesmo que nos consideremos, às vezes, ateus, agnósticos, hereges ou laicos, não poderemos negar o valor de uma visita ao amigo enfermo, o sorriso da criança ao receber o inesperado presente e o calor de singular gesto.
Gentileza, afeto, ternura, um reconfortante abraço, não tem preço e renovam esperanças.
Por oportuno, um fraterno e carinhoso abraço - estimados amigos.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –23 DEZ. 2025
www.culturalfm.com
Um pouco da história do Papai Noel -
https://afolhatorres.com.br/um-pouco-da-historia-do-papai-noel/
Dia 25 de dezembro é dia de Natal, celebração do
nascimento de Jesus Cristo, tempo de renovação e
esperança. E em meio a toda esta emblemática
história, surge um personagem cuja personalidade foi
inspirada em São Nicolau, que depois virou um
velhinho gorducho e em roupas vermelhas, cuja
popularidade foi impulsionada pela Coca-Cola
FOTO - Nos anos 1930, Papai Noel se torna o velhinho-
propaganda da Coca-Cola; No destaque (à esq),
ilustração mostra como teria sido São Nicolau no
século 4 (imagens via portaldaterceiraidade.org)
Dia 25 de dezembro é dia de Natal, celebração do
nascimento de Jesus Cristo, tempo de renovação e
esperança. Ainda por cima é uma data próxima ao ano
novo, recheada de expectativas, e as pessoas tornam-
se contagiosamente mais afetuosas umas com as
outras, multiplicam-se desejos de paz, saúde,
felicidade e amor.
E em meio a toda esta emblemática história, surge um
velhinho gorducho e em roupas vermelhas, fumante,
tomando Coca-Cola e incitando o desejo de consumir
no coração das pessoas.
A difusão do cristianismo e do Natal
O Natal é uma data em que comemoramos o
nascimento de Jesus Cristo. Foi no século IV que o 25
de dezembro foi estabelecido como data oficial de
comemoração. Começou com o imperador Constantino
que acabou, entrando na história como primeiro
imperador romano a professar o cristianismo, na
sequência de uma vitória militar decorrente da
inspiração divina de Jesus Cristo. Segundo a tradição,
na noite anterior à batalha, ele sonhou com uma cruz,
e nela estava escrito em latim: In hoc signo vinces”—
“Sob este símbolo vencerás”.
De manhã, um pouco antes da batalha, Constantino
teria mandado que pintassem uma cruz nos escudos
dos soldados e, com a graça de Cristo, conseguiu uma
vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir deste fato,
Constantino legalizou e apoiou fortemente a
cristandade, mas também não tornou o ilegal o
paganismo (religião politeísta vigente na época) ou fez
do cristianismo a religião estatal única. O cristianismo
tornar-se-ia religião oficial do império romano em 380
d.C., a partir de decreto do Imperador Teodósio I,
popularizando-se então pela Europa e Ásia. A partir
dai, também ficava oficialmente estabelecido o 25 de
dezembro como data de nascimento de Jesus
Na Roma Antiga (bem como em diferentes locais no
Hemisfério Norte) o 25 de dezembro era a data em que
se comemorava também o início do inverno. Portanto,
acredita-se que haja uma relação estrita deste fato
com a oficialização da comemoração do Natal.
As antigas comemorações de Natal costumavam durar
até 12 dias, pois este foi o tempo que levou para os
três reis Magos chegarem até a cidade de Belém e
entregarem os presentes (ouro, mirra e incenso) ao
menino Jesus. Atualmente, as pessoas costumam
montar as árvores e outras decorações natalinas no
começo de dezembro e desmontá-las até 12 dias após
o Natal.
Enfim, a verdade é que, passados milênios desde as
primeiras comemorações pagãs primitivas, o
nascimento de Jesus e a difusão do Cristianismo pelo
Império Romano, hoje existe um outro personagem que
é mais popular que muitos mitos e lendas religiosos no
Natal. Ele surgiu também a partir da religião católica,
mas se propagou como um dos mitos mais adorados
do mundo por meio da publicidade de um refrigerante
Trata-se dele mesmo, o bom velhinho: Papai Noel
Caricatura de Thomas Nast
que popularizou o Papai Noel gordo, em vermelho e
fumante
São Nicolau: a inspiração
A lenda do Papai Noel pode ter se baseado a partir de
contos diversos pelo mundo, sobre a figura histórica
de São Nicolau. Uma história quase idêntica é
atribuída, no folclore grego e bizantino, a Basílio de
Cesareia (fato pelo qual gregos e cristão ortodoxos
costumam celebrar a traça de presentes no dia 1º de
janeiro, dia de São Basílio).
Mas pelo que foi popularmente difundido até os dias de
hoje, o personagem foi inspirado em São Nicolau
Taumaturgo, arcebispo de Mira (na Turquia), que viveu
durante o século IV. Nicolau costumava ajudar,
anonimamente, quem estivesse em dificuldades
financeiras. Colocava o saco com moedas de ouro na
chaminé das casas dos necessitados. Também era
muito bondoso com as crianças carentes, e costumava
distribuir presentes no final de ano para aquelas que
se comportassem bem.
Foi declarado santo depois que muitos milagres lhe
foram atribuídos. De São Nicolau, temos um grande
número de relatos e histórias, mas é difícil distinguir
as autênticas das abundantes lendas que germinaram
sobre este santo muito popular. Sua transformação em
símbolo natalino aconteceu na Alemanha, e daí correu
o mundo inteiro: mitificou-se o Papai Noel, um velhinho
corado de barba branca, trazendo nas costas um saco
cheio de presentes.
O trenó de renas e a chaminé
Uma das pessoas que ajudaram a dar força à lenda do
Papai Noel como conhecemos hoje foi Clemente Clark
Moore, um professor de literatura grega de Nova
Iorque. Ele lançou o poema intitulado “Uma visita de
São Nicolau”, em 1822, escrito para seus seis filhos.
Nesse poema, Moore divulgava a versão de que São
Nicolau viajava num trenó puxado por renas. Moore
descrevia São Nicolau como “um elfo gordo e alegre”.
Ele também ajudou a popularizar outras
características do bom velhinho, como o fato
(português brasileiro) dele entrar pela chaminé.
O caso da chaminé, inclusive, é um dos mais curiosos
na lenda de Papai Noel. Alguns estudiosos defendem
que isso se deve ao fato de que várias pessoas tinham
o costume de limpar as chaminés no Ano Novo para
permitir que a boa sorte entrasse na casa durante o
resto do ano.
Mas, estudando o poema de Moore, várias tradições
foram buscadas por diversas fontes, e a verdadeira
explicação da chaminé teria vindo da Lapônia, na
Finlândia (onde seria a casa do Papai Noel). Os antigos
lapões viviam em pequenas tendas, semelhantes a
iglus, que eram cobertas com pele de rena. A entrada
para essa casa era um buraco no telhado, e daí veio a
idéia do Papai Noel entrando pela chaminé.
Coca Cola e a popularização do Papai Noel
É amplamente divulgado pela internet e por outros
meios que a Coca-Cola seria a responsável por criar o
atual visual do Papai Noel (roupas vermelhas com
detalhes em branco e cinto preto), mas é
historicamente comprovado que o responsável por sua
roupagem vermelha foi o cartunista alemão Thomas
Nast, em 1886 na revista Harper’s Weeklys, em edição
especial de Natal.
Papai Noel até então era representado com roupas de
inverno, porém na cor verde (com detalhes prateados
ou brancos). Em 1931, a Coca-Cola realizou uma
grande campanha publicitária vestindo Papai Noel ao
mesmo modo de Nast, com as cores vermelha e
branca, o que foi bastante conveniente, já que estas
são as cores de seu rótulo. Tal campanha, destinada a
promover o consumo de Coca-Cola no inverno (período
em que as vendas da bebida eram baixas, na época),
fez um enorme sucesso e a nova imagem de Papai
Noel espalhou-se rapidamente pelo mundo. Portanto, a
Coca-Cola contribuiu para difundir e padronizar a
imagem atual, mas não é responsável por tê-la criado.
Aproveitando-se do sucesso da imagem do Papai Noel
globo afora a partir dos anos 30, outras marcas
também se utilizaram do bom velhinho para vender
seus produtos – inclusive os cigarros Lucky Strike
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –22 dez.2025
www.culturalfm.com
Adhemar Bahadian- “Mentira”...
“ Mentira foi tudo mentira “ diz o samba canção na voz de tantos
intérpretes brasileiros , de Tito Madi a Maria Bethânia. Canção
de dor de cotovelo dirão alguns. Canção de raiva, de decepção,
de rompimento inescapável.
Não voltei neles. Nunca me enganou o canto de guerra entoado
Brasil afora como se estivéssemos diante de heróis da
honestidade, do civismo e nacionalismo . Como se
estivéssemos diante de enviados de deuses a destruir Sodoma
por seus pecados, seus sacrilégios e seu assalto aos cofres
públicos.
Talvez estejamos diante de um dos piores Congressos dos
últimos setenta anos. Digo setenta anos por limitar minha
análise aos meus oitenta e cinco de vida até hoje. Acho que
acordei para o papel do Congresso por volta dos meus treze
anos, quando comecei a acompanhar pelo rádio a campanha
contra o Segundo Governo Vargas.
“ Mar de lama” vociferava a oposição.” Lacaios dos Estados
Unidos” respondiam os apoiadores de Getúlio. No fundo, um
debate não inteiramente desfocado da realidade atual em que
as opções do desenvolvimento brasileiro parecem ainda
fortemente maniqueístas.
Mas, se há uma discrepância óbvia com os dias atuais é o baixo
nível de nossos debates parlamentares ,hoje pobres , intelectual
e politicamente. Há uma incapacidade de se discutir o quer que
seja sem que os adjetivos superem os poucos argumentos
técnicos ou objetivos capazes de conduzir a uma lei sequer que
não seja vetada por inconstitucionalidade ou por puro
partidarismo oportunista.
Tenho plena noção da diferença abissal entre “ oportunista” e “
ideológico. Como também sei identificar numa argumentação
ideológica seu lastro indecoroso de oportunismo. E hoje aqui no
Brasil há duas expressões políticas clássicas que sofreram
degradação semântica maliciosa.
A “ Direita” clássica ou o conservadorismo político nunca foram
necessariamente apólogos de uma clivagem ideológica entre a
esquerda clássica e a social democracia ,ambas tão
democráticas e tão distantes do ideário marxista quanto a “
Direita “ se distingue do nazifascismo.
A Constituição brasileira é claríssima quando , de um lado
afirma que o Brasil é fundado nos princípios da economia de
mercado quanto, logo a seguir, determina que o Brasil deverá
buscar a justiça social e combater os desníveis decorrentes do
abuso econômico.
A Constituição brasileira é transparente. O Brasil é um país de
regime democrático que repele os extremismos de Direita e de
Esquerda.
Não ignoro que desde os anos 60 do século passado, o
capitalismo americano por razões que são de todos conhecidas
, passaram por reformas ditas neoliberais que em muito
romperam naquele país as redes de proteção ao consumidor em
benefício da megaempresa. Muitos no Brasil, mesmo diante das
óbvias injustiças sociais hoje visíveis naquele grande país,
advogam políticas e estratégias que tendem a romper o
equilíbrio democrático no Brasil. Políticas que muitas vezes
rompem igualmente o equilíbrio angular da Constituição
brasileira.
Não ignoro que a Constituição brasileira possa ser modificada,
com exclusão de cláusulas pétreas. E uma de suas cláusulas
pétreas é o regime democrático.
Muito dos impasses que estamos a sofrer é exatamente
decorrente da incapacidade de o Congresso brasileiro levar a
bom termo uma deliberação tão consensual quanto possível que
possa acelerar o desenvolvimento socialmente sustentável sem
quebrar a harmonia entre os três poderes , Executivo,
Legislativo e Judiciário e a ordem constitucional.
Há quem pretenda, no Congresso e fora dele, transpor para o
Brasil a atual lambança que estamos a ver na gestão Trump,
sequer exitosa em seu próprio país. Muito do debate no
Congresso Nacional parece um simpósio de ideias sem respaldo
sólido embora ancorado em pseudo-verdades transmitidas por
lideranças carismáticas e intelectualmente despreparadas.
Não menciono ,por óbvio ,que, além das razões acima, existem
as razões digamos pedestres, como as emendas parlamentares,
mão de gato que acaba de adentrar a lareira policial.
A crescente separação entre o povo e o Congresso só será
sanada com eleições gerais para a Câmara dos Deputados e
parcial para o Senado Federal.
A imprensa, as entidades cívicas e políticas muito ajudariam se
promovessem um questionário padrão a ser respondido por
todos os candidatos sobre suas visões sobre os temas
nacionais e internacionais de relevância para o Brasil. A
comparação entre o dito e o efetivamente votado ,pelo eventual
candidato a reeleição, em muito poderia sanear a pobreza
intelectual e cultural do Congresso a partir da próxima
legislatura.
O eleitor é o dono do seu futuro. Exclusivamente ele pode mudar
o Brasil.
E pare de cantar que cansou de ilusões. Só se deixa enganar
quem quer. Quem transfere seu destino para outrem.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –19 DEZ.2025
www.culturalfm.com
Você existe mesmo?
Por EUGÊNIO BUCCI* - 16/12/2025
Ainda existe o leitor hegeliano, aquele que inicia o dia com o jornal
como uma “oração matinal” racional, em contraste com a audiência
atual, fugaz e emocional, ou com os algoritmos que agora consomem
notícias?
1.
Improvável leitora, improvável leitor. Tento imaginar seus olhos
percorrendo estas maldigitadas linhas. Visualizo suas pupilas indo e
vindo, despertas, acesas. A cena me comove. É de manhã. Nas suas
mãos, um jornal de papel se abre sobre a mesa. O cheiro de café
aquece o seu entorno. Torço para que você não desista do meu artigo
já neste primeiro parágrafo, mas me falta convicção. Por motivos que
vou explicar, você é um ente que some na bruma da história. Em
tempo: você ainda está aí?
Sob o risco de pedantismo, lembro uma passagem de Hegel que tem
sido citada amiúde. Em um dado momento entre 1803 e 1805, o
pensador da dialética anotou que a leitura do jornal seria uma
“oração matinal realista”, ou, em outra versão, a “oração matinal do
homem moderno”. Penso nisso quando penso em você.
Hegel sempre teve parte com a razão. Nessa nota em especial, tinha
razão de sobra. Há dois séculos, o noticiário e os artigos de fundo
davam o contexto em que se movia o cidadão da modernidade, esse
amuleto da utopia liberal. Acima da palavra de Deus, o cidadão
descrito por Hegel valorizava os fatos e os argumentos. Com base nas
informações do dia, calibrava sua postura diante dos dilemas da
política e dos impasses do mercado. Lendo as folhas impressas, ele
se localizava.
Hoje, quando um motoqueiro empurra o exemplar de um diário para
dentro da sua caixa de correio, alguma coisa do século XIX acontece
no seu portão. A simples existência de alguém que toma pé dos
acontecimentos antes de pôr o pé para fora de casa faz perdurar
entre nós um resto do Iluminismo. Um resíduo mínimo: esse alguém
se tornou uma raridade. Nos nossos dias, uma pessoa com esse perfil,
mais do que improvável, é uma relíquia de um realismo cívico
pretérito, quase uma peça de museu.
Os meios impressos também se tornaram raridade, mas isso não
revoga a fórmula de Hegel. Você, desde que existente, pode muito
bem ver as notícias numa tela de celular e, ainda assim, encarnar o
“homem moderno” ou a “mulher moderna”. A única diferença é que,
se você for mesmo um leitor ou uma leitora digital, a probabilidade de
seus olhos terem me seguido até aqui se reduz impiedosamente.
Na internet, o leitorado escapole na primeira vírgula. Um raciocínio
mais longo, num arco de abstração estendido, como este meu aqui,
espanta a freguesia. Jamais será trending topic. Na ciberesfera, a
pressa aumenta e paciência diminui. Falando nisso, cadê você?
2.
Nenhum jornal do presente esconde a saudade dos leitores idos. A
audiência debanda, e em ritmo acelerado. O discurso jornalístico,
essa língua exótica falada pela imprensa, carece de olhos. O público
invocado pelas manchetes não está mais aqui. Nem aí.
Se você olhar para a primeira página do seu jornal – ou para
a home na tela do computador, tanto faz – vai notar que tudo ali
parece gritar à procura de alguém em estado de inabalável prontidão
cidadã: alguém que não se cansa de fiscalizar o poder, de protestar a
todo fôlego e de exigir que consertem as instituições.
Sim, trata-se de um tipo ideal: o leitor assim sonhado preza a
democracia, tem cultura considerável e desprendimento de espírito.
Se as evidências desmentem suas presunções, ele muda o ponto de
vista e evolui, sem dramas.
Esse tipo ideal não deve ser entendido como uma pessoa, não é bem
isso. Ele é, antes, uma das dimensões que habitam o interior de cada
pessoa. Explicando melhor: o ser leitor é uma dimensão ao lado de
outras dimensões dentro da mesma subjetividade, como a dimensão
do torcedor de um time, a do ser místico (umbandista, católico,
budista etc.), a do ser profissional, a do cônjuge ou do celibatário. O
ser leitor-de-jornal é uma dimensão a mais. Nosso trauma é que ela
entrou em declínio – dentro de você, inclusive.
Você cobra notícias isentas. Disso já sabemos. Mas você sabe ler as
notícias com isenção? Você lê com a curiosidade de quem quer
aprender? Ou você lê, quando lê, com o único propósito de patrulhar a
opinião alheia? Você posta emojis de caretinhas ferozes em links de
textos jornalísticos?
A sua relação com o noticiário é pensante ou é pautada pelas
mesmas emoções que você experimenta numa celebração mística,
num estádio de futebol ou no cinema? Ao ler o jornal, você é um
cidadão hegeliano ou um devorador de sensações?
O discurso dos jornais se dirige a um adulto livre, racional e
responsável: o titular do direito à informação. Há dois séculos, esse
adulto moderno foi consagrado cidadão e deflagrou a ascensão da
imprensa. Agora, o sumiço do mesmo cidadão, diluído no
entretenimento e no fanatismo, faz eclodir a crise da imprensa. Por
isso pergunto: você existe? Ou será que escrevo aqui para uma
ficção? Ou para ninguém?
PS: Sabemos que os jornais passaram a ser lidos por dispositivos de
Inteligência artificial a serviço dos algoritmos. Se você for uma
simples máquina, desconsidere, por favor, os parágrafos acima. Não
são para você. Da sua existência eu não duvido nem um pouco. Você
não apenas existe – você se expande. Eu estava pensando em gente
de carne e osso, gente que evanesce. Eu tinha na cabeça uma
quimera.
*Eugênio Bucci é professor titular na Escola de Comunicações e Artes
da USP. Autor, entre outros livros, de Incerteza, um ensaio: como
pensamos a ideia que nos desorienta (e oriente o mundo digital)
(Autêntica). [https://amzn.to/3SytDKl]
Publicado originalmente no jornal O Estado de S. Paulo.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –18 dez25
www.culturalfm.com
Com disputa entre Poderes, Brasil vive baderna
institucional. Por Christian Lynch
Folha de S. Paulo - https://gilvanmelo.blogspot.com/2025/12/com-disputa-entre-
poderes-brasil-
vive.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExTms0QXpQeHhTbHZRWFpDanNydGMGYXBw
X2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6p28iScIdLu8qYpd0J5wxKCFmlM37XiYgmldx6sHKvx4udRO
6qNrEE3K999g_aem_Q7BjcRJtNmlrY53oMI663A
Colapso do presidencialismo de coalizão implodiu modelo de
governabilidade e abriu caminho para Executivo fraco
Centrão se apropriou do Orçamento federal e busca, em afronta
ao STF, absoluta impunidade de seus membros
[RESUMO] Em análise da conjuntura política do país, autor
argumenta que reconstruir um modelo de governabilidade
estável se tornou inviável, já que cada Poder busca reafirmar a
sua supremacia sem um pacto mínimo de convivência.
Enquanto o Executivo busca recuperar seu poder de agenda,
o STF resiste a perder espaço, a extrema direita bolsonarista
tenta voltar à Presidência e o centrão se empenha em
consolidar sua hegemonia no Congresso.
O artigo 2º da Constituição afirma que os Poderes da República
são "independentes e harmônicos entre si". Trata-se de uma
quimera: se são independentes, não são automaticamente
harmônicos e, se pretendem sê-lo, precisarão moderar essa
independência.
A harmonia institucional não decorre do texto constitucional,
mas de modelos de governabilidade criados a partir de sua
interpretação —modelos capazes de coordenar expectativas,
prerrogativas e ambições de cada Poder, criando previsibilidade
em suas relações. Quando esses modelos existem, o regime
constitucional respira; quando se desfazem, o país entra em
espiral de instabilidade.
Ao longo de dois séculos, tais modelos variaram conforme
conjunturas e correlações de força. O chamado modelo
regressista ou saquarema, criado por Bernardo Pereira de
Vasconcelos, estabilizou, nos anos 1840, um sistema
parlamentar em que o Executivo imperial impunha direção ao
nascente Estado nacional. A política dos governadores,
inaugurada por Campos Sales em 1900, traduziu-se em um
arranjo que garantiu ao Executivo republicano a
governabilidade coordenando as oligarquias estaduais.
Já no período pós-1988, o presidencialismo de
coalizão organizado por Fernando Henrique Cardoso ofereceu, a
partir de 1994, uma estrutura relativamente estável de trocas
institucionais e permitiu previsibilidade à condução política.
Nenhum desses arranjos era idílico, mas todos domesticaram o
conflito e contiveram a instabilidade.
Há dez anos, contudo, o Brasil vive sem modelo eficiente de
governabilidade. O que funcionara desde os anos 1990 —o
presidencialismo de coalizão com dominância do Executivo—
entrou em colapso. Assistimos a Poderes que se digladiam, se
sabotam e tentam se anular mutuamente, em um ambiente em
que a possibilidade de golpe, alto ou baixo, reaparece sempre
que um deles se percebe acuado.
A República funciona como uma permanente guerra de
trincheiras, sem regras estáveis, arbitragem reconhecida ou
horizonte de acomodação. Nenhum ator reconhece limites
estáveis ao exercício de sua autoridade.
A instabilidade crônica explodiu com a Lava Jato, que inaugurou
aquilo que chamei de revolução judiciarista: uma investida de
inspiração neoconstitucionalista que atribuiu ao Judiciário um
protagonismo sem precedentes, convertendo-o de árbitro em
ator político central. O próprio modelo de governabilidade, o
presidencialismo de coalizão, passou a ser combatido como
intrinsecamente corrupto.
Desfeita a lógica que coordenava expectativas e administrava
conflitos, instalou-se a luta institucional: decisões judiciais com
pretensão de dirigir o país, um Ministério Público investido da
missão de purificar a República e um sistema político acuado. O
equilíbrio possível implodiu, e nada foi colocado no lugar.
O Legislativo dominado pelos partidos da direita institucional,
vulgarmente chamados de centrão, reagiu, tentando neutralizar
o Judiciário apoderando-se do Executivo. O impeachment de
Dilma Rousseff deve ser compreendido nesse contexto, não
como mero desdobramento de crise econômica ou dos
protestos de rua, mas como operação de reposicionamento
institucional do Congresso contra a preeminência do STF
(Supremo Tribunal Federal) e da Lava Jato.
Apoiado por Gilmar Mendes, Michel Temer desmontou,
gradualmente, os dispositivos de poder acumulados por
Curitiba. Foi o "termidor" da revolução judiciarista. Não por
acaso, o Tribunal Superior Eleitoral, então presidido por Gilmar,
absolveu Temer e o manteve no poder: por "excesso de provas".
A eleição de Jair Bolsonaro representou um baque inicial nesse
processo. Bolsonaro jamais compreendeu a máquina do Estado
e nunca formulou diagnóstico realista da conjuntura. Seu
populismo reacionário era guiado pela ignorância e pelo
negacionismo, travestidos de senso comum conservador.
Apostou em um bonapartismo retrógrado, que restauraria a
ditadura militar por meio de um cesarismo de WhatsApp.
O fracasso o jogou no colo da classe política que dizia
combater. Ao enterrar a Lava Jato e alugar o governo ao
centrão para sobreviver, entregou-lhe as chaves do Orçamento,
abrindo-lhe caminho para a captura do Executivo.
Simultaneamente, a extrema direita declarou guerra ao STF,
produzindo um ambiente de hostilidade permanente que o
centrão soube instrumentalizar —ora como ameaça, ora como
biombo.
Realizou-se então metade do sonho do centrão: estabelecer, no
Brasil, por uma espécie de parlamentarismo bastardo, a
hegemonia de uma oligarquia congressual autorreprodutível,
financiada pelo Fundo Eleitoral e pelas emendas parlamentares.
Nesse sentido, a eleição de Lula, em regime de governo
minoritário, não foi má para o bloco. O centrão não queria a
autocracia estúpida de Bolsonaro, que ameaçava inclusive seu
espaço; queria um Executivo fraco, dependente, obrigado a
negociar sua sobrevivência cotidiana com um Congresso
hegemonizado por lideranças conservadoras.
A debilidade estrutural do governo, somada à distância
ideológica entre a média do Executivo (social-democrata) e a
média do Parlamento (conservadora), criou o ambiente ideal.
Pôde ocupar metade da Esplanada e entregar apoio apenas
seletivo, jamais estrutural, à agenda presidencial.
Na impossibilidade ou na falta de desejo de assumir regime
parlamentarista, o centrão limita-se a conservar e, quando
possível, ampliar a hegemonia adquirida com a apropriação do
Orçamento, o controle da agenda e a expansão da própria base
parlamentar. Opera como polvo de múltiplos tentáculos,
ajustando simultaneamente sua relação com três polos: a
extrema direita bolsonarista, o STF e o Executivo fragilizado.
Apoia o STF contra o golpismo mais radical —porque o golpismo
ameaça também o Congresso—, mas resiste à anistia ampla dos
golpistas, porque não deseja recolocar Bolsonaro no jogo de
2026. O centrão quer a extrema direita como força útil, não
dirigente. Por isso, deixa ao STF o serviço sujo de punir
deputados golpistas, preservando-se do desgaste perante o
eleitor radicalizado.
É nesse contexto que se compreende o acordo informal entre
governo e STF. Separado do Congresso por distância ideológica
incontornável e destituído dos instrumentos tradicionais de
cooptação, Lula buscou no STF alguma compensação.
O tribunal, por sua vez, deseja punir os golpistas que tentaram
destruí-lo e prevenir que um novo ciclo legislativo,
especialmente no Senado, organize o impeachment de ministros
em 2027. Daí o "judiciarismo de coalizão": recorrer ao tribunal,
sobretudo aos ministros mais novos, como Flávio Dino, para
conter perdas legislativas, preservar parte do poder
orçamentário e impor limites ao apetite predatório do
Congresso. É aliança de circunstância entre dois Poderes em
posição defensiva: o Executivo, fragilizado, e o STF, desafiado.
Mas o centrão reage também a essa aproximação. Seu segundo
grande objetivo —além de preservar a autonomia orçamentária
que garante sua reeleição indefinida— é a absoluta impunidade
de seus membros. Não basta controlar o Orçamento, é preciso
controlar o alcance das decisões judiciais que atinjam
deputados e senadores, golpistas ou corruptos. Para manter
coesão e eminência, os líderes precisam assegurar aos
parlamentares que seus mandatos dependerão exclusivamente
deles. Ou seja, blindagem corporativa.
Quando a Câmara se recusa a cassar o mandato de Carla
Zambelli, afrontando o STF, envia o recado: nenhum freio
judicial será aceito quando tocar nas condições de
autoproteção da oligarquia. A ordem de Alexandre de Moraes ao
presidente da Câmara para cassar a deputada, no dia seguinte,
evidencia o caráter particularmente agressivo da guerra entre
Legislativo e Judiciário.
Em síntese, reconstruir um modelo tornou-se inviável porque
cada Poder disputa supremacia. O Executivo tenta recuperar o
poder de agenda do antigo presidencialismo de coalizão. O STF,
fortalecido desde o mensalão, resiste a perder espaço. A
extrema direita bolsonarista tenta voltar ao poder para destruir
o sistema que a limita. O centrão empenha-se em consolidar
sua hegemonia e neutralizar ou cooptar o Judiciário. Mais: quer
recuperar o Executivo e a administração pública, não mais
pelas mãos disfuncionais e golpistas do clã Bolsonaro, mas por
meio de um candidato seu.
Essa assimetria impede um pacto mínimo de convivência: cada
Poder tenta recuperar, preservar ou expandir seu espaço
institucional.
A hegemonia parlamentar existe, mas não constitui modelo de
governabilidade porque não é reconhecida como legítima pelos
demais atores. Um regime pressupõe aceitação mútua,
previsibilidade e deferência recíproca. Não foi o que vimos nos
últimos dias —ao contrário.
Diante das eleições que se avizinham, o STF, o bolsonarismo e o
governo atacaram o centrão quase simultaneamente e por
motivos distintos. Contra o alijamento da família Bolsonaro de
seus planos eleitorais, a extrema direita lançou a candidatura
presidencial do filho mais velho do ex-presidente, agora
presidiário. O STF também moveu suas peças: diante da
ofensiva para promover impeachment de ministros em
2027, Gilmar Mendes alterou por liminar a interpretação da
lei para blindar todo o tribunal. Já o governo fez o que pôde:
segurou o pagamento de emendas, condicionando-o à
aprovação de sua agenda.
Pressionado por todos os lados, o centrão distribuiu como
prêmios de consolação seus presentes de fim de ano: ao
bolsonarismo, a redução de penas dos envolvidos no golpismo,
mas não a anistia; ao STF, o avanço da nova lei de
impeachment, dificultando a remoção de ministros; ao
Executivo, o andamento do projeto de redução da jornada
laboral de seis para cinco dias e o restabelecimento do texto-
base do projeto antifacção.
Em cada movimento, inclusive na proporção em que cedeu,
porém, o centrão reafirmou sua condição a partir do Congresso
como árbitro da política nacional. Montesquieu pode estar no
inferno, mas não há dúvida sobre quem está no céu —ou quase:
o centrão.
Reconstruir um modelo de governabilidade a partir do texto
constitucional não é tarefa simples. É preciso algum consenso
sobre o destino institucional —consenso distante,
especialmente da extrema direita, empenhada em destruir a
própria Constituição. O mero triunfo de qualquer dos três
Poderes não parece oferecer automaticamente qualquer
resolução duradoura da crise.
Do lado do Executivo, mesmo que Lula recuperasse parte das
prerrogativas executivas do antigo presidencialismo de
coalizão, isso não resolveria o problema: nenhum modelo
anterior de governabilidade atribuía ao STF papel político de
relevo. Embora o judiciarismo tenha sido constante na
República, o tribunal jamais foi protagonista; tampouco atuou
como poder moderador informal —papel, como se sabe,
indevidamente exercido pelas Forças Armadas.
Por outro lado, a aceitação pura e simples da pretensão do STF
como ator central não tem como resolver a situação. Há um
problema de desenho institucional na Constituição, que torna o
tribunal ao mesmo tempo órgão de cúpula do Judiciário e Corte
constitucional. A Corte não pode ser árbitro e parte interessada
ao mesmo tempo.
Para piorar, sua pretensão de supremacia tem sido
aparentemente utilizada por determinados ministros para o
exercício de práticas pouco republicanas, para não dizer
corruptas. Daí que, por receio de punição ou simples arrogância
dos honestos, muitos deles resistam a se submeter a códigos
éticos de conduta e, principalmente, a qualquer possibilidade de
controle externo.
Por fim, a formalização da hegemonia do centrão em sistema
semipresidencial parece inteiramente inviável. O STF deseja a
mudança do sistema, supostamente o bloco também, mas há
resistência intransponível da esquerda hoje no governo,
historicamente presidencialista.
Além disso, há dúvidas sobre a constitucionalidade de mudança
sem plebiscito ou referendo, hipótese em que ela provavelmente
seria novamente repelida, agora pela terceira vez. Na dúvida, a
direita prefere ficar como está: mandando sem responsabilidade
enquanto sonha em eleger seu próprio presidente.
Em um quadro como esse, a tendência sistêmica a longo prazo
seria a estabilização oligárquica: o famoso acordão preconizado
por um notório centrônico da década passada, "com o Supremo,
com tudo". Em outras palavras, blindagem geral.
Mas essa estabilização tampouco garante estabilidade. A
insatisfação crescente com a mais baixa qualidade da
democracia fatalmente alimentará novas candidaturas
antissistema: outro Bolsonaro, um Pablo Marçal, qualquer figura
disposta a capitalizar o ressentimento acumulado. O arranjo
oligárquico evitaria a quebra explícita, mas produziria uma
erosão silenciosa que fragilizaria instituições, preparando
terreno para novas aventuras antidemocráticas.
Avançamos, assim, para 2026. Nesse clima de baderna
institucional e ideológica, chegam à mesa do eleitor os pratos
do banquete eleitoral: o facho-reacionarismo da extrema direita,
sempre pronto a vestir o manto da resistência à "tirania" do STF
e do "comunismo", a democracia social da centro-esquerda,
prometendo governar com poderes que já não possui, e o
conservadorismo oligárquico centrônico, cada vez mais senhor
do jogo.
Bom apetite.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –17 DEZ.2025
O Pampa não pode ficar só na memória - 21/12/2024
Por SÍLVIA MARCUZZO* - O Pampa não pode ficar só na
memória | Rede Estação Democracia - RED
Qual é a paisagem que vem a sua mente quando pensa em Rio
Grande do Sul? Para mim, que nasci no meio do Estado, logo me
lembro das coxilhas, daquele cheirinho de carqueja invadindo
minhas narinas. Daquelas paisagens com diferentes tonalidades
de verde e um horizonte a perder de vista.
Meu recanto sagrado de carregar as baterias por muito tempo
foi no encontro de duas coxilhas, numa matinha ciliar onde uma
pequena queda d’água proporciona uma espécie de altar de
contemplação à natureza. A água nasce a poucos metros de
onde ela cai. Remeto minha memória para esse cenário quando
preciso dar uma equilibrada. Todo mundo que tem experiências
em lugares como esse pode não saber conscientemente do seu
poder simbólico no nosso imaginário.
Essa identificação com o campo é tão forte, que talvez seja isso
que mova tantos gaúchos e seus descendentes a transformarem
ambientes naturais do Cerrado e da Amazônia em campo para
criar gado ou plantar. É uma suspeita. Afinal, boa parte dos
desmatadores tem origem sulista. Também pode ser que seja
essa aura pampeana que faça tanta gente achar que a cultura
do ginete, do tiro de laço, das cavalgadas, entre outras
atividades, seja uma tradição que mereça ser cultivada em
outros pagos. Há muitas possibilidades que merecem ser
pesquisadas para entendermos a nossa relação com esse
ambiente que se traduz de diversas formas na nossa cultura.
No dia 17 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional do Pampa.
Pois esse dia foi escolhido por ser a data de nascimento de José
Lutzenberger. O Lutz também comemorava essa data com festa
de aniversário no Rincão Gaia. Lembro que fui algumas vezes
com o inesquecível Augusto Carneiro à celebração. Aquele
espaço era um desbunde no tempo em que o Lutz era vivo.
Tinha uma coleção de espécies de cactos, suculentas e plantas
carnívoras de deixar muito apreciador de jardim botânico de
queixo caído. Ainda hoje é um lugar maravilhoso para se
conhecer.
A área do Rincão fica em Rio Pardo, a 120km da Capital. Lá dá
para sentir o vento, enxergar o horizonte e as coxilhas desse
estimado bioma, que nós, gaúchos, temos o privilégio de
desfrutar com exclusividade no Brasil. Só que, apesar de ser o
cenário de tantas histórias, de costumes e da cultura
perpetuada principalmente em Centros de Tradição Gaúcha
(CTGs), o Pampa vem sendo muito mal tratado.
Nosso querido e tão aclamado bioma, cantado em versos em
tantas músicas e poemas, tem deixado cientistas preocupados.
Como ele é formado por ecossistemas distintos, em um Estado
densamente ocupado por etnias de vários lugares, onde os
descendentes de europeus se acham os descobridores, boa
parte do nosso Pampa foi destruído antes mesmo de ser
estudado. E a cada ano, novas descobertas são realizadas.
No dia 17, o Laboratório de Estudos em Vegetação Campestre
da UFRGS divulgou um estudo que aponta um dado inédito: em
um metro quadrado de campo nativo em Jaguarão foram
encontradas 64 espécies de plantas. Esse número é algo
impressionante, pois em nenhum outro bioma (no Brasil são
seis: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e
Pampa) se encontrou tamanha diversidade! Antes, já tinham
encontrado 50 espécies diferentes e já era um achado. Tudo
isso denota o quanto ainda precisamos pesquisar, estudar e
valorizar esse ambiente que é o menos protegido do Brasil. Mais
especificamente por porções de terras protegidas chamadas
tecnicamente de Unidades de Conservação (UCs). Não temos
um parque nacional, um parque público aberto à visitação com
um mínimo de infraestrutura para cumprir suas funções de
pesquisa, educação ambiental e entretenimento no Estado.
Creio que a maior parte do pessoal que mora no Pampa não tem
a menor noção do que a situação dele significa. Pior: acha que
pode fazer qualquer coisa, já que “não há desmatamento” e dá
para plantar qualquer coisa, de árvore a braquiária. O correto,
pela Ciência, é se referir à destruição desse tipo de ambiente
como supressão da vegetação campestre.
Perdas para todos, ganhos para quem?
A porção brasileira do Pampa já perdeu 28% da sua vegetação
nativa entre 1985 e 2023, de acordo com os dados mais
recentes da Coleção 4 do MapBiomas Pampa Trinacional. O
trabalho monitora o uso e a cobertura da terra do bioma no
Brasil, Argentina e Uruguai (bem onde se configura a formação
da cultura gaudéria). Foi a maior taxa de perda de
biodiversidade na comparação entre os três países nesse
período. Proporcionalmente ao seu tamanho, o Pampa
brasileiro também foi o que mais perdeu vegetação nativa entre
todos os biomas brasileiros desde 1985. A conversão foi
impulsionada principalmente pela expansão do cultivo de soja e
pelo crescimento da silvicultura, leia-se, cultivo de pinus e
eucalipto, principalmente.
O impacto ambiental da silvicultura é maior justamente nas
regiões com campos nativos: no bioma Pampa e nos Campos de
Altitude, um ecossistema associado à Mata Atlântica. Leia a
reportagem que fiz sobre a flexibilização da legislação. Isso
sem considerar as milhares de viagens de carretas que
transitam com toras de madeira diariamente nas famigeradas
estradas gaúchas.
O crescimento exponencial das áreas de silvicultura
aumentou 1600% em 39 anos, passando de 44 mil hectares em
1985 para 773 mil hectares em 2023. Nos últimos dez anos, a
perda da vegetação nativa do Pampa tem aumentado muito e
deverá continuar ainda mais com a ampliação da produção de
celulose da CMPC.
Há vários fatores que podem estar nos influenciando no
distanciamento dessa riqueza, inclusive de valor intangível, de
tudo que o Pampa representa. Arrisco escrever algumas: muitas
narrativas mentirosas têm sido espalhadas para que o mercado
faça o que bem quiser para exportar matérias-primas produzidas
no Pampa (aliás, nem só nesse bioma, né?); a ausência de
governança e estratégias de desenvolvimento sobre o uso da
água, no manejo do solo etc.; a ideia de que campo é menos
importante que floresta; o aumento do preço pago a culturas de
curto prazo, como a soja, que vai virar algum insumo para
alimentar bichos; a desvalorização da vida no campo etc. Enfim,
há muitas outras hipóteses.
Para ter uma ideia do quanto estamos descuidando do nosso
ambiente, o Rio Grande do Sul, que já foi berço da legislação de
proteção ambiental, onde foi criado o primeiro comitê de bacia
hidrográfica do País, hoje é o estado mais atrasado na
condução do Cadastro Ambiental Rural e dos Programas de
Regularização Ambiental. Será que isso tem a ver com a
vontade política do governo do Estado?
Saiba mais
O Pampa dispõe de 10 sistemas ecológicos (tipos diferentes de
paisagens regionais com variações na vegetação nativa), sendo
nove campestres e um florestal. A Rede de Campos Sulinos tem
feito um trabalho de conscientização sobre a necessidade de
preservação do campo nativo. Clique aqui para conferir um dos
meus primeiros textos aqui na Sler que foi justamente sobre a
Coalizão pelo Pampa, em 2022.
Publicado originalmente em Sler . - *Sílvia Marcuzzo é Jornalista
e artivista.
EDITORIAL – Cultural FM Torres –16 DEZ.2025
QUE VIVA CHILE, M...!
A recente vitória da direita no Chile, se reedita naquele país a
alternância persistente entre E x D, desde a redemocratização,
por outro lado, fecha um ciclo continental de vitórias à direita,
inaugurado por Bolsonaro em 2018, depois de uma rosada
primavera no começo do século. Uma nova linha de
Tordesinhas, em diagonal sobre a América do Sul, separa,
agora, gregos e troianos e os deuses estão perplexos e
divididos diante do acontecido. Já em novembro, Maria
Hermínia Tavares, em artigo na FSP, Professora da USP, que
teve frutífera vivência no Chile quando fez seu Mestrado na
FLACSO, pontualizava o desfecho, destacando duas razões para
a crise da esquerda e um fato sociológica que a ultrapassa mas
envolve:
“A possível vitória de Kast vem sendo interpretada de duas
maneiras. A primeira prevê que ela selará uma virada histórica à
direita na América do Sul, antecipada pela eleição de Bolsonaro
em 2018 e seguida pelas vitórias de Javier Milei, na Argentina,
em 2023, de Daniel Noboa, no Equador, e de Rodrigo Paz, na
Bolívia, ambas em 2025.
(...)
A segunda maneira de ver o êxito do ultradireitista chileno é
como reprise de um padrão de comportamento de um eleitorado
frustrado. Convocado a votar, pune sistematicamente o
incumbente, preferindo quem lhe faz oposição, à direita ou à
esquerda. Dessa forma, se onda existe, não tem cor política; é
contra o governo de turno, seja qual for sua orientação.
(...)
Mas há algo que desde já se pode dizer debulhando as urnas
chilenas: trata-se da importante metamorfose nas forças
políticas em disputa. (...) A mudança diz respeito, de um lado, à
perda de importância eleitoral dos partidos de centro; de outro,
à ascensão, no campo da direita, de líderes e organizações
mais extremados.”
Cumpriu-se a previsão com base nas razões da vitória da direita,
embora a não mais extremada, que optou pelo voto nulo. Mas é
importante ir mais além das grandes narrativas que moldam o
cenário político contemporâneo, a saber a “virada”, a “maldição
do incumbente” e as metamorfoses no interior dois polos em
disputa. Em primeiro lugar, há que se ter em conta que ação
transformadora da direita de Pinochet no Chile, à semelhança
da Indonésia de Suharto, teve um impacto gigantesco, não só
econômico, mas social e cultural naquele país. A era Suharto
na Indonésia, conhecida como a "Nova Ordem" (New Order), foi
um período de governo ditatorial e militarizado, posterior a um
dos mais sangrentos golpes contra a democracia e interesses
nacionais e populares do século XXI, que durou mais de três
décadas, de 1967 a 1998. Modernizou a Indonésia, a qual, aliás
deverá ultrapassar dentro de pouco tempo o Brasil nas dez
maiores economias do mundo.
No Chile, país pequeno e com população reduzida, esse
processo, da mesma natureza mas não tão profundo, também
acentuado. Tendo eu voltado a Santiago, em 1991, depois de 18
anos, não a reconheci. Para dizer a verdade, não consegui
refazer o “caminho de casa”, em Tobalaba...O país não só se
internacionalizou, como internamente, deu um imenso salto á
“modernidade” ao estilo das grandes metrópoles
contemporâneas, com imensos prédios, shopping centers e
diversificado comércio de produtos de luxo. Isso se refletiu no
desenvolvimento de uma nova classe média, mais rica,
complexa, empresarial e cosmopolita. Claro que o
trabalhadores e aposentados pagaram a conta deste processo,
mas ele afetou os segmentos intermediários, antes divididos
numa hesitante Democracia Cristã, levando-os à direita. Daí
outro fator para a derrota da esquerda: uma candidata
“comunista”, strictu sensu, isto é, filiada ao Partido Comunista.
Uruguai e Brasil têm optado por outro caminho.
A vitória, ainda que apertada do Lula em 2022, aponta para a
importância da flexibilidade tática e até mesmo estratégica em
tempos de retrocesso: olhar para frente, para o futuro. Olhar
para os fatores que abalam a sociedade contemporânea, tais
como nova organização do trabalho e da sociedade civil, esta
com nova agenda de autonomia e liberdade de vários
segmentos, imigrações e violência. Mesmo na década de 1930,
a dogmática III Internacional sob o comando de Stalin, deu-se
conta da “virada” depois da crise de 29, que desembocou na
ascensão de Hitler ao Poder em 1933 e mudou sua posição
diante da Revolução Espanhola, o que perdurou até 1939,
véspera da II Guerra.
Lá na campanha sobre o plebiscito, que decidiu pela saída de
Pinochet, houve uma advertência que virou até um filme: “NO”:
Recuperou a democracia e enterrou o ditador que, não
obstante, deixou herdeiros e defensores, como o atual
Presidente eleito. Chamou a atenção para a necessidade de
deixar as feridas e os mortos em banho maria para apresentar
uma visão de esperança na vitória.
A escolha, agora, de uma candidata, aliás excelente, filiada ao
Partido Comunista, mesmo com discurso mais centrista, reflui
ao passado, numa conjuntura internacional em que a mera
denominação “comunista” sumiu do cenário político. Estamos
vivendo, no mundo inteiro, uma virada neofascista na qual até
em redutos tradicionais de Partidos Comunistas na Itália, na
França, na Espanha e até em Portugal, agora votam á direita.
Contrariar essa lógica confiando na heróica tradição dos
comunistas chilenos talvez tenha sido um erro histórico. Nada
irreparável, pois a maioria dos novos líderes à testa da direita
latino-americana, exceção de Bolsonaro, não flertam com
golpes militares. Alguns anos mais e assistiremos nova “virada”.
Dois exemplos, entretanto, contrariam a decisão chilena, a
Frente no Uruguai e a Frente do Lula, ambas vitoriosas. Dir-se-á
que as circunstâncias condicionaram o caso chileno. Pode ser.
Prefiro, até, acreditar nesta hipótese do que crer ter-se tratado
de “opção ideológica.”
O raciocínio se refere ao Chile, mas, na verdade, estou
pensando, aqui com meus botões, no caso do Rio Grande do Sul.
Será que vamos, mais uma vez, assistir a afirmação da
inevitabilidade da divisão dos democratas progressistas e
caminhar em direção ao fracasso em 2026?
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –15 DEZ.2025
www.culturalfm.com
O que as eleições no Chile revelam, por Maria Hermínia Tavares
- Folha de S. Paulo
Houve metamorfose nas forças políticas em três democracias
sul-americanas - É provável que o próximo presidente seja de
direita
Eleições sempre podem trazer surpresas. Mas é provável que o
próximo presidente do Chile seja um político de ultradireita:
José Antonio Kast. Embora no primeiro turno tenha sido
superado pela candidata da coligação de esquerda Unidade pelo
Chile, ele tem agora mais chances de crescer, somando os
votos de dois outros candidatos direitistas, do que sua
adversária comunista Jeanette Jara.
A possível vitória de Kast vem sendo interpretada de duas
maneiras. A primeira prevê que ela selará uma virada histórica à
direita na América do Sul, antecipada pela eleição de Bolsonaro
em 2018 e seguida pelas vitórias de Javier Milei, na Argentina,
em 2023, de Daniel Noboa, no Equador, e de Rodrigo Paz, na
Bolívia, ambas em 2025.
Assim, estaríamos em face de um novo ciclo político na região,
semelhante —mas de sinal contrário— à longa "onda rosa" que
nas primeiras décadas do século multiplicou governos de
esquerda moderada.
A segunda maneira de ver o êxito do ultradireitista chileno é
como reprise de um padrão de comportamento de um eleitorado
frustrado. Convocado a votar, pune sistematicamente o
incumbente, preferindo quem lhe faz oposição, à direita ou à
esquerda. Dessa forma, se onda existe, não tem cor política; é
contra o governo de turno, seja qual for sua orientação.
Em dezembro saberemos em que direção sopram os ventos da
política no Chile. Mas será preciso muito mais tempo para
confirmar qual das duas interpretações acima se sustenta.
Mas há algo que desde já se pode dizer debulhando as urnas
chilenas: trata-se da importante metamorfose nas forças
políticas em disputa, se não em toda a América do Sul, pelo
menos em três de suas mais robustas democracias. A mudança
diz respeito, de um lado, à perda de importância eleitoral dos
partidos de centro; de outro, à ascensão, no campo da direita,
de líderes e organizações mais extremados.
No Chile, esse fenômeno se expressa na decadência das três
agremiações centristas que formaram a coalizão responsável
por organizar a transição da tirania pinochetista à democracia e
por se alternar no Palácio de la Moneda entre 1990 e 2018: o
Partido Democrata Cristão e as duas legendas da esquerda
moderada —o Partido Socialista (PS) e o Partido Pela
Democracia (PPD). E, sobretudo, pela desidratação da direita
tradicional e pela fragmentação do campo que permitiu que o
populista Kast passasse para o segundo turno.
Na Argentina, a longeva União Cívica Radical, que liderou a
oposição ao peronismo e encabeçou o primeiro governo civil,
quando a democracia foi restaurada, em 1983, perdeu força.
Tornou-se sócia menor no âmbito de coligações antiperonistas
de centro-direita. Finalmente, sua candidata à Casa Rosada em
2023 é hoje ministra de Javier Milei.
No Brasil, a história é conhecida. Passa pela irresistível
decadência do PSDB, a união das direitas em torno de
Bolsonaro e a atual fragmentação das candidaturas
conservadoras que disputam o espólio político do ex-presidente
golpista.
A relação da nova ultradireita sul-americana com a democracia
representativa é ainda uma incógnita. Bolsonaro tratou de
destruí-la; Milei procura abastardá-la. De toda forma, a
decadência do centro e a força do populismo extremado
prenunciam tempos difíceis.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –12 DEZ.2025
O pior legislativo que já tivemos
Devastação legislativa — A derrubada, pelo Congresso que aí está, dos vetos
presidenciais aos PL da Devastação, que destrói a legislação ambiental brasileira,
consiste, claro, numa derrota do Planalto – mais é muito mais que isso. Trata-se
de derrota da sociedade civil organizada, que se mobilizou para pressionar o
Governo e tentar conter o horror; derrota dos pobres, que são os que mais sofrem
as consequências dos desastres ambientais; derrota da humanidade, que sente os
efeitos da degradação do planeta. Mais uma vez, o STF será chamado à liça, para
restaurar a razão.
Robertoi Amaral – Ex Ministro Lula C&T
*
Tirando o Império, quando nossa dita “democracia” era um
brocado das classaes proprietárias num regime escravista, o
atual Congresso é o pior que já tivemos, sobretudo na Câmara
dos Deputados. Converteu-se num reduto do conservadorismo
alimentado por EMENDAS PARLAMENTARES que tendem a criar
anéis de eternização de seus cargos, sujeitas, ainda a
corrupção desenfreada. Verdadeiros escândalo que corrói as
bases do republicanismo. Aliás, apesar de se distribuírem
mundo afora, num resquício da Velha Roma, a existência de uma
Câmara alta, no caso, o Senado é outro brocado, sem qualquer
sentido, nem político, nem legislativo. Para que duas Casas
Legislativas se o PODER EMANA do povo e este povo deveria
estar representado, proporcionalmente, numa só casa
legislativa. O Senado acaba sendo uma dobra inútil do processo
representativo.Se algum lugar cabe aos Estados, este deveria
ser ocupado pelos respectivos governadores em um renovado
CONSELHO DA REPÚBLICA com funções tópicas quanto ao
Orçamento da República.
Vá o feito.
Agora estamos diante de um confronto entre Judiciário, através
do Supremo, que condenou a Deputada Zambeli a 16+5 anos por
dois crimes, e o plenário da Câmara deu-se ao luxo de preservar
seu mandato. Ora ela, já abandonou o cargo quando fugiu do
país. iNDEPENDENTEMENTE da condenação a Câmara já
deveria ter procedido a seu desligamento, assim como a todo e
qualquer outro que assim aja.
Vários juristas , como MigueL Reali Jr, haviam advertido que a
decisão de confronto da CAMARA com o SUPREMO tinha sido
INCONSTITUCIONAL. Agora o confronto está posto.
Vejamos como a semana que vem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –11 DEZ. 2025
www.culturalfm.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------
O preço da candidatura Bolsonaro foi pago
https://wp.me/p9BHIu-1Jp
*
Blindagem, Sabotagem E Golpe: O Plano Está Em Curso
https://red.org.br/noticias/blindagem-sabotagem-e-golpe-o-plano-esta-em-curso/
dezembro 10, 2025 - dezembro 10, 2025
Por BENEDITO TADEU CÉSAR*
O Congresso Nacional parece ter feito sua escolha. E ela é clara: em
vez de se comportar como uma instituição republicana, comprometida
com o interesse público e a democracia, decidiu funcionar como uma
engrenagem de proteção de si mesmo, de seus aliados e de seus
financiadores ocultos. Se ainda não assumiu formalmente o papel de
inimigo do povo, já se comporta abertamente como inimigo da
democracia.
Nos últimos meses, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vêm
protagonizando uma sequência de decisões que, além de contrariarem
frontalmente o interesse público, atentam contra a integridade das
instituições e reescrevem, a partir da conveniência dos poderosos, o
próprio pacto constitucional. É um Congresso que tem reiteradamente
legislado em desacordo com os interesses sociais mais amplos,
priorizando setores que já concentram poder e riqueza. E não há como
disfarçar: essa captura institucional está hoje sob hegemonia de uma
extrema-direita que se apresenta como Centrão, mas opera com
método, disciplina e objetivos claros. Trata-se de um projeto: sabotar o
governo Lula, inviabilizar políticas públicas, minar sua legitimidade e
viabilizar a eleição de Tarcísio de Freitas em 2026. A estratégia é clara
— e perigosa.
A interpretação que emerge com nitidez dos fatos mais recentes é
inescapável: o golpe de Estado iniciado com os ataques de 8 de janeiro
não foi interrompido. Apenas mudou de forma. A tentativa de ruptura
institucional deixou as ruas e as redes bolsonaristas e passou a operar
nos gabinetes refrigerados do Congresso Nacional. O golpe segue em
curso — agora com aparência legal, sob a capa da normalidade
democrática, mas com a mesma lógica de concentração de poder,
destruição de direitos e imposição autoritária de uma agenda
regressiva.
A blindagem como método de autodefesa
Entre as tentativas mais escancaradas de autoproteção institucional
esteve a PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara em setembro, com o
objetivo de dificultar o processamento judicial de parlamentares. Ela
autorizava votações secretas para pedidos de autorização ao STF,
reduzia a possibilidade de cassação de mandatos por decisão judicial e
institucionalizava o manto da impunidade. Foi barrada no Senado, é
verdade, mas só após intensas mobilizações populares que expuseram
a vergonhosa tentativa de colocar os parlamentares acima da lei. A PEC
não foi uma anomalia. Foi um sintoma. De um Congresso que se vê mais
como castelo que como casa do povo.
Anistia disfarçada: o Congresso protege os seus
O mesmo Congresso que se recusou a aprovar políticas sociais mais
robustas ou projetos de taxação de grandes fortunas, não hesitou em
correr para aprovar uma proposta que reduz penas para os envolvidos
nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Trata-se do projeto da dosimetria
penal, que impõe a não cumulatividade de penas para crimes praticados
em atos de tentativa de golpe. Uma manobra legislativa com nome
técnico e aparência jurídica, mas com finalidade política e efeitos
profundamente morais: reabilitar os derrotados de 2022. Jair Bolsonaro,
inelegível por decisão definitiva do STF, é o maior interessado. O
projeto, relatado por Paulinho da Força, serve como moeda de troca no
jogo de poder que se articula nos bastidores do bolsonarismo e do
centrão, para abrir caminho à candidatura de Tarcísio de Freitas, figura
mais palatável ao mercado e à elite financeira.
A escolha do relator da proposta no Senado não é acidental: Espiridião
Amin, político de longa trajetória conservadora, defensor do regime
militar e aliado próximo da família Bolsonaro, foi escalado para garantir
que o projeto avance com rapidez e segurança. Trata-se de um jogo
combinado. Um Congresso que já não legisla, mas negocia sentenças.
Ofensiva contra o STF e a Constituição
Além da ofensiva contra o Executivo, o Congresso intensifica seu
enfrentamento ao Judiciário. A aprovação da PEC do Marco Temporal,
em flagrante desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal que
considerou a tese inconstitucional, representa mais que um gesto
simbólico: é um ato de força contra o princípio do direito originário dos
povos indígenas, consagrado na Constituição. Ao impor um marco
arbitrário — 5 de outubro de 1988 — como condição para a demarcação
de terras, o Congresso reescreve, de forma autoritária, a história e os
direitos dos povos originários. Não se trata de ignorância jurídica. Trata-
se de ofensiva deliberada.
Essa tensão entre Congresso e STF também se aprofundou com a
reação à indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aliado próximo e afilhado
político do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, liderou a
insatisfação interna com a decisão de Lula. O motivo não é técnico. Nos
bastidores, ventilava-se a expectativa de que o próprio Pacheco fosse o
indicado ao cargo, o que garantiria ao Congresso mais um voto
confiável em processos que envolvem parlamentares acusados de
participação no esquema do orçamento secreto. Ao manter sua
prerrogativa constitucional de escolher o ministro do STF e não ceder
às pressões do bloco, Lula enfrentou a fúria do Senado. A reação de
Alcolumbre e aliados traduz um projeto de captura do Judiciário. Trata-
se de mais um capítulo do conflito entre poderes, motivado não por
divergências de princípios, mas pelo desejo de controle institucional e
pela impunidade dos próprios.
Um Parlamento seletivo na repressão
A repressão seletiva escancarou-se com a violenta retirada do
deputado Glauber Braga do plenário, por protestar, de forma pacífica,
contra a votação da anistia disfarçada. Sentado na cadeira da
presidência — gesto já realizado impunemente por deputados
bolsonaristas meses antes — Glauber foi retirado à força por ordem de
Hugo Motta. A TV Câmara foi tirada do ar. A imprensa, expulsa. Uma
encenação de censura digna de regimes de exceção. O que estava em
jogo não era apenas o controle do plenário. Era a tentativa de silenciar
a crítica, interditar o dissenso e criminalizar o protesto.
Parlamentares e crime organizado: conexões cada vez mais explícitas
Enquanto o Congresso se apressa para proteger os seus, a aliança
entre parlamentares e o crime organizado ganha novos capítulos. A
prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,
Rodrigo Bacellar, acusado de interferir em investigações sobre um
deputado ligado ao Comando Vermelho, é sintomática. A própria Alerj
decidiu soltá-lo poucos dias depois, revelando que o pacto de
impunidade entre os pares não conhece fronteiras partidárias.
Investigações em curso revelam que emendas parlamentares têm sido
direcionadas a municípios sob influência de facções, por meio de
empresas laranjas, licitações fraudulentas e contratos simulados. É o
orçamento público servindo ao crime. Um escândalo com verniz legal,
sustentado por um sistema que se retroalimenta: quem desvia financia,
quem financia se elege, quem se elege blinda.
Licenciamento ambiental e os interesses do capital
A ofensiva não se limita aos direitos civis e políticos. O Congresso
também atua para desmontar a legislação ambiental. A derrubada dos
vetos presidenciais à nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental
representa um retrocesso perigoso, que libera obras de alto impacto
sem estudos prévios adequados, fragiliza a atuação de órgãos de
controle e ameaça comunidades inteiras. A bancada do boi, do garimpo
e do cimento comemorou. A sociedade, em silêncio, vai acumulando
perdas.
Um projeto articulado: inviabilizar Lula, empurrar Tarcísio
Não se trata de episódios isolados. Trata-se de um plano. Um Congresso
dominado por uma extrema-direita disfarçada de moderação, que atua
para sabotar o Executivo, intimidar o Judiciário, desmantelar a
legislação social e ambiental e pavimentar o caminho para a volta ao
poder de um projeto autoritário. Se Bolsonaro já não serve ao capital
por sua instabilidade, Tarcísio é o nome da vez. Para viabilizá-lo, será
necessário destruir politicamente o governo Lula — ou pelo menos
paralisá-lo. É o que está em curso.
Hora de reagir
Diante desse cenário, a indignação é mais do que legítima. É
necessária. Aceitar um Congresso que se transforma em instrumento de
sabotagem institucional, proteção de criminosos e ataque à democracia
é permitir que a barbárie se normalize. A resposta precisa vir das ruas,
das universidades, das redes, das assembleias populares.
Neste final de semana, manifestações estão sendo convocadas em todo
o país por movimentos sociais, sindicatos, organizações estudantis e
coletivos em defesa da democracia. Não é apenas mais um ato. É um
marco. Uma chance de mostrar que a sociedade não aceitará calada a
demolição lenta e calculada de seus direitos. Que não será cúmplice do
silêncio. Que não assistirá inerte ao avanço da impunidade, da mentira
e da destruição institucional.
É hora de se levantar.
Benedito Tadeu César é cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS). Especialista em democracia, poder e soberania, integra a Coordenação do Comitê em Defesa
da Democracia e do Estado Democrático de Direito e é diretor da RED.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres – 10 DEZ.2025
DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
No dia 10 de dezembro de 1948, na recém criada Assembléia da Organização das Nações
Unidas - , Brasil presente, aprovou-se o Estatuto dos Direitos Humanos. Depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão , na Revolução Francesa, em 1789, este foi um marco da civilização. Teve como antecedente imediato o horror humanitário diante dos 40 milhões de mortos no combate ao nazi-fascismo durante a II Guerra Mundial e , como perspectiva, a precaução à todas as formas de violência contra a dignidade humana. Embora não seja um documento mandatório aos países da ONU, ele serviu como base para os dois tratados sobre direitos humanos , com força legal, o Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Anos mais tarde, em 1995, a Assembléia Geral decidiu, também, nas comemorações do seu cinquentenário, celebrá-lo como “Ano da Tolerância”, através da aprovação de uma “Carta da Tolerância”. Esta contém. os princípios do respeito que se deve nutrir pelos semelhantes. A escolha do nome “Tolerância” foi um reconhecimento de que a organização ainda estava longe de alcançar os objetivos para os quais havia sido criada, a saber, a paz mundial. Com o tempo, o próprio termo “Tolerância” foi abandonado como incapaz de traduzir o sentimento que deve nortear a convivência entre supostos diferentes: o amor e não apenas o respeito.
A luta pelos Direitos Humanos, porém, não se esgotou na Declaração de 1948. Vários outros documentos ampliaram os conceitos aí contidos e os explicitaram para outros segmentos da sociedade, considerados vulneráveis, como as crianças, ou campos da vida humana, como a cultura:
Declaração de Salamanca
Processo de Bolonha
Declaração Universal dos Direitos da Criança
Convenção sobre os Direitos da Criança
Declaração Mundial sobre Educação para Todos
Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (também chamada de Declaração
de Barcelona)
(widipedia)
.
Finalmente, como resultado de vários esforços no sentido de consolidar um consenso internacional em torno da defesa dos princípios dos Direitos Humanos, foram criados Tribunais Internacionais: A Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, ambos com sede em Haia.
Tribunal Internacional de Justiça
O Tribunal Internacional de Justiça ou Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário da Organização das Nações Unidas. Tem sede em Haia, nos Países Baixos. Por isso, também costuma ser denominada como Corte da Haia ou Tribunal da Haia. Sua sede é o Palácio da Paz.Foi instituído pelo artigo 92 da Carta das Nações Unidas: « A Corte Internacional de Justiça constitui o órgão judiciário principal das Nações Unidas. Funciona de acordo com um Estatuto estabelecido com base no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e anexado à presente Carta da qual faz parte integrante."
Foi fundado em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Corte Permanente de Justiça Internacional, instaurada pela Sociedade das Nações.
O Tribunal Internacional de Justiça não deve ser confundido com a Corte Penal Internacional, que tem competência para julgar indivíduos e não Estados.
Tribunal Penal Internacional Permanente
Em julho de 1998, representantes de cento e vinte países reunidos em uma conferência em Roma aprovaram o projeto de criação de um Tribunal Penal Internacional Permanente, também com sede na Haia, nos Países Baixos.
O objetivo da CPI é promover o Direito internacional, e seu mandato é de julgar os indivíduos e não os Estados (tarefa do Tribunal Internacional de Justiça). Ela é competente somente para os crimes mais graves cometidos por indivíduos: genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e os crimes de agressão. O nascimento de uma jurisdição permanente universal é um grande passo em direção da universalidade dos Direitos humanos e do respeito do direito internacional
A corte tem competência para julgar os responsáveis por crimes de guerra, genocídios e crimes contra a humanidade quando os tribunais nacionais não puderem ou não quiserem processar os criminosos. Sete nações votaram contra o projeto (EUA, China, Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e Qatar) e outras vinte e uma se abstiveram. Os EUA justificam seu veto por não concordarem com a independência do tribunal em relação ao Conselho de Segurança da ONU – ainda que essa autonomia não seja total. Pelo documento aprovado, o Conselho de Segurança poderá bloquear uma investigação se houver consenso entre seus membros permanentes. O governo americano também teme que seus soldados envolvidos em guerras como as do Afeganistão e Iraque venham a ser julgados pelo tribunal. (wiki)
A esta Corte Penal Internacional qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, pode se dirigir, diretamente, no caso de sentir-se violada em algum dos direitos consignados como intrínsecos à condição humana. O Brasil é signatário do Tratado deste Tribunal desde 25 de setembro de 2002.
Embora uma parcela considerável da população mundial e grande parte do território do planeta tenham ficado fora da jurisdição do Tribunal, mais de dois terços dos Estados que integram a ONU subscreveram o Tratado de Roma, manifestando, assim, ainda que implicitamente, no caso daqueles que ainda não o ratificaram, a intenção de colaborar com a nova Corte. Nada impede, de resto, que aqueles que não aderiram ao acordo o façam num momento posterior ou submetam, desde logo, certos casos à jurisdição do Tribunal, numa base ad hoc, como permite seu Estatuto.
Seja como for, a relevância histórica do Tratado não pode ser subestimada, pois a mera existência do Tribunal, como anotou Flávia Piovesan, em artigo recentemente publicado, terá o condão de limitar o darwinismo no campo das relações internacionais, onde prevalece a lei dos Estados mais fortes em face das nações mais débeis (17). Mas a maior contribuição que a nova Corte poderá dar para consolidar a paz, a segurança e o respeito aos direitos humanos no mundo será fazer com que ele transite de uma cultura de impunidade para uma cultura de responsabilidade .
(Enrique Ricardo Lewandowski - http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000200012)
Hoje, a perseguição destes imperativos todos , acrescidos do compromisso com a sustentabilidade do desenvolvimento no planeta, aprovado pela Eco-92, também convocada pela ONU, no Rio de Janeiro, se constitui em verdadeira estratégia da humanidade para o século XXI e contempla um elenco indivisivel , único e complementar de direitos civis, direitos políticos e direitos sócio-econômicos. Pela importância dos documentos, remeto a todos os interessados ao site http://www.paulotimm.com.br/site/downloads/lib/pastaup/Obras%20do%20Timm/111204105854Documento1.pdf, onde estão postados. Recomendo, também, o acesso ao site
o qual não só tem todos estes documentos oficiais relativos a Direitos Humanos, como uma vasta lista de ONGs voltadas à sua defesa e um cotidiano acompanhamento de matérias publicadas no Brasil sobre o assunto. Aqui, por exigüidade do espaço, como lembrança e homenagem a todos aqueles que lutam pelos Direitos Humanos, reproduzo, apenas o artigo 1º da DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS , com os respectivos “Considerandos”, cuja síntese não é ,nada mais, nada menos do que a Boa Nova celebrada em todas as religiões : Somos todos irmãos.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III)
da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948
Preâmbulo
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da
paz no mundo,
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que
os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do
temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum,
Considerandoessencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito,
para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a
opressão,
Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos
humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos
dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores
condições de vida em uma liberdade mais ampla,
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e
a observância desses direitos e liberdades,
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta
importância para o pleno cumprimento desse compromisso,
A Assembléia Geral proclama
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por
todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.
EDITORIAL CULTUAL FM Torres –09 DEZ. 2025
DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
No dia 10 de dezembro de 1948, na recém criada Assembléia da Organização das Nações
Unidas - , Brasil presente, aprovou-se o Estatuto dos Direitos Humanos. Depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão , na Revolução Francesa, em 1789, este foi um marco da civilização. Teve como antecedente imediato o horror humanitário diante dos 40 milhões de mortos no combate ao nazi-fascismo durante a II Guerra Mundial e , como perspectiva, a precaução à todas as formas de violência contra a dignidade humana. Embora não seja um documento mandatório aos países da ONU, ele serviu como base para os dois tratados sobre direitos humanos , com força legal, o Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Anos mais tarde, em 1995, a Assembléia Geral decidiu, também, nas comemorações do seu cinquentenário, celebrá-lo como “Ano da Tolerância”, através da aprovação de uma “Carta da Tolerância”. Esta contém. os princípios do respeito que se deve nutrir pelos semelhantes. A escolha do nome “Tolerância” foi um reconhecimento de que a organização ainda estava longe de alcançar os objetivos para os quais havia sido criada, a saber, a paz mundial. Com o tempo, o próprio termo “Tolerância” foi abandonado como incapaz de traduzir o sentimento que deve nortear a convivência entre supostos diferentes: o amor e não apenas o respeito.
A luta pelos Direitos Humanos, porém, não se esgotou na Declaração de 1948. Vários outros documentos ampliaram os conceitos aí contidos e os explicitaram para outros segmentos da sociedade, considerados vulneráveis, como as crianças, ou campos da vida humana, como a cultura:
Declaração de Salamanca
Processo de Bolonha
Declaração Universal dos Direitos da Criança
Convenção sobre os Direitos da Criança
Declaração Mundial sobre Educação para Todos
Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (também chamada de Declaração
de Barcelona)
(widipedia)
.
Finalmente, como resultado de vários esforços no sentido de consolidar um consenso internacional em torno da defesa dos princípios dos Direitos Humanos, foram criados Tribunais Internacionais: A Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, ambos com sede em Haia.
Tribunal Internacional de Justiça
O Tribunal Internacional de Justiça ou Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário da Organização das Nações Unidas. Tem sede em Haia, nos Países Baixos. Por isso, também costuma ser denominada como Corte da Haia ou Tribunal da Haia. Sua sede é o Palácio da Paz.Foi instituído pelo artigo 92 da Carta das Nações Unidas: « A Corte Internacional de Justiça constitui o órgão judiciário principal das Nações Unidas. Funciona de acordo com um Estatuto estabelecido com base no Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e anexado à presente Carta da qual faz parte integrante."
Foi fundado em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Corte Permanente de Justiça Internacional, instaurada pela Sociedade das Nações.
O Tribunal Internacional de Justiça não deve ser confundido com a Corte Penal Internacional, que tem competência para julgar indivíduos e não Estados.
Tribunal Penal Internacional Permanente
Em julho de 1998, representantes de cento e vinte países reunidos em uma conferência em Roma aprovaram o projeto de criação de um Tribunal Penal Internacional Permanente, também com sede na Haia, nos Países Baixos.
O objetivo da CPI é promover o Direito internacional, e seu mandato é de julgar os indivíduos e não os Estados (tarefa do Tribunal Internacional de Justiça). Ela é competente somente para os crimes mais graves cometidos por indivíduos: genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e os crimes de agressão. O nascimento de uma jurisdição permanente universal é um grande passo em direção da universalidade dos Direitos humanos e do respeito do direito internacional
A corte tem competência para julgar os responsáveis por crimes de guerra, genocídios e crimes contra a humanidade quando os tribunais nacionais não puderem ou não quiserem processar os criminosos. Sete nações votaram contra o projeto (EUA, China, Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e Qatar) e outras vinte e uma se abstiveram. Os EUA justificam seu veto por não concordarem com a independência do tribunal em relação ao Conselho de Segurança da ONU – ainda que essa autonomia não seja total. Pelo documento aprovado, o Conselho de Segurança poderá bloquear uma investigação se houver consenso entre seus membros permanentes. O governo americano também teme que seus soldados envolvidos em guerras como as do Afeganistão e Iraque venham a ser julgados pelo tribunal. (wiki)
A esta Corte Penal Internacional qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, pode se dirigir, diretamente, no caso de sentir-se violada em algum dos direitos consignados como intrínsecos à condição humana. O Brasil é signatário do Tratado deste Tribunal desde 25 de setembro de 2002.
Embora uma parcela considerável da população mundial e grande parte do território do planeta tenham ficado fora da jurisdição do Tribunal, mais de dois terços dos Estados que integram a ONU subscreveram o Tratado de Roma, manifestando, assim, ainda que implicitamente, no caso daqueles que ainda não o ratificaram, a intenção de colaborar com a nova Corte. Nada impede, de resto, que aqueles que não aderiram ao acordo o façam num momento posterior ou submetam, desde logo, certos casos à jurisdição do Tribunal, numa base ad hoc, como permite seu Estatuto.
Seja como for, a relevância histórica do Tratado não pode ser subestimada, pois a mera existência do Tribunal, como anotou Flávia Piovesan, em artigo recentemente publicado, terá o condão de limitar o darwinismo no campo das relações internacionais, onde prevalece a lei dos Estados mais fortes em face das nações mais débeis (17). Mas a maior contribuição que a nova Corte poderá dar para consolidar a paz, a segurança e o respeito aos direitos humanos no mundo será fazer com que ele transite de uma cultura de impunidade para uma cultura de responsabilidade .
(Enrique Ricardo Lewandowski - http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000200012)
Hoje, a perseguição destes imperativos todos , acrescidos do compromisso com a sustentabilidade do desenvolvimento no planeta, aprovado pela Eco-92, também convocada pela ONU, no Rio de Janeiro, se constitui em verdadeira estratégia da humanidade para o século XXI e contempla um elenco indivisivel , único e complementar de direitos civis, direitos políticos e direitos sócio-econômicos. Pela importância dos documentos, remeto a todos os interessados ao site http://www.paulotimm.com.br/site/downloads/lib/pastaup/Obras%20do%20Timm/111204105854Documento1.pdf, onde estão postados. Recomendo, também, o acesso ao site
o qual não só tem todos estes documentos oficiais relativos a Direitos Humanos, como uma vasta lista de ONGs voltadas à sua defesa e um cotidiano acompanhamento de matérias publicadas no Brasil sobre o assunto. Aqui, por exigüidade do espaço, como lembrança e homenagem a todos aqueles que lutam pelos Direitos Humanos, reproduzo, apenas o artigo 1º da DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS , com os respectivos “Considerandos”, cuja síntese não é ,nada mais, nada menos do que a Boa Nova celebrada em todas as religiões : Somos todos irmãos.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III)
da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948
Preâmbulo
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da
paz no mundo,
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que
os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do
temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum,
Considerandoessencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito,
para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a
opressão,
Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos
humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos
dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores
condições de vida em uma liberdade mais ampla,
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e
a observância desses direitos e liberdades,
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta
importância para o pleno cumprimento desse compromisso,
A Assembléia Geral proclama
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por
todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –08 DEZ. 2025
www.culturalfm.com
Amor numa hora dessas?
O ódio contra meninas e meninos mais frágeis nasce nas
famílias e na cultura, e se espalha nas ruas, nas salas de aula e
pátios escolares
Por - Daniel Becker 07-XII - https://oglobo.globo.com/blogs/daniel-
becker/post/2025/12/amor-numa-hora-dessas.ghtml
“Pensem nas crianças / mudas telepáticas / pensem nas
meninas / cegas inexatas / pensem nas mulheres / rotas
alteradas...”
Vinicius falava da bomba nuclear em seu poema. Mas nos
últimos dias a crueldade vem explodindo sobre nós em
dimensões atômicas.
A violência contra a mulher vem se agravando há muito tempo,
tomando proporções epidêmicas no país. Nos últimos dias os
casos se sucedem, mais e mais cruéis. Atropelamentos,
amputações, execuções. Mulheres desfiguradas, estranguladas,
espancadas, queimadas, torturadas, sempre por homens.
Violências de toda ordem: física, sexual, moral, psicológica,
patrimonial. Rotas alteradas, aos milhões.
Nossa cultura sempre tratou as mulheres como propriedade de
homens, que as culpam pelos limites impostos à masculinidade
tradicional. A misoginia se amplifica, pregando a submissão da
mulher.
Mas essa não é a única forma de violência que chama a
atenção. As escolas também têm sido foco de episódios de
crueldade que chega às raias do incompreensível, ainda mais
porque vinda de crianças e adolescentes. Esta semana um
menino perdeu um olho numa escola do Rio. Ele era motivo de
chacota por um glaucoma congênito, e já havia sofrido diversos
episódios de bullying, alguns muito graves. A deficiência como
motivo para o assédio. A mãe procurou escola e Conselho
Tutelar e nada foi feito. E agora ele ficou parcialmente cego.
Em agosto, uma menina em Mato Grosso foi espancada por
quatro outras por negar um doce. A investigação descobriu que
alunos haviam formado uma “facção” na escola, inspirada no
crime organizado. Em Pernambuco, uma menina foi espancada
por se negar a beijar um colega e morreu por hemorragia
craniana.
Em 2023, dos mais de 13 mil casos de violência interpessoal em
escolas foram registrados pelo SUS (uma fração do número
real), 60% foram contra meninas. Em 5 anos, a SaferNet
recebeu mais de 74 mil denúncias de misoginia on-line. O ódio
contra meninas e meninos mais frágeis nasce nas famílias e na
cultura, e se espalha nas ruas, nas salas de aula, pátios e
banheiros escolares. E se multiplica nas redes sociais, que
parecem só estimular o pior em nós. Afinal, a violência e o ódio
engajam muito mais que a gentileza e o amor.
A resposta sobre as causas da crueldade entre crianças é
complexa. Mas a consequência é certa: se não trabalharmos a
violência na infância, e especialmente a educação dos meninos,
na família e na escola, a misoginia, o feminicídio e o ódio em
geral continuarão cada vez mais vivos.
Contra a crueldade, o amor. Matin Luther King disse: “Só a luz
pode expulsar a escuridão. Da mesma forma, o ódio não pode
expulsar o ódio; apenas o amor pode fazê-lo”. Precisamos
educar nossos filhos com limites e firmeza, mas com afeto,
diálogo e gentileza. Isso é ser exemplo. Assim como tratar bem
a todos, inclusive quem tem menos poder e dinheiro. Ser
solidário e ajudar quem sofre ou é oprimido. Ensinar meninos a
cuidar – da casa, das bonecas, de irmãos. Mostrar que podem e
devem expressar emoções e chorar. Falar de igualdade de
direitos e diversidade. Ensinar às meninas que elas podem tudo,
que são fortes. Escolas devem educar para a paz, contra o
bullying e todas as formas de intolerância, com participação e
debate aberto. Ensinar como resistir à violência e combater a
crueldade quando ela surgir.
Precisamos de políticas públicas para produção da paz em
comunidades pobres. De formação de professores e da
regulação das redes, que está chegando com o ECA digital.
Misoginia deve ser considerada crime, assim como a homofobia,
o racismo e o bullying, seus irmãos, já o são.
“Filha do medo, a raiva é mãe da covardia", nos diz Chico em
Caravanas. E Mandela completa: “Ninguém nasce odiando outra
pessoa. Se as pessoas podem aprender a odiar, podem ser
ensinadas a amar."
EDITORIAL CULTUAL FM Torres – 05 DEZ.2025
05 de dezembro - DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRIO-
almanaquedobem.com
Dia Internacional do Voluntário
https://www.portalsaofrancisco.com.br/…/dia-internacional-d…
Quando pensamos na ação voluntária, associamos imediatamente à idéia de alguém numa situação superior que vai de encontro ao inferior, ao carente, ao necessitado de ajuda. E é normal que pensemos assim.
No episódio das torres gêmeas, em Nova Iorque, por exemplo, assistimos muitas pessoas auxiliando os bombeiros a tentar achar sobreviventes entre os destroços e mesmo a limpar a área atingida.
Uma imagem que nos faz pensar no que foi dito acima: pessoas que estão livre do problema em questão ajudando os que se encontram em situação difícil.
Mas acontece que o ato do voluntariado é algo bem mais profundo e sensível.
Estendermos as mãos ao próximo, ao semelhante, é um ato que exige primeiro coragem, ou seja, disposição em se comprometer, em doar seu tempo ou seu talento, segundo generosidade, que também pode ser entendida como real solidariedade, aquela que não espera nada em troca, e terceiro que enfrentemos nossa própria fraqueza.
E estar diante da própria fraqueza é admitir que, ao ajudar, queremos nos sentir melhores, curar nossas próprias feridas, superar nossas próprias limitações.
***
Dia Internacional do Voluntário
05 de Dezembro
Desde 1985 , a Organizações das Nações Unidas instituiu o dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Voluntário.
O objetivo da ONU é fazer com que, ao redor do mundo, sejam promovidas ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade.
No Brasil, já existem diversas iniciativas em favor do desenvolvimento de práticas de voluntariado.
É fundamental que cada voluntário saiba que, como ele, há milhões de pessoas no mundo dando a sua própria contribuição para o alcance das metas traçadas pelas Nações Unidas.
***
Dia Internacional do Voluntário
O Voluntariado
Segundo definição das Nações Unidas, “o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos…”
Em recente estudo realizado na Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, definiu-se o voluntário como ator social e agente de transformação, que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade; doando seu tempo e conhecimentos, realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa, como às suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político, emocional.
Quando nos referimos ao voluntário contemporâneo, engajado, participante e consciente, diferenciamos também o seu grau de comprometimento: ações mais permanentes, que implicam em maiores compromissos, requerem um determinado tipo de voluntário, e podem levá-lo inclusive a uma “profissionalização voluntária”; existem também ações pontuais, esporádicas, que mobilizam outro perfil de indivíduos.
Ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário descobrem-se, entre outros, dois componentes fundamentais: o de cunho pessoal, a doação de tempo e esforço como resposta a uma inquietação interior que é levada à prática, e o social, a tomada de consciência dos problemas ao se enfrentar com a realidade, o que leva à luta por um ideal ou ao comprometimento com uma causa.
Altruísmo e solidariedade são valores morais socialmente constituídos vistos como virtude do indivíduo. Do ponto de vista religioso acredita-se que a prática do bem salva a alma; numa perspectiva social e política, pressupõe-se que a prática de tais valores zelará pela manutenção da ordem social e pelo progresso do homem.
A caridade (forte herança cultural e religiosa), reforçada pelo ideal, as crenças, os sistemas de valores, e o compromisso com determinadas causas são componentes vitais do engajamento.
Não se deve esquecer, contudo, o potencial transformador que essas atitudes representam para o crescimento interior do próprio indivíduo.
Como ser um bom voluntário
A maioria das entidades beneficentes no Brasil ainda são muito pequenas, e não têm programas de voluntariado.
Qualquer pessoa pode ser voluntária, independente do grau de escolaridade ou idade, o importante é ter boa vontade e responsabilidade.
Neste site existem mais de 4.850 entidades cadastradas, pesquise uma perto da sua casa ou trabalho, veja se a área de atuação da entidade está de acordo com a sua intenção de trabalho, e depois da escolha marque um dia para conhece-la pessoalmente.
Se não der certo com a primeira entidade, não desista, tem muita gente precisando da sua ajuda. Tente outra vez.
E se tudo der certo, ótimo! Sinta como a entidade funciona, e do que ela necessita, talvez você tenha que pesquisar um pouquinho e sugerir uma tarefa.
Por exemplo, pintar a entidade por fora ou por dentro, cadastrar doadores no computador, ajudar a organizar um evento ou fazer uma festa. A iniciativa é sua.
Seja humilde. O fato de você estar ajudando os outros não significa que você será paparicado e que seu trabalho não possa ser criticado.
O trabalho voluntário exige o mesmo grau de profissionalismo que em uma empresa, se não maior.
Existem regras a seguir, por mais meritória a causa, e não desanime se nem todos vibrarem e baterem palmas pelo seu trabalho.
Por que ser um voluntário?
A grande maioria dos voluntários no Brasil querem:
- Ajudar a resolver parte dos problemas sociais do Brasil.
2. Sentir-se útil e valorizado.
3. Fazer algo diferente no dia a dia.
4. 54% dos jovens no Brasil querem ser voluntários, mas não sabem como começar.
Agora não tem desculpa. Pesquise as entidades perto de você e seja um voluntário.
Voluntários vivem mais e com maior saúde!
Allan Luks, em The Healing Power Of Doing Good, descobriu que pessoas que ajudam os outros têm consistentemente melhor saúde. Oito em dez dos entrevistados afirmaram que os benefícios para a saúde retornavam quando eles se lembravam da ação feita em anos anteriores.
Estudo da Universidade de Michigan constatou que homens que faziam menos trabalhos voluntários eram significantemente mais propensos a morrer.
Fonte: www.voluntarios.com.br
Voluntariado individual
Organize oportunidades para profissionais dividirem seus conhecimentos e experiências.
Realize workshops e palestras sobre temas diversos e importantes para a população.
Organize campanhas sociais sobre tópicos significativos, como prevenção ao uso de drogas, combate à AIDS, à violência, ao trabalho infantil,etcMonte um grupo e vá de casa em casa explicando aos moradores como tratar a água, aproveitar melhor os alimentos, prevenir doenças, etc
Promova apoio aos doentes através de visitas aos hospitais, campanhas de doação de medicamentos, doação de sangue, programas de vacinação, mutirões para examinar gratuitamente pessoas carentes, etc
Visite crianças em orfanatos, distribua refeições, promova um dia especial para meninos carentes com passeios e brincadeiras, colete e distribua roupas usadas e alimentos não-perecíveis,etc
Estabeleça uma linha direta para pessoas aflitas, que precisam desabafar, e lhes dê conselhos e apoio.
Voluntariado no meio ambiente
Organize mutirões para promover o reflorestamento de áreas devastadas.
Coordene eventos onde as pessoas transformem terrenos baldios em hortas comunitárias ou parques públicos.
Convide ambientalistas, agrônomos e agricultores para darem palestras sobre como cultivar hortas saudáveis e a importância de se cuidar bem da terra.
Limpe praias, rios, parques, reservas naturais, praças públicas e pode as árvores de sua cidade.
Voluntariado em comunidades ou empresas
Promova uma campanha de doação de tempo, onde os interessados destinem horas de serviço voluntário para projetos específicos.
Limpe escolas, centros comunitários, hospitais, igrejas, lugares históricos,etc.
Ajude a restaurar ou construir instituições para órfãos, menores abandonados, moradores de rua, deficientes carentes, etc.
Promova uma campanha para montar uma biblioteca, igreja, escola, posto de saúde, centro poliesportivo ou algum outro prédio que venha a ser útil para a sua comunidade.
Estimule e ajude empresas interessadas em montar um programa de voluntariado corporativo.
Fonte: almanaquedobem.com
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –04 DEZ 2025
O ADVENTO
O "advento" é o período de quatro semanas que antecede o Natal ,
iniciando-se, na tradição católica, no primeiro domingo deste
interregno por missas anunciadoras deste tempo, em todos os
cantos do mundo. Trata-se de um período de reflexão e espera, na
expectativa da “Boa Nova” trazida pelo Natal. É um momento para
que nos preparemos para a reunificação das famílias, dos homens
de boa vontade e de todos os povos do mundo, sem rancores , sem
preconceitos, sem outro sentimento que aquele ocupado pelo Amor.
Sim, porque a grande ceia da noite de Natal não é senão um
artifício para a celebração da concórdia entre todos nós. É a
confirmação do Amor, que estará naquela Ceia, no momento da
reunião familiar, quando centenas e até milhares de quilômetros
foram tragados por ansiosos passos em direção a este encontro. -
“Para onde voltamos sempre? Para casa” , se perguntava e
respondia o filósofo Novallis. Pois é em casa, no amplexo familiar,
que renovamos as energias afetivas para enfrentar as adversidades
de um ano novo que já se anuncia. Um ritual, mas que contribui
para pontualizar a monotonia do tempo e das coisas . É em casa,
enfim, que a dor dói menos e a alegria é mais alegre.
O "advento" foi celebrado na Idade Média com belos cantos
gregorianos, os quais que induzem à meditação e ao mistério-
http://www.youtube.com/v/lfwuZaf6WXw&fs=1&source=uds&autopla
y=1 . Esses belos cânticos, aliás, podem ser ouvidos na Radio Mec
- www.radiomec.com.br - durante os domingos, pela manhã no mês
de dezembro. E aqui fica a conclamação para que todas as Rádios,
comerciais, culturais e comunitárias, façam o mesmo.
Aproveitemos, pois, o Advento, para pensar um pouco no mundo -
ocidental - em que vivemos, pluri-cultural, multi-étnico, democrático,
embora essencialmente cristão -, como síntese da razão helênica
cevada na antiga Grécia e a fé de um homem simples que
peregrinou pela Galileia e deixou, indelével, sua mensagem.
Hoje vivemos um momento difícil de nossa História. A razão e a
liberdade, que pareciam sustentar a construção de um homem
capaz de construir seu próprio destino, transformaram-se no seu
oposto. As esperanças de um mundo melhor parecem soterradas
na multiplicação sem par da miséria, na destruição do Planeta, na
disseminação do vício e da depressão.
Há cem anos era outro o estado de espírito da humanidade. Havia
um grande otimismo entre cientistas, políticos e artistas que faziam
da capital do mundo, Paris, com sua elegante Torre Eiffel, recém
construída, com suas grandes feiras industriais, com suas avenidas
coalhadas de poetas e pintores, uma verdadeira consagração do
mundo novo. Acreditava-se, piamente, que o Reino da
Necessidade, do obscurantismo, das perseguições, estaria
superado em pouco tempo.
Hoje, esse otimismo cedeu lugar à duvida, em alguns casos ao
pessimismo, nos mais agudos, ao desespero. E o pior, parece que
todos rumamos para esse desespero. Fomos “descontruídos” pela
filosofia, pela política, pela arte, pela realidade de um mundo
marcado por duas grande querras que liquidaram praticamente 100
milhões de pessoas no século passado. O sonho do progresso e de
paz num planeta outrora verde transformou-se no pesadelo do
holocausto nuclear. Esta decomposição pode ser vista, como já
dizia o filósofo Cornelius Castoriadis, em 1993 (A Encruzilhada do
Labirinto) “sobretudo, no desaparecimento das significações,no
desaparecimento quase completo dos valores. E este
desaparecimento é, a termo, ameaçador para a sobrevivência do
próprio sistema”.
O que aconteceu...?
Não é fácil responder à esta indagação. Ela move e comove
pessoas do todos os matizes religiosos e ideológicos.
Uma das principais contradições da civilização ocidental talvez seja
sua obstinação em reduzir todas as suas conquistas ao Mercado, e
do Mercado ao dinheiro. Numa sociedade na qual se vale pelo que
se tem, onde o enriquecimento é a medida dos valores sociais e na
qual o lucro se converte no objetivo último da atividade econômica,
a razão se instrumentaliza a serviço dessa causa. Sobra, na
margem, um pequeno espaço para a caridade cristã, para a a ação
de obstinadas ONGs, quando não contaminadas por interesses
espúrios de políticos inescrupulosos, para a proliferação de clubes
de serviços sociais e outros afins. Mas o que é realmente levado a
sério é lucratividade dos setores ditos produtivos, cujo vigor acabará
determinando o nível de emprego e salário, o quantum de
arrecadação de impostos e o volume do comércio em nível global.
Essa razão instrumentalizada para o sacrossanto lucro empresarial
é levada às últimas conseqüências e , na verdade, acaba se
transformando no seu contrário: a des-razão. O que é a
especulação financeira em giros meteóricos, sob o influxo da
telemática e que devora países inteiros pela crise, senão uma
verdadeira paranóia? Como sustentar valores morais, que estão no
cerne da condição humana, como um ser capaz de pensar e erigir-
se socialmente sob o império da Lei, quando um “valor mais
levanta” e impõe sobre todos os demais a sua própria lei, que é a
da supremacia do ter sobre o ser?
O que fizemos da liberdade conquistada, do progresso conquistado,
da razão domada? Onde pusemos o ensinamento platônico de que
primeiro deveríamos velar pelas virtudes, depois pela razão?
Nada...
E assim, de sujeitos capazes , dotados de razão, liberdade e
progresso, na rota do projeto iluminista ocidental da autonomia
humana, fomos, nos degradando.
Aproveitemos, pois, o Advento, o Natal e esse momento de trégua
para uma reflexão sobre nosso destino, hoje ameaçado pela
iminência de um holocausto nuclear. Há tempo para tudo. Agora é
hora de pensar. E pensar com coragem. Com o sentimento de que
seremos imortais por esse pensar e agir. E não apenas só por
orações.
* Coluna originalmente escrita por Paulo Timm em dezembro de
2009 e é adaptada, apenas, a cada ano subseqüente.
Editorial Cultural FM Torres RS -02 DEZ 2025
O ADVENTO
O "advento" é o período de quatro semanas que antecede o Natal ,
iniciando-se, na tradição católica, no primeiro domingo deste
interregno por missas anunciadoras deste tempo, em todos os
cantos do mundo. Trata-se de um período de reflexão e espera, na
expectativa da “Boa Nova” trazida pelo Natal. É um momento para
que nos preparemos para a reunificação das famílias, dos homens
de boa vontade e de todos os povos do mundo, sem rancores , sem
preconceitos, sem outro sentimento que aquele ocupado pelo Amor.
Sim, porque a grande ceia da noite de Natal não é senão um
artifício para a celebração da concórdia entre todos nós. É a
confirmação do Amor, que estará naquela Ceia, no momento da
reunião familiar, quando centenas e até milhares de quilômetros
foram tragados por ansiosos passos em direção a este encontro. -
“Para onde voltamos sempre? Para casa” , se perguntava e
respondia o filósofo Novallis. Pois é em casa, no amplexo familiar,
que renovamos as energias afetivas para enfrentar as adversidades
de um ano novo que já se anuncia. Um ritual, mas que contribui
para pontualizar a monotonia do tempo e das coisas . É em casa,
enfim, que a dor dói menos e a alegria é mais alegre.
O "advento" foi celebrado na Idade Média com belos cantos
gregorianos, os quais que induzem à meditação e ao mistério-
http://www.youtube.com/v/lfwuZaf6WXw&fs=1&source=uds&autopla
y=1 . Esses belos cânticos, aliás, podem ser ouvidos na Radio Mec
- www.radiomec.com.br - durante os domingos, pela manhã no mês
de dezembro. E aqui fica a conclamação para que todas as Rádios,
comerciais, culturais e comunitárias, façam o mesmo.
Aproveitemos, pois, o Advento, para pensar um pouco no mundo -
ocidental - em que vivemos, pluri-cultural, multi-étnico, democrático,
embora essencialmente cristão -, como síntese da razão helênica
cevada na antiga Grécia e a fé de um homem simples que
peregrinou pela Galileia e deixou, indelével, sua mensagem.
Hoje vivemos um momento difícil de nossa História. A razão e a
liberdade, que pareciam sustentar a construção de um homem
capaz de construir seu próprio destino, transformaram-se no seu
oposto. As esperanças de um mundo melhor parecem soterradas
na multiplicação sem par da miséria, na destruição do Planeta, na
disseminação do vício e da depressão.
Há cem anos era outro o estado de espírito da humanidade. Havia
um grande otimismo entre cientistas, políticos e artistas que faziam
da capital do mundo, Paris, com sua elegante Torre Eiffel, recém
construída, com suas grandes feiras industriais, com suas avenidas
coalhadas de poetas e pintores, uma verdadeira consagração do
mundo novo. Acreditava-se, piamente, que o Reino da
Necessidade, do obscurantismo, das perseguições, estaria
superado em pouco tempo.
Hoje, esse otimismo cedeu lugar à duvida, em alguns casos ao
pessimismo, nos mais agudos, ao desespero. E o pior, parece que
todos rumamos para esse desespero. Fomos “descontruídos” pela
filosofia, pela política, pela arte, pela realidade de um mundo
marcado por duas grande querras que liquidaram praticamente 100
milhões de pessoas no século passado. O sonho do progresso e de
paz num planeta outrora verde transformou-se no pesadelo do
holocausto nuclear. Esta decomposição pode ser vista, como já
dizia o filósofo Cornelius Castoriadis, em 1993 (A Encruzilhada do
Labirinto) “sobretudo, no desaparecimento das significações,no
desaparecimento quase completo dos valores. E este
desaparecimento é, a termo, ameaçador para a sobrevivência do
próprio sistema”.
O que aconteceu...?
Não é fácil responder à esta indagação. Ela move e comove
pessoas do todos os matizes religiosos e ideológicos.
Uma das principais contradições da civilização ocidental talvez seja
sua obstinação em reduzir todas as suas conquistas ao Mercado, e
do Mercado ao dinheiro. Numa sociedade na qual se vale pelo que
se tem, onde o enriquecimento é a medida dos valores sociais e na
qual o lucro se converte no objetivo último da atividade econômica,
a razão se instrumentaliza a serviço dessa causa. Sobra, na
margem, um pequeno espaço para a caridade cristã, para a a ação
de obstinadas ONGs, quando não contaminadas por interesses
espúrios de políticos inescrupulosos, para a proliferação de clubes
de serviços sociais e outros afins. Mas o que é realmente levado a
sério é lucratividade dos setores ditos produtivos, cujo vigor acabará
determinando o nível de emprego e salário, o quantum de
arrecadação de impostos e o volume do comércio em nível global.
Essa razão instrumentalizada para o sacrossanto lucro empresarial
é levada às últimas conseqüências e , na verdade, acaba se
transformando no seu contrário: a des-razão. O que é a
especulação financeira em giros meteóricos, sob o influxo da
telemática e que devora países inteiros pela crise, senão uma
verdadeira paranóia? Como sustentar valores morais, que estão no
cerne da condição humana, como um ser capaz de pensar e erigir-
se socialmente sob o império da Lei, quando um “valor mais
levanta” e impõe sobre todos os demais a sua própria lei, que é a
da supremacia do ter sobre o ser?
O que fizemos da liberdade conquistada, do progresso conquistado,
da razão domada? Onde pusemos o ensinamento platônico de que
primeiro deveríamos velar pelas virtudes, depois pela razão?
Nada...
E assim, de sujeitos capazes , dotados de razão, liberdade e
progresso, na rota do projeto iluminista ocidental da autonomia
humana, fomos, nos degradando.
Aproveitemos, pois, o Advento, o Natal e esse momento de trégua
para uma reflexão sobre nosso destino, hoje ameaçado pela
iminência de um holocausto nuclear. Há tempo para tudo. Agora é
hora de pensar. E pensar com coragem. Com o sentimento de que
seremos imortais por esse pensar e agir. E não apenas só por
orações.
* Coluna originalmente escrita por Paulo Timm em dezembro de
2009 e é adaptada, apenas, a cada ano subseqüente.
EDITORIAL CULTURAL FM Torres –01 DEZ. 2025
Primeiro a República, depois a Democracia, então as
alternativas ideológicas
Ultrapassamos o mês de novembro, sempre muito conturbado
politicamente no Brasil, aí se inserindo, no dia 15 a
Proclamação da República. Muitos, diante daquele fato, já
distante, continuam duvidando de seus caráter e
consequências. Gostariam ter visto, talvez, uma grande marcha
popular sobre os palácios imperiais da Família de Bragança,
desfraldando um novo tempo imediatamente mágico de
realizações sociais. Na Revolução Francesa aconteceu mais ou
menos isso, na Queda da Bastilha, no 14 de julho de 1789,
umbral da Idade Moderna, entranhada pelas mudanças trazidas
pelas Grandes Navegações do século XVI. Não obstante, apesar
do ímpeto revolucionário, Luiz XVI e sua consorte, Maria
Antonieta, soberanos naquele país, apenas se incomodaram
ligeiramente com o ruído dos revoltosos. Conta-se, até, que ao
acordar naquela manhã, ouvindo esse ruído, teria indagado a
seu mordomo, o que estaria acontecendo na cozinha, ao que
este teria respondido atônico: - “Majestade, é uma Revolução”.
Luiz XVI nem se preocupou, continuou sua ablações matinais e
seguiu com sua vida cortesã até 1793, quando, assustado,
pediu a intervenção das coroas vizinhas em seu apoio. Deu uma
de Eduardo Bolsonaro.. Foi seu grande erro. Até ali, a Revolução
havia sido condescendente com a Monarquia. Bastou a traição,
para que o Terror chegasse a Luiz XVI cortando-lhe, não só a
cabeça, como a instituição que representava: A monarquia
absolutista. E mesmo assim, Napoleão se coroaria imperador
ainda que consolidando avanços republicanos. Pois assim
caminham as instituições civilizatórias, aos poucos, nunca de
um lance só. A democracia, por exemplo, não nasce
espontaneamente num surto, mesmo revolucionário. No mundo
ocidental ela partiu da conquista dos Direitos Civis, na
Inglaterra do João sem Terra, avançou sobre os Direitos
Políticos com a Revolução Francesa, culminando na criação de
Partidos Políticos com clivagens sociais e ideológicas ao final
do século XIX e culminou no Século XX com os Direitos Sociais.
Daí Norberto Bobbio dizer que o século XX é o Século dos
Direitos quando o cidadão, além de DEVERES perante o Estado,
passou a ter DIREITOS. Ainda assim, agora, no século XXI
estamos avançando no circuito dos Direitos Culturais e
Ambientais. Um longo processo, portanto, de construção da
democracia. É o que está acontecendo com nosso país. Fizemos
a Independência, em 1822, marco da nossa autonomia política
da Metrópoles, Proclamamos a República, em 1889, com dois
marcos importantes – fim do Poder Moderador e separação da
Igreja do Estado - ; avançamos na Revolução de 1930 como um
passo importantes para a construção de maior soberania
econômica, via industrialização e instituição de escolas
públicas e gratuitas , montagem de instituições reguladoras do
Estado em suas relações com a Sociedade, reconhecimento da
cidadania dos trabalhadores; e continuamos avançando com a
Constituinte que resultou na Contituição Cidadã de 1988, a
única verdadeiramente democrática, tanto em consequência do
número de eleitores , quanto ao processo que a acompanhou.
Ritmo lento, sem dúvida, em razão do forte caráter excludente
de nossa sociedade, marcada pela escravidão, pelo
colonialismo, pela alienação de nossas elites governantes, mas
irrecorrível.
Em 1975 um computador fazia 1000 operações por segundo,
hoje faz mais de 200 mil...
EDITORIAL -Cultural FM Torres – www.culturalfm.com – oct30
O crime organizado: que fazer?
O massacre policial no Rio ainda domina a imprensa no país: 121 mortos. A própria ONU e inúmeras ONGs de Defesa dos Direitos Humanos denunciam excessos e erros da ação policial. Muitas dúvidas sobre a suposta correção da ação de cumprimento de mandatos judiciais e não de uma estratégia de retomada dos territórios controlados pelo NARCO, hoje novamente sob seu controle. Quando o Governo do Rio alega que ficou um ano preparando a ação sobre o Alemão e Penha, esqueceu-se de dizer que essa estratégia foi exclusivamente militar, no sentido de cercar os traficantes. Até aí tudo bem mas o heroísmo das ações policiais, que fez 4 vítimas fatais, são insuficientes para construir uma verdadeira estratégia de combate ao crime organizado que tem no Poder sobre os territórios ocupados sua maior fonte de força e de rendimentos. A droga, hoje, é a menor parte dos ganhos do crime organizado que controla todos os serviços nas áreas ocupadas. Faltou ao Governo do Rio – e não por acaso, em virtude de ser um Governo ideologicamente ligado à extrema direita, já filiado à gramática de Trump, uma ESTRATÉGIA POLÍTICA. Hoje, por acaso, o ESTADO já substituiu nas áreas atacadas o crime organizado? E como justificar a ação de abandono dos cadáveres na mata, sem concluir a zeladoria do local de onde a comunidade acabou recolhendo os cadáveres abandonados. E por que o Governo Federal não se fez presente IMEDIATAMENTE diante da gravidade da ação policial do governo do RIO ? E , quando apareceu, o fez timidamente, ao lado do Governador Castro, sem uma palavra forte de cobrança pelo FRACASSO CRIMINOSO da operação. Aliás , Polícia prende braço-direito e operador, mas deixa escapar chefe do CV: o impacto da megaoperação na cúpula da facção: Secretário de Segurança afirmou que Edgar Alves Andrade, o Doca, usa soldados do Comando Vermelho como barreira para dificultar a sua prisão. Megaoperação no Complexo do Alemão e da Penha deixou ao menos 120 mortos. Quem mais sofre com essas “operações”? O povo trabalhador.
Tiros em casa, falta de transporte, muito medo: relatos dos cidadãos afetados pela operação no Rio. Por fim, parabéns a ABIN pela divulgação de extenso relatório sobre a rota da droga que , oriunda do Peru e Colômbia, entra no Brasil pela Amazônia, evidenciando, também por aí que o enfrentamento ao crime organizado ou é NACIONAL, com forte presença do Governo Federal, ou é apenas enxugamento de gelo
EDITORIAL CULTURAL FM TORRES/RS www.culturalfm875.com
O Declínio das Amizades – Jorge Saes Recentemente, um artigo na Harvard Business Review analisa como a "recessão das amizades", ou a tendência de declínio de amizades significativas, está lentamente se enraizando em nossas vidas. De acordo com a Pesquisa American Perspectives, o número de adultos americanos que afirmam não ter "nenhum amigo próximo" quadruplicou desde 1990, chegando a 12%. Enquanto isso, o número de pessoas com "dez ou mais amigos próximos" diminuiu em um terço. Uma tendência semelhante está surgindo em áreas urbanas da Índia: enquanto o número de conhecidos aumenta, as amizades profundas estão se tornando cada vez mais raras. No passado, as pessoas conversavam facilmente com estranhos em cafés ou bares. Agora, as pessoas sentam-se sozinhas, desconectadas da multidão. Nos Estados Unidos, o número de pessoas comendo sozinhas aumentou 29% nos últimos dois anos. A Universidade Stanford até lançou um curso chamado "Design para Amizades Saudáveis", que destaca que formar e manter amizades agora exige aprendizado e esforço. Este não é apenas um problema social, mas uma crise cultural. Reservar um tempo para a amizade não deve mais ser um luxo, mas sim uma prioridade. A solidão não é mais uma escolha; está se tornando um hábito. Se não priorizarmos conscientemente a amizade, não só será difícil fazer novos amigos, como também perderemos conexões antigas. Reuniões religiosas, clubes, esportes e organizações voluntárias — todos os quais antes fomentavam a amizade — estão em declínio. Nos limitamos às mídias sociais, às responsabilidades familiares e até mesmo aos animais de estimação. Sim, alguns amigos não se veem mais porque não conseguem deixar seus animais em paz! Hoje, a amizade não faz mais parte da vida cotidiana; ela só acontece quando outras responsabilidades são cumpridas. No entanto, pesquisas enfatizam a importância da amizade. No livro de Bonnie Ware, "Os Cinco Maiores Arrependimentos dos Moribundos", ela destaca um lamento pungente: "Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos..." Pesquisas mostram: • O isolamento social aumenta o risco de doenças cardíacas, demência e mortalidade. • É tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. • As amizades melhoram a saúde mental, física e emocional. • O estudo de 80 anos de Harvard concluiu que a maior fonte de felicidade e saúde na vida não é riqueza ou carreira, mas relacionamentos próximos. A verdadeira amizade é como um investimento: perdoe, ligue, crie memórias e passem tempo juntos. Como Mirza Ghalib disse lindamente: “Ó Deus, concede-me a oportunidade de viver com meus amigos... pois posso estar contigo mesmo depois da morte.” Valorize as amizades, reserve um tempo e enriqueça sua vida com relacionamentos amigáveis e significativos. Bom dia amigo. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
Dia Mundial da Alimentação
Dia Mundial da Alimentação é comemorado em 16 de outubro e é uma importante data para avaliarmos problemas como a fome e a segurança alimentar e utricional
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em 16 de outubro em vários países do mundo. Essa data é um importante momento para avaliarmos questões relevantes a respeito da alimentação, tais como a fome, a segurança alimentar e nutricional, e a necessidade da alimentação saudável. A seguir conheceremos um pouco mais sobre o Dia Mundial da Alimentação e sua importância.
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade 😉
Leia também: Falta de água e segurança alimentar
Tópicos deste artigo
- 1 – Quando o Dia Mundial da Alimentação foi criado?
- 2 – Temas do Dia Mundial da Alimentação
- 3 – Dados sobre a alimentação no planeta
Quando o Dia Mundial da Alimentação foi criado?
O Dia Mundial da Alimentação é celebrado todos os anos no 16 de outubro, data que, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). A primeira vez que a data foi celebrada foi no ano de 1981, e, desse ano em diante, diversos temas importantes já foram debatidos nela.
De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, essa data é importante, pois “nos faz refletir sobre a complexidade do ato de se alimentar e a complexa cadeia de produção de alimentos que nos fornece diariamente produtos que compõem a nossa alimentação”.
Assim sendo, o Dia Mundial da Alimentação é um dia de reflexão a respeito de temas relacionados ao comer, tais como a fome, o acesso ao alimento de qualidade e em quantidade suficiente pelas pessoas de todo mundo, e a necessidade de uma alimentação saudável para a vida de cada indivíduo.
Saiba mais: Desnutrição: sintomas, sinais e o perigo da desnutrição
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade 😉
Temas do Dia Mundial da Alimentação
Todos os anos, diferentes temas relacionados à alimentação são escolhidos para serem abordados no Dia Mundial da Alimentação. Todos os temas selecionados levam-nos a uma reflexão a respeito da situação global do alimento, indo desde a sua produção até o acesso desse alimento pela população e como os indivíduos alimentam-se. A seguir selecionamos alguns dos temas já abordados:
milênio sem fome
- 2001 – Combater a fome para reduzir a pobreza
- 2002 – Água: fonte de segurança alimentar
- 2003 – Trabalhar em conjunto por uma aliança internacional contra a fome
- 2004 – Biodiversidade para a segurança alimentar
- 2005 – Agricultura e diálogo intercultural
- 2006 – Investindo na agricultura para a segurança alimentar
- 2007 – O direito à comida
- 2008 – Segurança alimentar mundial: os desafios das mudanças climáticas e os biocombustíveis
- 2009 – Atingir segurança alimentar em tempos de crise
- 2010 – Unidos contra a fome
- 2011 – Os preços dos alimentos: da crise à estabilidade
- 2012 – Cooperativas agrícolas: a chave para alimentar o mundo
- 2013 – Sistemas sustentáveis agrícolas para segurança alimentar e nutricional
- 2014 – Agricultura familiar: alimentar o mundo e cuidar do planeta
- 2015 – Proteção social e agricultura: quebrando o ciclo da pobreza rural
- 2016 – O clima está mudando, a alimentação e a agricultura também
- 2017 – Mudar o futuro da migração: investir em segurança alimentar e no desenvolvimento rural
- 2018 – Nossas ações são nosso futuro: um mundo #fomezero para 2030 é possível
- 2019 – Dietas saudáveis para um mundo de #fomezero
- 2020 – Cresça, alimente, sustente. Juntos
2021 – As nossas ações são o nosso futuro. Melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida
|
Temas do Dia |
Dados sobre a alimentação no planeta
Infelizmente, em várias partes do mundo, uma grande quantidade de pessoas sofre devido a problemas relacionados com a alimentação. Enquanto em alguns locais vários indivíduos morrem em decorrência da falta de alimento, outros sofrem as consequências de uma alimentação inadequada.
A fome é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.
Confira alguns dados a respeito da alimentação no planeta, de acordo com o relatório “O estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo” da Organização das Nações Unidas (ONU):
- Em 2018, cerca de 821,6 milhões de pessoas passaram fome no mundo.
- Nos últimos anos, tem-se observado um aumento no número de pessoas que passam fome.
- Cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso regular a alimentos nutritivos, suficientes e que não causam danos.
- 148,9 milhões de crianças menores de cinco anos estão afetadas por atraso no desenvolvimento.
- A fome aumentou na América Latina e Caribe em comparação ao ano de 2016. A América do Sul apresenta o maior número de pessoas com subnutrição na região, devido, principalmente, à deterioração da segurança alimentar na Venezuela. (Aproveite a ocasião e amplie seus conhecimentos a respeito da Crise na Venezuela.)
- A África apresenta as taxas de fome mais altas do mundo.
- O maior número de pessoas subalimentadas (que não ingerem a quantidade necessária de nutrientes) vive na Ásia.
- 40 milhões de crianças menores de cinco anos estão com sobrepeso.
- 672 milhões de adultos são obesos.
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado no 16 de outubro, e em cada ano um novo tema é abordado.
Escrito por: Vanessa Sardinha dos SantosPossui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás (2008) e mestrado em Biodiversidade Vegetal pela Universidade Federal de Goiás (2013). Atua como professora de Ciências e Biologia da Educação Básica desde 2008.
Deseja fazer uma citação?
SANTOS, Vanessa Sardinha dos. “16 de outubro – Dia Mundial da Alimentação”; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/16-outubro-dia-mundial-alimentacao.htm. Acesso em 15 de outubro de 2025.
EDITORIAL - FM Torres – www.culturalfm.com 29 set 2025
RS 2026: Lula lidera e para governo e Senado a frente democrática é
decisiva- https://red.org.br/noticias/rs-2026-lula-lidera-e-para-governo-e-senado-a-frente-
democratica-e-decisiva/
Por BENEDITO TADEU CÉSAR*
Um cenário indefinido e desafiante
As eleições de 2026 no Rio Grande do Sul se desenham como um
ponto de inflexão para a centro-esquerda. As mais recentes pesquisas
dos Institutos Real Big Data e Methodus apontam um cenário de
indefinição e equilíbrio instável na disputa pelo governo estadual. Os
dados não apenas revelam empate técnico nas disputas pelo governo
estadual, como também escancaram para a centro-esquerda a
urgência de uma articulação política ampla, em torno de um projeto
democrático, e enraizada socialmente.
Para o Senado, os cenários apontam lideranças distintas a depender
do instituto. O Methodus mostra Pimenta e Manuela à frente,
enquanto o RealTime/Big Data aponta Eduardo Leite com ampla
vantagem. As diferenças entre os levantamentos reforçam a incerteza
do quadro e exigem leitura crítica dos dados.
Três candidaturas em empate técnico
Para o governo do estado, no campo progressista, Edegar Pretto (PT)
e Juliana Brizola (PDT) são nomes que aparecem bem-posicionados.
Colocados em concorrência eles fragmentam uma mesma base,
enquanto unidos constituiriam uma candidatura capaz de largar com
vantagem. Segundo o levantamento do Methodus realizado entre 21 e
22 de setembro, Pretto lidera com 19,2%, seguido de perto por
Luciano Zucco (PL), representante da extrema-direita, com 18,8%, e
Juliana Brizola, com 18,7%.
É importante observar, neste levantamento, o significativo percentual
daqueles que não responderam (15,5%) e dos que declaram intenção
de voto branco ou nulo (14,3%).
Os números do Instituto RealTime/Big Data, levantados durante os
dias 2 e 3 de setembro, são divergentes, como se vê nas tabelas
abaixo, mas, ainda que apontem a liderança de Zucco e incluam o
nome de Sebastião Melo, eles também reforçam a necessidade para a
centro-esquerda de uma ampla articulação que inclua todos os
partidos do campo progressista e democrático.
Intenção de voto para o Governo do Rio Grande do Sul – Setembro 2025 – Menção estimulada % – Real Time Big Data
Menção estimulada % - Real Time Big Data Cenário 1
Zucco (PL) 26 26
Juliana Brizola (PDT 20 20
Edegar Pretto (PT) 19 19
Gabriel Souza (MDB) 12 12
Paula Mascarenhas (PSDB) 4 4
Covatti Filho (PP) 4 4
Branco ou nulo 6 6
Não responderam 9 9
Total 100 100
Intenção de voto para o Governo do Rio Grande do Sul – Setembro 2025 – Menção estimulada % – Real Time Big Data
Menção estimulada % Real Tima Data Cenário 2
Zucco (PL) 24 24
Sebastião Melo (MDB) 21 21
Juliana Brizola (PDT 20 20
Edegar Pretto (PT) 18 18
Paula Mascarenhas (PSDB) 3 3
Covatti Filho (PP) 3 3
Branco ou nulo 5 5
Não responderam 6 6
Total 100 100
A posse de Valdeci Oliveira na presidência estadual do PT reacendeu
o discurso da unidade, com participação ativa do ex-governador Tarso
Genro nas articulações. Surgiram rumores sobre a possibilidade de o
PT ceder a cabeça de chapa a Juliana Brizola, o que provocou
resistências internas. No PSOL, Luciana Genro é nome natural,
embora sofra com a lógica do voto útil frente à polarização.
No caso de Juliana Brizola (PDT) vir a compor uma chapa com um
candidato do MDB, como Gabriel Souza, tal movimento, ainda
especulativo, teria o potencial de deslocar o centro de gravidade da
disputa, favorecendo os interesses da direita. Uma aliança desse tipo
poderia esvaziar o projeto de uma frente democrática com base
programática comum, ao privilegiar uma solução de conveniência
eleitoral sem compromissos sólidos com a transformação social.
Senado: força dispersa ameaça vitória
a atenção a disparidade entre os dados divulgados pelos institutos
RealTime/Big Data e Methodus no que se refere às intenções de voto
para o Senado. Enquanto o primeiro aponta Eduardo Leite com
expressivos 45% e Pimenta com apenas 15%, o segundo mostra um
cenário invertido, com Pimenta e Manuela D’Avila liderando com
32,8% e 30,7%, respectivamente, e Leite com 17%. Essa discrepância
levanta questionamentos sobre a credibilidade metodológica dos
levantamentos e exige uma análise mais cuidadosa sobre
amostragens, períodos de coleta, formulação de cenários e vínculos
institucionais de cada instituto. As pesquisas não são neutras: são
construções que refletem escolhas e contextos.
Intenção de voto para o Senado – Rio Grande do Sul – Setembro 2025 – Menção estimulada % – Dois votos – Real Time Big Data
Menção esimulada %/ Dois votos - Real Big Time Cenário 1
Eduardo Leite (PSD) 45 45
Manuela D’Ávila (sem partido) 24 24
Marcel Van Hattem (NOVO) 17 17
Sanderson (PL) 16 16
Paulo Pimenta (PT) 15 15
Luiz Carlos Heinze (PP 13 13
Osmar Terra (MDB) 8 8
Marco Biolchi (MDB) 3 3
Branco ou nulo 7 7
Não responderam 4 4
Intenção de voto para o Senado – Rio Grande do Sul – Setembro 2025 – Menção estimulada % – Dois votos – Real Time Big Data
Menção estimulada % Real Big Time Cenário 2
Manuela D’Ávila (sem partido) 28 28
Marcel Van Hattem (NOVO) 22 22
Paulo Pimenta (PT) 20 20
Sanderson (PL) 19 19
Luiz Carlos Heinze (PP 15 15
Osmar Terra (MDB) 13 13
Marco Biolchi (MDB) 5 5
Branco ou nulo 9 9
Não responderam 7 7
O Senado terá duas vagas em disputa e o dado mais eloquente não é
a posição dos nomes, mas o alerta: o campo de centro esquerda soma
mais de 60% das intenções de voto ao Senado, o que lhe garantiria a
conquista das duas vagas em disputa, caso os dados do Instituto
Methodus sejam os corretos e a tendência se mantenha.
Os dados do levantamento RealTime/Big Data, no entanto, apontam
para um cenário diferente em que a centro-direita, com Eduardo Leite,
ocupa importante espaço na disputa de uma vaga ao Senado e a
extrema-direita também se faz presente. Na ausência de Eduardo
Leite, a extrema-direita passa a ocupar significativo espaço na
disputa. A somatória das intenções de voto de van Hatten (22%),
Sanderson (19%), Heinze (15%) e Terra (13%) atinge 69%, de acordo
com o cenário 2 da pesquisa.
Confirmado este cenário como uma tendência, o campo progressista
precisará concorrer unido para a conquista de uma das vagas, para
não correr o risco de repetir o desempenho de 2022, quando a única
vaga em disputa foi conquistada pela direita, devido à forma de
composição da chapa.
Naquele pleito, o ex-governador Olívio Dutra concorreu ao Senado
numa chapa puro sangue da esquerda, sem composição mais ampla:
ele (PT) encabeçava a chapa, tendo Roberto Robaina (PSOL) como
primeiro suplente e Bruna Rodrigues (PCdoB) como segunda suplente.
A opção por não formar uma aliança estratégica e ampliar a base
eleitoral acabou por dificultar a consolidação de uma candidatura
competitiva o suficiente para derrotar o general Hamilton Mourão,
que foi eleito mesmo sem vínculos políticos com o estado. A lição
permanece atual: sem articulação mais ampla, a fragmentação das
forças de centro-esquerda pode custar caro.
Importa destacar, ainda, a decisão do senador Paulo Paim (PT) de não
concorrer à reeleição. Figura histórica da luta pelos direitos sociais e
da resistência democrática, Paim declarou publicamente que é hora
de renovar as lideranças e abrir espaço para novas vozes no Senado.
Apesar das pressões internas para que reconsiderasse sua decisão,
ele manteve sua posição, reiterando o compromisso com a renovação
política e com a construção de uma frente unificada.
Lula lidera e projeta força no RS
A performance de Lula nas pesquisas presidenciais reforça esse
diagnóstico. O petista lidera tanto na sondagem estimulada quanto na
espontânea no estado. Com 23,6% na estimulada, ele aparece à
frente de Michele Bolsonaro (17,2%), Eduardo Leite (15,3%) e Tarcísio
de Freitas (14,9%). Na espontânea, a vantagem se mantém: Lula
marca 18,3% contra 12,5% de Jair Bolsonaro. Esses números indicam
uma base sólida no eleitorado gaúcho, que pode irradiar força para as
candidaturas locais se houver articulação eficaz.
Hegemonia ou aliança?
Entretanto, não há vitória possível sem enfrentar o problema da
fragmentação. O PT precisa abandonar qualquer resquício de
pretensão hegemônica. Seu tamanho e capilaridade eleitoral não
justificam, por si só, a liderança automática de uma frente ampla.
Liderar, neste contexto, é ceder quando necessário, articular com
generosidade e reconhecer a legitimidade de outras forças políticas.
O PDT, por sua vez, precisa abandonar antigas alianças à direita que o
tem levado a ambiguidades programáticas em relação a sua história
política. É hora de retomar o fio histórico do trabalhismo democrático,
que sempre se fez em diálogo com os interesses populares. O PSOL,
com Luciana Genro, tem um papel relevante, mas precisa ponderar
entre o valor da afirmação de sua identidade e a efetividade da
disputa eleitoral.
O PSB precisa reencontrar sua coerência política. Sua trajetória,
marcada pela defesa da justiça social, da educação pública e do
desenvolvimento sustentável, e sua atuação hoje em nível nacional
não autorizam ambiguidades, nem alianças oportunistas. O partido
tem responsabilidade estratégica na construção da frente
democrática e precisa se posicionar com clareza ao lado das forças
progressistas.
Uma frente democrática por projeto
A construção de uma frente democrática precisa partir de critérios de
viabilidade e compromisso programático, e não da simples soma de
legendas. Precisa incluir mecanismos transparentes de definição de
candidaturas, com base em dados, pesquisas e pactos partidários.
Não se trata de apagar diferenças, mas de organizá-las em torno de
um horizonte comum: barrar o avanço autoritário e disputar o poder
com projeto, coragem e responsabilidade.
Bancadas são parte da equação
Também não se pode negligenciar a importância das bancadas
legislativas. A transformação social e econômica que o quarto
mandato de Lula exige passa, necessariamente, por uma base
parlamentar sólida e comprometida. A Assembleia Legislativa do RS e
o Congresso Nacional seguem dominados por forças conservadoras
que bloqueiam reformas, impõem retrocessos e inviabilizam políticas
públicas estruturantes. É preciso eleger deputadas e deputados
alinhados com um projeto de soberania, justiça social e democracia.
Cinco passos para a construção da unidade
Diante disso, cinco movimentos se impõem:
1. Criação de instâncias de deliberação compartilhadas entre
partidos democráticos;
2. Formulação de um programa mínimo com eixos estratégicos
claros;
3. Cessão estratégica de protagonismos para garantir unidade;
4. Mobilização imediata das bases e lideranças;
5. Disputa direta dos indecisos e abstencionistas, que ainda
representam um contingente decisivo.
Unidade ou derrota
As pesquisas não oferecem certezas, mas pistas. E todas apontam
para o mesmo sentido: a vitória do campo progressista no Rio Grande
do Sul depende, essencialmente, de sua capacidade de construir
unidade com método, inteligência política e compromisso
democrático. Fragmentado, será derrotado. Articulado, tem todas as
condições para vencer, governar e transformar.
*Colaborou Maria da Graça Pinto Bulhões, Dra. em Sociologia,
Professora aposentada da Universidade Federadl do Rio Grande do
Sul e integrante da Coordenação do Comitê em Defesa da Democracia
e do Estado Democrático de Direito – Benedito Tadeu César é
cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em democracia, poder e
soberania, integra a Coordenação do Comitê em Defesa da
Democracia e do Estado Democrático de Direito e é diretor
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
Perguntas que LULA poderia fazer a Trump num eventual encontro,
respondendo à tentativas de humilhação:
ONU divulga foto de Trump assistindo ao discurso de Lula na
Assembleia Geral
A reação de Eduardo Bolsonaro https://www.metropoles.com/mundo/eduardo-
bolsonaro-se-manifesta-apos-trump-elogiar-lula-na-onu
=========================================================
Acabou o monopólio toxico do acesso à Casa Branca,
via Eduardo Bolsonaro e o Secretário de Estado Marco
Rúbio. Ontem, na ONU, Lula e Trump se encontraram e
se abraçaram. Deve conversar, a convite de Trump,
que diz ter gostado de Lula e o achado um “homem
bom”, semana que vem. Abre-se, assim, uma nova fase
nas relações entre EUA e Brasil. Abaixo, algumas
questões que podem pautar a fala dos dois líderes.
Além do superavit de US$ 400 bilhões na Balança
Comercial a favor dos Estados Unidos nos últimos 15
anos:, eis algumas questões a serem esclarecidas ao
Presidente Trump:
- O Senhor sabe quantas empresas americanas operam com toda
liberdade no Brasil?
- O Senhor sabe quanto que elas enviam aos Estados Unidos, em
dólares, a título de roylties, assistência técnica e LUCROS?
- O Senhor sabe quantos brasileiros visitam os Estados Unidos
anualmente?
- O Senhor sabe quantos estudantes brasileiros estudam em
Universidades americanas pagando suas respectivas anuidades?
Nos últimos cinco anos, 186 empresas americanas anunciaram novos projetos no Brasil.
Atualmente, cerca de 3,7 mil companhias dos Estados Unidos operam no país, concentrando-se em setores de alto
valor agregado, como indústria de transformação, serviços financeiros e tecnologia da informação.
Dez maiores investimentos anunciados por empresas americanas no Brasil (2020-2024), segundo a CNI
Bravo Motor Company: US$ 4,36 bi
Microsoft: US$ 3,03 bi
CloudHQ: US$ 3 bi
Amazon: US$ 2,84 bi
New Fortress Energy: US$ 1,26 bi
ICM: US$ 1,22 bi
Atlas Renewable Energy: US$ 1,09 bi
Digital Reality Trust: US$ 0,6 bi
Equinix: US$ 0,51 bi
Jefferies Group: US$ 0,51 bi
Fonte: CNI.
- O Senhor sabe que cerca de 20% dos Títulos da Dívida Pública brasileira estão nas mãos de fundos de
investimentos americanos, recebendo em torno de 15% de juros a.a. e pagos rigorosamente em dia, em dólares?
- O Senhor sabe quantas empresas americanas estão na Bolsa de Valores de São Paulo , a qual tem tido nas
últimas semanas recordes em pontos?
Genial
https://blog.genialinvestimentos.com.br
9 Maiores empresas americanas listadas na bolsa em …
30 de jun. de 2025 · Você pensa em investir ou expor seu capital ao mercado internacional? Se sim, confira as 9
maiores empresas americanas listadas na …
ADVFN Brasil
https://br.advfn.com › bolsa-de-valores › bovespa › analise-da-empresa
Análise da Empresa Americanas ON (AMER3) - Ações Bovespa
5 dias atrás · Indicadores técnicos de análise do ativo AMER3 (Americanas ON) com preços de ações,
gráfico, forum, dividendos e balanços na bolsa de valores da Bovespa
- O Senhor sabe que o Brasil tem investimentos nos Estados Unidos, a
saber, US $ 350 bilhões em Títulos do Governo Americano e cerca de
US$ 100 bilhões em investimentos diretos, só no ano 2024?
- O Senhor sabe que o Brasil é um país tropical, etnicamente plural,
de maioria negra e parda, um milhão de protegidos povos originários,
variadas correntes migratórias, dentre as quais alemães, italianos,
russos e ucranianos, árabes e judeus, todos convivendo
fraternamente, com grande diversidade cultural, detentor de uma das
melhores músicas populares do mundo, com bom futebol,
maravilhosos carnaval e simultaneamente o maior país cristão do
mundo, com festas religiosas que movem milhares de pessoas na
Basília de Aparecida, nas ruas de Belém e Salvador, além de imensas
procissões no Dia de Nossa Senhora dos Navegantes?
- O Senhor sabe que o Brasil participou com 20 mil “pracinhas”, ao
lado dos Aliados, sob o comendo militar dos americanos na II Guerra
Mundial, deixando mais de duas mil vítimas nos campos da Itália?
- O Senhor sabe que o Brasil é um dos quatro maiores países do
mundo, ao lado dos EUA, China, India , em termos de território,
população e PIB?
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
A PEC DA BLINDAGEM TEM REJEIÇÃO GERAL E DEVE SER ANULADA
A aprovação da PEC dita da blindagem de parlamentares tem rejeição geral da sociedade. Como assumir que a condição do exercício de uma função de representação possa liberá-los para roubar, estuprar e até assassinar ? Políticos, mesmo conservadores, como as Senadoras Margareth do PP e Damares Alves do PL, analistas, lideranças nacionais a consideram um atentado aos princípios republicanos, sobretudo da igualdade de todos perante a Lei. Eis o editorial de O GLOBO de ontem:
“Senado tem dever de barrar PEC da Blindagem - Por O Globo - Na prática, texto aprovado na Câmara transforma parlamentares em cidadãos acima da lei
Motivos não faltam para o Senado rejeitar ou engavetar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, aprovada na Câmara. A PEC abre caminho à impunidade no Congresso. Ao exigir licença da respectiva Casa para abertura de processos criminais contra parlamentares e ao incluir os presidentes de partidos políticos entre os submetidos ao foro do Supremo Tribunal Federal (STF), o texto tira do Judiciário autonomia para julgá-los. Na prática, transforma os ocupantes de cargos eleitos em cidadãos acima da lei. Basta lembrar que, ao longo dos 13 anos em que vigorou regra semelhante, apenas um parlamentar foi processado”
Vários colunistas da grande imprensa também se manifestaram negativamente diante da referida PEC:
Retrocesso lamentável. Por Merval Pereira - O Globo - Resta ao Senado restaurar pelo menos em parte a credibilidade da classe política brasileira, derrubando a PEC da Blindagem
O grande vencedor. Por Malu Gaspar - O Globo - A história da aprovação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, a toque de caixa, com 344 votos de quase todos os partidos, equivale a uma espécie de manual de como opera a política no Brasil.
Antes de mais nada, é a prova de que, quando os nobres parlamentares querem, não há o que impeça nem o mais rematado dos absurdos. Há pelo menos quatro anos a ideia de dificultar ou impedir investigações contra parlamentares circula em diferentes formatos. A primeira versão, apresentada em 2021 na gestão de Arthur Lira (PP-AL), já previa que nenhum processo contra deputado ou senador poderia ser aberto sem autorização do próprio Congresso.
PEC da Blindagem e anistia são inconstitucionais. Thiago Amparo - Folha de S. Paulo -Medidas violam o princípio republicano de que ninguém está acima da lei
Constituição não permite a criação de uma casta de semideuses
O centrão e bolsonaristas querem praticar crimes, como golpe de Estado e corrupção, sem serem presos, condenados ou investigados. É o que a PEC da Blindagem e o PL da anistia fazem. As medidas são inconstitucionais, porque, entre outras razões, restringem a função primordial de outro Poder —o Judiciário— de decidir sobre ilicitudes graves e violam o princípio republicano de que ninguém está acima da lei
Câmara aprova voto secreto para blindar parlamentares contra o Supremo. Por Luiz Carlos AzedO -Correio Braziliense - Deputados agem como se pudessem reinventar o passado e ressuscitar mecanismos que sempre serviram à impunidade dos poderosos, sob comando de Hugo Motta
A Câmara dos Deputados decidiu restabelecer o voto secreto para analisar a abertura de processos contra parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Cerca de 70 congressistas estão sendo investigados por desvio de recursos de emendas parlamentares. A decisão é um retrocesso político, que visa a perpetuar várias práticas de autoproteção da atual “elite” política do Congresso.
Tal decisão, com tanta desfaçatez, fragiliza a democracia e desmoraliza uma de suas principais instituições. Quando havia essa prerrogativa, de 250 deputados investigados, somente um foi punido. Querem ressuscitar a regra porque os deputados dispõem de tantos recursos provenientes dessas emendas, em média R$ 50 milhões cada, que podem dar as costas à sociedade e comprar os votos necessários para sua reeleição, em evidente disparidade de armas em relação aos demais candidatos.
Com PEC vergonhosa, Câmara chafurda em seu esgoto moral. Por Marcos Augusto Gonçalves - Folha de S. Paulo - Deputados aprovam liberdade para delinquência parlamentar e urgência de projeto desconhecido de anistia
Proposta, com voto secreto na blindagem, parece encomenda do PCC; caberá ao Sendo rejeitar descalabros
Com a aprovação da PEC da blindagem, já consagrada como PEC da bandidagem, a Câmara dos Deputados mostrou até que ponto vai a delinquência de sua maioria nesta legislatura. Os representantes do povo traem a missão republicana e colocam-se à altura de suas mais baixas ambições.
A bateria de dispositivos para impedir que congressistas possam responder à Justiça por suspeita ou evidência de crimes é uma das iniciativas mais descaradas da história política brasileira. A instituição do voto secreto para negar o acesso da lei à casta parlamentar, em mutreta do invertebrado Hugo Motta e do centrão, nos leva aos tempos da ditadura militar, quando se sustentava uma farsa no Congresso para tentar tapar com a peneira o vale tudo do arbítrio institucionalizado
No Congresso, o fundo do poço não tem fim. Por Adriana Fernandes - Folha de S. Paulo - Manobra do PL para livrar Eduardo Bolsonaro desmoraliza a oposição
Motta precisa explicar se fez acordo com partido para aceitar filho de ex-presidente como líder mesmo fora do país
A indicação pelo PL de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara na tentativa de salvar o parlamentar de um processo de cassação do mandato por faltas é o retrato da completa desmoralização da oposição no Brasil.
Dos Estados Unidos, onde estimula o tarifaço de produtos brasileiros e novas ameaças de sanções do governo Donald Trump, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá despachar uma pauta, discutir as propostas, encaminhar a votação
Reação à PEC mostra passo em falso de Hugo Motta. Por Maria Cristina Fernandes - Valor Econômico - Lula, Senado e STF reagem à investida da Câmara para blindar parlamentares
Os institutos que aferem a movimentação nas redes sociais amanheceram, nesta quarta, com um atestado inconteste de rejeição à PEC da blindagem. Do Senado, desde a véspera, já choviam reações negativas à proposta. Nada disso foi capaz de impedir que a Câmara dos Deputados, no início da tarde, ampliasse ainda mais a abrangência da PEC com o voto secreto às sessões destinadas a avalizar processos contra seus pares no Supremo Tribunal Federal.
Das razões desse desatino se depreendem muitas das motivações da caixa de ressonância e, principalmente, de dissonâncias, que está a ensurdecer a capital federal. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chegou ao gabinete do presidente da República, na segunda-feira, como portador de uma proposta para que o governo apoiasse a PEC da blindagem em troca de uma anistia restrita à redução de penas
O Presidente Lula chegou a afirmar que “não foi coisa séria”. Causou espécie, aliás, o fato de que 10 deputados do PT a tenham subscrito, além de outros do PDT, MDB e PSB. Explicaram os petistas que a Liderança do Partido não fechou questão sobre a matéria e que teriam se inclinado pelo projeto como moeda de troca para a aprovação do Projeto que isenta do Imposto de Renda os que recebem até cinco mil reais. Explica, mas não justifica. O ex governador Tarso Genro foi incisivo:
“É inadmissível que deputados do PT tenham aprovado a PEC de proteção da bandidagem, que além de ser viciada por flagrante inconstitucionalidade, tem uma finalidade espúria: bloquear a ação da Justiça para penalizar criminosos com mandatos.
A Executiva Nacional do PT tem obrigação de dar uma explicação pública a respeito destes votos que, objetivamente, reforçam o golpismo continuado ainda em curso e enfraquecem o STF como "guardião da constituição".
Faço a ressalva que os seis deputados federais do PT do RS votaram contra a proposta”
Pairou, também, no ar a suposição de que o Presidente Lula teria negociado com Hugo Motta a aceitação da PEC da Blindagem em troca da aprovação da Isenção do Imposto de Renda, o que teria levado a Liderança do PT a não fechar questão sobre o projeto, mas a forte reação de Lula indica não passarem de rumores tais acusações.
O Projeto, enfim, é um escândalo que redefine o equilíbrio dos Poderes Republicanos e retira do Judiciários a última palavra sobre a constitucionalidade dominante. Deve ser rejeitado pelo Senado.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
PEQUENOS ASSASSINATOS
A acumulação de capital na era neoliberal , por Emir Sader
A era neoliberal marcou a desregulamentação, a financeirização da economia e a intensificação das desigualdades sociais no Brasil e no mundo
|
==============================================
Se a eleição de Trump nos Estados Unidos marcou uma radicalização naquele país, com risco, como afirmou Tomaz Friedman, jornalista do NYTimes, de levar o país ao suicídio, com uma guerra civil interna, o assassinato do extremista de direita, Kirk, convertido em mártir, está agudizando ainda mais a polarização política americana. O próprio NYTimes foi multado em R$ 79 milhões acusado de ser o porta-voz do Partido Democrata. E se for? Isso é crime? É o corolário da perseguição à tradicionais Universidades americanas, como Harvard, que tiveram as verbas públicas para importantes pesquisas científicas suspensas, com prejuízo para toda a humanidade. Sob a acusação de combater a “esquerda”, de resto tradicionalmente mais social-democrata do que extremista revolucionária, o movimento trumpista reedita na América a intolerância típica dos tempos do nazi-fascismo, acusando os esquerdistas de violentos. Ora, não por acaso um dos suportes de Hitler em sua ascensão ao Poder, em 1933 foi a S.A., uma organização paramilitar, fardada, voltada à prática da violência, primeiro contra líderes sindicais e socialistas, depois, contra os judeus. S.A. , do alemão, aliás – Sturm Apteilung - signfica exatamente isso: turma da pauleira.
Mas como o mundo está globalizado e transformado numa Aldeia Global pela Internet, a crise que traz o extremismo de direita à tona, com milhões de trabalhadores desempregados pela desindustrialização, submetidos à dura precarização do trabalho em regimes altamente competitivos do mercado de trabalho, tudo associado aos cortes de programas de assistência social que outrora caracterizam o Estado de Bem Estar, isso se espalha pelo mundo e o mergulha numa era de insegurança. Não estamos livres, no Brasil, apesar da resistência que demonstramos diante da ofensiva golpista de Bolsonaro, aliado de Trump, deste processo. O bolsonarismo como deboche às instituições cresceu, multiplicou-se e está disseminado na sociedade. Provam-no as pesquisas de opinião que revelam uma fatia considerável de brasileiros que justificam a ação de Eduardo Bolsonaro junto à Casa Branca para prejudicar o país. A oposição conservadora na CÂMARA DOS DEPUTADOS chega ao cúmulo de propô-lo com Líder da Minoria, quando sequer está em território nacional. Tempos, enfim, de grande tensão e que se traduzem pela extensão da intolerância de governos autoritários para a própria sociedade que passa a atacar, nos redutos menos esperados, como festivais culturais, academias e eventos públicos pessoas que não comunguem do extremismo de direita. Isso ocorreu agora num festival literário do Estado de São Paulo quando a jornalista M. Lacombe foi desconvidada a participar de uma mesa de debates. Abaixo, vejam o depoimento de um leitor de Uruguaiana, RS, relatando a existência de listas produzidas por bolsonaristas que induzem à perseguição de pessoas que não comunguem do credo. Credo, sim, porque derivado de seita. Verdadeiro absurdo, mas que adverte para a gravidade dos tempos que estamos vivendo. Tudo indica que os extremistas não querem a pacificação do mundo, nem do país. Querem o império absoluto de suas ideias, mesmo com o sacrifício da democracia, cada vez mais identificada como esquerdista. Desconhecem que a democracia é um valor universal indispensável ao processo civilizatório, onde preferências ideológicas, como o gosto e o desgosto de cada um, são inevitáveis. Tudo muito lamentável. E perigoso.
URUGUAIANA E SEUS "CARRASCOS VOLUNTÁRIOS"?
Roger Baigorra Machado - oonesdrStpu3m3ucu2t251463iau1t20m111t941f629h26472 hf4ul2202 ·
Esse texto é sobre Uruguaiana, no entanto, antes, precisamos voltar um pouco no tempo. Ir para 1º de abril de 1933, quando a Alemanha nazista deu início ao “Judenboykott”. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra estranha, mas aqui, na pontinha do mapa do Brasil, ela está mais atual do que parece. Afinal, a história se repete, primeiro como tragédia e, depois, como farsa.
O “Judenboykott”, numa tradução livre, significa “boicote aos judeus”. Os nazistas se diziam os únicos homens e mulheres puros do mundo, os únicos com direito à política, à liberdade e à propriedade. Negros, deficientes, latinos, gays, comunistas, anarquistas, judeus, todos eram a expressão do mal. Por óbvio, que as demissões e as perseguições não demoraram a acontecer.
Naquele ano, listas começaram a circular nas cidades alemãs. Trazendo nomes de jornalistas, professores, médicos, advogados e comerciantes que, ou eram contrários ao regime, ou não eram "puros" o suficiente. As listas serviam para perseguir pessoas e boicotar seus negócios, até levá-los à falência, abrindo espaço para “alemães puros”. Ao lado de cada loja de um comerciante judeu, soldados das “Sturm Abteilung” intimidavam clientes para que não comprassem ali. Assim o nazismo iniciava a perseguição.
Avancemos no tempo...
Uruguaiana, 15 de setembro de 2025. Bolsonaristas começam a compartilhar pelo whatsapp e em redes sociais postagens onde dizem que “esquerdistas devem ser demitidos”. Afirmam, também, que possuem uma lista com nomes de empresas, profissionais liberais e pequenos negócios que devem ser boicotados.
O motivo? Os proprietários e os trabalhadores têm opinião política diferente.
Assistimos em Uruguaiana a mesma lógica do “Judenboykott” da Alemanha hitlerista. Nomear opositores, negar-lhes direitos políticos, perseguindo-os através de campanhas de demissões, assim como, do boicote a seus negócios. E o pior é que essa não é a primeira vez. Aqui em Uruguaiana, em 2022, o mesmo comportamento aconteceu. Eles fingem confundir "liberdade de expressão" com liberdade para agredir, ofender e perseguir.
Vi algumas destas postagens, "demita o esquerdista", "não compre de esquerdista"... e lembrei-me de um livro que li nos início dos anos 2000, chamado "Os carrascos voluntários de Hitler", do Daniel Goldhagen, então, professor de Harvard. A tese do livro é de que os alemães não foram obrigados à perseguir judeus, tão pouco, tiveram de cumprir ordens de forma forçada, muitos foram voluntários. Tinham consciência do que estavam fazendo e queriam fazer. Pessoas comuns, tornavam-se assassinos ou delatores. O "holocausto", a máquina de morte hitlerista, não foi algo frio ou mecânico, mas uma tragédia feita por pessoas, por gente comum. Seres humanos que aceitaram, com naturalidade, as listas. Depois, aceitaram demitir, boicotar, perseguir, espancar e matar.
Aos amigos e conhecidos que tenham recebido algum tipo de lista ou pedido para que demitam pessoas de esquerda, pensem no que isso significa. Pensem no tipo de comportamento que isso estimula.
Todos sabemos o que aconteceu com os judeus “demitidos”.
Ainda vivemos num Estado Democrático de Direito, onde somos livres para divergir, debater e termos visões de mundos diferentes E, apesar de alguns se comportarem como nazistas, Uruguaiana não é, nem será, um lugar para o nazismo, fascismo ou qualquer "ismo" que atente contra as pessoas. Nem você é.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
A democracia e a soberania brasileiras são inegociáveis Luiz Inácio Lula da Silva - New York Times, 14 de setembro de 2025,
===============================================================
Documentario O FIM DO BOLSONARO
https://www.youtube.com/live/G9VBH93V6VM
*
Decidi escrever este ensaio para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. Ao longo de décadas de negociação, primeiro como líder sindical e depois como presidente, aprendi a ouvir todos os lados e a levar em conta todos os interesses em jogo. Por isso, examinei cuidadosamente os argumentos apresentados pelo governo Trump para impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A recuperação dos empregos americanos e a reindustrialização são motivações legítimas. Quando, no passado, os Estados Unidos levantaram a bandeira do neoliberalismo, o Brasil alertou para seus efeitos nocivos. Ver a Casa Branca finalmente reconhecer os limites do chamado Consenso de Washington, uma prescrição política de proteção social mínima, liberalização comercial irrestrita e desregulamentação generalizada, dominante desde a década de 1990, justificou a posição brasileira. Mas recorrer a ações unilaterais contra Estados individuais é prescrever o remédio errado. O multilateralismo oferece soluções mais justas e equilibradas. O aumento tarifário imposto ao Brasil neste verão não é apenas equivocado, mas também ilógico. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o nosso país, nem estão sujeitos a tarifas elevadas. Nos últimos 15 anos, acumularam um superávit de US$ 410 bilhões no comércio bilateral de bens e serviços. Quase 75% das exportações dos EUA para o Brasil entram isentas de impostos. Pelos nossos cálculos, a tarifa média efetiva sobre produtos americanos é de apenas 2,7%. Oito dos 10 principais itens têm tarifa zero, incluindo petróleo, aeronaves, gás natural e carvão. A falta de justificativa econômica por trás dessas medidas deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, teria dito isso no início deste mês a um grupo de líderes empresariais brasileiros que trabalhavam para abrir canais de negociação. O governo americano está usando tarifas e a Lei Magnitsky para buscar impunidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que orquestrou uma tentativa fracassada de golpe em 8 de janeiro de 2023, em um esforço para subverter a vontade popular expressa nas urnas. Tenho orgulho do Supremo Tribunal Federal (STF) por sua decisão histórica na quinta-feira, que salvaguarda nossas instituições e o Estado Democrático de Direito. Não se tratou de uma "caça às bruxas". A decisão foi resultado de procedimentos conduzidos em conformidade com a Constituição Brasileira de 1988, promulgada após duas décadas de luta contra uma ditadura militar. A decisão foi resultado de meses de investigações que revelaram planos para assassinar a mim, ao vice-presidente e a um ministro do STF. As autoridades também descobriram um projeto de decreto que teria efetivamente anulado os resultados das eleições de 2022. O governo Trump acusou ainda o sistema judiciário brasileiro de perseguir e censurar empresas de tecnologia americanas. Essas alegações são falsas. Todas as plataformas digitais, nacionais ou estrangeiras, estão sujeitas às mesmas leis no Brasil. É desonesto chamar regulamentação de censura, especialmente quando o que está em jogo é a proteção de nossas famílias contra fraudes, desinformação e discurso de ódio. A internet não pode ser uma terra de ilegalidade, onde pedófilos e abusadores têm liberdade para atacar nossas crianças e adolescentes. Igualmente infundadas são as alegações do governo sobre práticas desleais do Brasil no comércio digital e nos serviços de pagamento eletrônico, bem como sua suposta falha em aplicar as leis ambientais. Ao contrário de ser injusto com os operadores financeiros dos EUA, o sistema de pagamento digital brasileiro, conhecido como PIX, possibilitou a inclusão financeira de milhões de cidadãos e empresas. Não podemos ser penalizados por criar um mecanismo rápido, gratuito e seguro que facilita as transações e estimula a economia. Nos últimos dois anos, reduzimos a taxa de desmatamento na Amazônia pela metade. Só em 2024, a polícia brasileira apreendeu centenas de milhões de dólares em ativos usados em crimes ambientais. Mas a Amazônia ainda estará em perigo se outros países não fizerem a sua parte na redução das emissões de gases de efeito estufa. O aumento das temperaturas globais pode transformar a floresta tropical em uma savana, interrompendo os padrões de precipitação em todo o hemisfério, incluindo o Centro-Oeste americano. Quando os Estados Unidos viram as costas para uma relação de mais de 200 anos, como a que mantêm com o Brasil, todos perdem. Não há diferenças ideológicas que impeçam dois governos de trabalharem juntos em áreas nas quais têm objetivos comuns. Presidente Trump, continuamos abertos a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos. Mas a democracia e a soberania do Brasil não estão em pauta. Em seu primeiro discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2017, o senhor afirmou que “nações fortes e soberanas permitem que países diversos, com valores, culturas e sonhos diferentes, não apenas coexistam, mas trabalhem lado a lado com base no respeito mútuo”. É assim que vejo a relação entre o Brasil e os Estados Unidos: duas grandes nações capazes de se respeitarem mutuamente e cooperarem para o bem de brasileiros e americanos.
Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do Brasil.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
Indagado se irá negar vistos à delegação brasileira à Assembleia da ONU, TRUMP disse estar chateado com o Brasil porque nosso Governo passou para a esquerda. Boa oportunidade para se esclarecer uma questão crucial sobre ideologia política. Esquerda e Direita são – ou eram - expressões "normais" nas Democracias Ocidentais. O que é ANORMAL, na última década, é a emergência de uma extrema direita, que é até proibida em alguns desses países. Chegam ao poder e estigmatizam a esquerda, classificando=a como EXTREMISTA e INIMIGA, tal como está acontecendo nos EUA neste segundo mandatoi de Trump. Lamentável. Isso já havia acontecido, no início do século XX na Itália, Japão e Alemanha, levando-os à deflagração da II Guerra. Naquele tempo ainda tivemos a sorte de contar no bloco ocidental, contra eles, vários países, principalmente Inglaterra, França e Estados Unidos. Eram os ALIADOS. Venceram a guerra e abriram o mundo ocidental para uma Era de Bem Estar geral e desenvolvimento. Até agora, porém, neste novo surto neo fascista no mundo, só o BRASIL, no mundo ocidental está resistindo à ANORMALIDADE, aliás, timidamente, evitando confrontos. Ainda não se sabe até que ponto poderemos ser realmente APOIADOS pelo BRICS, grupo geoeconômico ao qual pertencemos. Em represália, já fomos sancionados com o tarifaço, exigências absurdos de intervenção na política interna do país e aplicação da Lei Magnifsky contra um membro da Suprema Corta. Com isso, passamos a viver momentos de grande tensão e expectativa em nossas relações com EUA. Sempre bom lembrar que uma das características da EXTREMA DIREITA aninhada na CASA BRANCA é a INTOLERÂNCIA. Assim foi, outrora, com o fascismo, ora reavivado. Trata-se de uma ideologia que condena todos os que não se sujeitam à sua visão como INIMIGOS. Não é, aliás, rigorosamente, uma doutrina política, é uma seita: OU CRÊ OU MORRE! Tudo muito lamentável. É a democracia liberal, enfim, sucumbindo, mais uma vez ao fanatismo. Ou as INSTITUIÇÕES AMERICANAS, apoiadas pela OPINIÃO PÚBLICA param o tirano ou vamos conhecer, no mundo inteiro, dias cada vez mais tumultuados. PARA MUITOS ISSO JÁ APONTA PARA A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL, com orçamentos militares cada vez mais elevados nos países centrais!
Anexo – Um depoimento sincero de uma pessoa verdadeiramente liberal, que não se confunde com extrema direita
rtnoeSpdosh9i9591f51l0lha49gh1i567u7 64m1g8hicc5ihg9cg6mh825 ·
Se toda essa gente perigosa, golpista, de extrema-direita for, afinal, condenada e receber suas penas como merece, ainda que o Brasil tenha muitos problemas com seus políticos as discussões poderão ser bem mais "normais".
Quando o Lula foi condenado e quando passou um LONGO TEMPO na cadeia, nenhum lulista estava arregimentando a sociedade ou países estrangeiros para que ele fosse solto. E nunca vi a esquerda brasileira, a centro-esquerda, a social-democracia e mesmo a direita equilibrada ser contra a Ciência, como ocorreu no governo do Perverso e seus seguidores.
O que está acontecendo com os bolsonaristas é algo surreal. São tão incrivelmente alucinados que nos fazem passar uma extrema vergonha com seus festejos absolutamente toscos do 7 de setembro. Uma amiga que mora na Europa me disse que ao ver as imagens da bandeira dos EUA cobrindo as cabeças de uma grande "manada" de bolsonaristas (a expressão foi dela, mas concordo) não saberia explicar o ocorrido para seus amigos europeus... Realmente vergonhoso!
Espero um julgamento justo, que é o que teremos. E, sendo justo, que as penas os os levem para a cadeia e mantenham totalmente fora da vida política, pois uma vez golpista, sempre golpistas. Se recebessem anistia, tentariam novos golpes, é mais do que óbvio. Como pessoas que eu tinha como equilibradas não conseguem entender isso?
Em 2026 votarei em qualquer candidato que não seja bolsonarista, mesmo que não seja muito do meu agrado. E votarei no Lula, se necessário for, pois ABSTENÇÃO é colaborar com a vitória de seres abjetos, entre eles o Tarcísio. E isso meus valores, meu senso de ética, minha dignidade não o permitem. Europeus que foram anti-fascistas tiveram que ENGOLIR ALIADOS BEM DISCUTÍVEIS. Então não serei eu a ficar no "nem, nem" e deixar que a corja volte, em roupagens que se pretendem mais civilizadas, mas com o mesmo risco da absoluta ignomínia que foi todo o governo do Bolsonaro.
Durmo com a consciência tranquila de que estou fazendo minha parte. e torço para que muitos também pensem bem se vale a pena ser "isento" ou afirmar como iguais grupos que não são semelhantes, nem de longe, em vez de alijar de uma vez por toda da possibilidade de vitória no caso de quem está apoiando o que de mais abjeto o Brasil já teve.
Dos nomes atuais que estão como abutres disputando os restos do bolsonarismo, todos são perigosos. Todos e todas, aqui é o caso de ressaltar, pois a Michelle tentou se promover na manifestação do 7 de setembro, ainda que de forma patética, ignorante, mas ainda assim conseguindo alguns aplausos. Essa gente TODA é PERIG0SA! Não se iludam. E ninguém deles vale o que come, sejamos francos. Não se trata de posicionamento político diferente do meu, não se trata do populismo simplório que tanto nos assola, não mesmo, é algo muito pior e mais grave. E a festa fascista que promoveram nos prova isso.
ENTENDAM e pensem muito antes da eleição. Não permitam que nenhum deles se eleja, mesmo os que tentam enganar com algum ar de pseudo-modernidade. São todos eles obscurantistas e perversos e isso é o mais grave de tudo!
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com 8/IX
Recomendo a leitura do artigo de Dom Itacir sobre a Semana da Pátria!
Independência e Soberania
Estamos na semana da pátria e num tempo em que o patriotismo tem se tornado um conceito equívoco e disputado. Há tempos, a comemoração da data da independência política se tornou passarela para discursos e convocações desencontradas. Há décadas, as manifestações têm sido pouco populares e muito militares, como se o modelo de amor à pátria nos viesse das casernas. Além disso, a fé cristã rima mais com paz que com desfiles que ostentam armas e glorificam as guerras.
Lembro sem saudades, e com um certo constrangimento, das celebrações eufóricas que marcaram os 150 anos da proclamação da independência, em 1972. Ainda adolescente, sem nenhuma consciência de que a “pátria mãe gentil” era governada pelo medo e muitos patriotas verdadeiros haviam sido mortos ou expulsos, eu cantava “potência de amor e paz, esse Brasil faz coisas que ninguém imagina que faz...” Eram os tempos da ordem de amar o Brasil ou deixá-lo. Como se os exilados deixaram o Brasil por não amá-lo...
Posteriormente, com um pouco mais de consciência, eu ficava incomodado ao constatar que as escolas não sabiam celebrar essa data senão com desfiles que imitavam os desfiles militares. Manifestações de defesa da soberania diante dos novos colonizadores e de crítica aos “podres poderes” de plantão, reivindicações de igualdade e justiça, expressão dos sonhos e utopias populares eram mal vistas e, não poucas vezes, proibidas.
Hoje, em meio às tentativas de apropriação ideológica das cores e dos símbolos nacionais, precisamos libertá-los do sequestro que estão sofrendo. Se conseguimos o penhor da igualdade entre as nações soberanas com braço forte, não é somente no seio da liberdade que precisamos estar prontos a desafiar a morte. No seio e no sonho da igualdade e da justiça, precisamos desafiar e desmascarar aqueles que impõem a morte perpetuando a desigualdade e promovendo o entreguismo.
Qual é o sonho intenso e o raio vívido de amor e de esperança que desce à terra? Não vejo outro senão aquele expresso no artigo 3º da Constituição de 1988: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
E os nossos bosques e florestas, cobiçados mais que nunca, clamam por vida. Nossos campos já não têm tantas flores, muita cana, soja, café, gado, e cercas que cercam e limitam nossa vontade de viver e de amar. Por isso, no seio dessa terra, nossa vida, a vida do nosso povo, tem mais dores que amores. Não é verdade que nosso passado é apenas de glórias, e, para que haja paz no futuro, é preciso fazer as contas com ele.
A semana da pátria é tempo apropriado também para levantar a clava forte da fome de justiça e de igualdade, da defesa da democracia e da soberania. É dessa luta que não podemos fugir. Não é filho nem ama a “pátria, mãe gentil” quem se cala por medo ou fala por ambição e por ódio, temendo desagradar senhores e perder a comodidade ou a vida.
Dom Itacir Brassiani msf
Bispo Diocesano de Santa Cruz do Sul
Anexos
BRASIL II CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA
A Independência Como Processo - De PAULO TIMM -18/09/2023
FacebookTwitterWhatsAppMessengerCompartilhar
https://red.org.br/noticia/a-independencia-como-processo/
H.Starling. Tiradentes - CANAL LIVRE TV BAND - https://www.youtube.com/watch?v=wouQHxd7QNk
Lilian Schwarcz – Canal Livre - https://videos.bol.uol.com.br/video/lilia-schwarcz-e-a-convidada-do-canal-livre-04020E1B3062E0817326
José Murillo de Carvalho – Canal Livre - Um dos mais importantes estudiosos da história do Brasil e integrante da Academia Brasileira de Letras, o historiador José Murilo de Carvalho é o convidado do Canal Livre do próximo domingo. O programa faz parte do projeto "Band nos 200 anos da independência''. Autor de verdadeiros - https://www.youtube.com/watch?v=7gZT41HB4Ck
O Assunto g1 dia 6 de setembro 2022 - A Independência para além da Corte
'Até os anos 50, a história da Independência foi contada do ponto vista do Rio de Janeiro', afirma o historiador Evaldo Cabral de Mello, autor do livro A Outra Independência. Neste episódio, ele detalha os processos históricos que levaram à emancipação do país e explica por que ela se deu a partir 'dois golpes de Estado' liderados por D. Pedro I.
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/09/06/o-assunto-788-a-independencia-para-alem-da-corte.ghtml
Debate Plural – II Centenário da Independência : https://www.youtube.com/watch?v=Xhz72YJj2p4 – Dia 1º/ 09/22 - No terceiro episódio da série sobre o Bicentenário da Independência vamos abordar a formação da identidade do Brasil. Receberemos o Doutor em Filosofia pela Universidade Paris, Agemir Bavaresco; o formado filosofia e economia com mestrado em filosofia, Fabian Scholze Domingues; e o formado em história e é doutorando em História na UFRGS, Erick Kayser
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com 5/SET
Os 400 anos da criação da primeira redução indígena no RS
Não existe unanimidade entre os historiadores sobre o processo de ocupação do território do Rio Grande do Sul no período colonial. Duas correntes principais se disputam: platinistas e luzitanistas.
Os platinistas, mais antigos, situam o Rio Grande do Sul no Grande Pampa, do qual absorveu não só a geografia física deste bioma, tão propenso à pecuária, mas também os povos primitivos e a densa história dos países vizinhos na construção de suas Repúblicas, uma delas, Uruguai, antiga Província Cisplatina ligada ao Brasil.
Os luzitanistas emergem em meados do século passado e tratam a formação da sociedade riograndense a partir da fundação do Presídio do Rio Grande, em 1737. Consideram o episódio das Missões, aberto pela criação da Colônia de São Nicolau, em 3 de maio de 1626, pelo Padre Roque Gonzalez, como parte da História da Colonização Espanhola. Registre-se que entre 1580 e 1640 Portugal e Espanha estavam unidos sob uma mesma Coroa.
Apesar da divergência, o Governo do Estado resolveu assumir o ano de 2026, relativo à fundação de São Nicolau, como o ANO DO QUARTO CENTENÁRIO DAS MISSÕES.
Elogiável a iniciativa do Governador Leite, embora tudo indique que ele desconhece com maior profundidade não só as controvérsias sobre a História do RS, como suas consequências.
Primeiro, ao não propor, nesta ocasião, um amplo debate sobre a matéria, circunscrita que ficou em eventos festivos. Segundo, ao não incorporar na organização destes eventos maior representação dos povos originários, objeto da celebração. A jornalista Valentina Bressan, recolhendo protestos destes, elaborou importante matéria no JORNAL MATINAL, denunciando a grave falha.
“O governo Leite decidiu celebrar os 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, mas deixou de fora justamente os indígenas, excluídos da organização do evento e também da destinação vultosa de recursos.”
O terceiro e maior erro do Governo do Estado, porém, é o circunscrever as festividades dos 400 anos das Missões à Região dita Missioneira do Estado, sobre a qual foi fundada a primeira onda de reduções jesuíticas. Esta primeira fase, aliás, foi arrasada, logo após, pela ação de bandeirantes paulistas, numa fase em que a ocupação holandesa no Nordeste dificultava a oferta de escravos negros para a nascente São Vicente (SP). Mas os jesuítas insistiriam e voltaram no final do século XVII, dando origem à etapa propriamente “missioneira” deste processo. Daí as ditas reduções se disseminaram por todo o território riograndense, chegando até o Uruguai. A celebração, portanto, dos 400 anos da ocupação missioneira, jamais deveria se limitar à Região das Missões, mas se distribuir sobre todos os municípios onde ela se deu até sua liquidação nas Guerras Guaraníticas de 1756/7. Sepé Tiaraju, aliás, líder da resistência indígena, que consagrou a consigna “ESTA TERRA TEM DONO”, ainda presente no MST, morreu em São Gabriel, não na dita Região Missioneira.
Isso posto, fica a sugestão ao Governo do ESTADo: organizar uma Comissão para a redefinição destas festividades, à qual deverão estar presentes, preponderantemente, organizações representativas dos guaranis, além, naturalmente de membros do Instituto Histórico e Geográfico do RS e historiadores reconhecidos e capazes de melhor calibrar todo este processo.
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
TOLSTOI VIA Venceslau Fátima · · fb
Já idoso, o famoso autor de Guerra e Paz viajava de trem pela Rússia quando testemunhou uma cena curiosa.
Na plataforma, uma mulher procurava com urgência pelo marido, que tinha ido ao bar da estação. O comboio estava prestes a partir.
Sem reconhecer, a mulher dirigiu-se para Tolstói, acreditando que era um simples vagabundo:
—"Velho, poderia ter a gentileza de procurar meu marido? Dou-lhe uma moeda pelo incómodo. "
Tolstói, encantado, aceitou a tarefa. Ele andou sem pressa, encontrou o homem, trouxe-o de volta... e ao fazê-lo, alguns reconheceram-no.
A mulher, envergonhada ao perceber quem era, implorou-lhe que lhe devolvesse a moeda:
—"Não posso permitir que você, o grande conde Tolstói, aceite isto. "
Ele sorriu, simplesmente:
—"Não, eu fico com ela... é o único dinheiro que ganhei trabalhando honestamente. "
Para Tolstói, esses breves minutos foram um presente.
Cinco minutos de anonimato.
Cinco minutos de liberdade.
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
CHINA 1945-2025 – O lado de lá...
Mao Tse Tung, o fundador da República Popular da China, em 1949, costumava dizer que o Poder repousa sobre a ponta de um fuzil. Foi seu método de fazer Política, num país arrasado pelo colonialismo inglês e brutalmente ocupado pelo belicoso Japão em 1937. Junto com o general Chiang Kai Chek, Mao empreende com seu exército popular, constituído por camponeses, a Grande Marcha, expulsa os japoneses em 1945 e se volta, então, contra seu aliado conservador até a vitória da Revolução em 1949. É bom lembrar sempre que Política é uma expressão que deriva de grego Polis, e que corresponde a origem da atividade de homens livres na articulação do seu destino. Uma criação, portanto, ocidental e que depois do apogeu e queda do Império Romano, renasce na Itália do século XV para desabrochar com o Iluminismo na Revolução Francesa. A Política, oriunda de Polis, cidade, é portanto, uma atividade humana que correspondeu à vida propriamente urbana. Não por acaso, Paris é a primeira cidade a chegar ao milhão de habitantes no século XVIII, mesmo tamanho a que chegara Roma antes de sua queda no século V. Não por acaso, dela emanaram as aspirações libertárias de Liberdade, Igualdade e Fraternidade que moldariam o mundo contemporâneo, fertilizando as mentes revolucionárias ao Leste. As Revoluções Russa, de 1917 e a Revolução Chinesa, de 1949, são suas diletas filhas, levando a práxis da Política aos confins do mundo, onde as Repúblicas constitucionais recém se constituíam.
Hoje, primeiras horas da manhã, Pequim assistiu, sob os olhares de seus dirigentes e vários líderes mundiais, um dos mais espetaculares desfiles militares que se tem notícia. A China não só diz a que veio economicamente, mas demonstra, através de sua força militar, a disposição de mudar a geopolítica mundial. Propõe um novo modelo de cooperação internacional com vistas â montagem de um mundo multipolarizado. Diferentemente da antiga URSS, não faz provocações bélicas ao Ocidente. Rejeita o retorno da Guerra Fria. O Presidente Xi Jin Ping, aliás, lembrou: “O mundo pode escolher entre a paz e a guerra”. Ele propõe a paz. A cena final do desfile foi a soltura de 80mil pombas brancas em sinal desta paz. Mas herda de Mao Tse Tung, cujo imenso retrato se via atrás da Praça da Paz Celestial, onde se celebrou o desfile, o entendimento da Política como Poder: repousando na ponta de um fuzil.
O Brasil esteve presente ao encontro através do representante de Lula ao evento, Emb. Celso Amorim e da Presidente do Banco Brics, Ex Presidenta Dilma Roussef, ambos no pavilhão de honra das autoridades.
O espetáculo chinês procurou também, corrigir a versão ocidental da vitória sobre o nazifascismo no século XX, que atribui todas as glórias do feito aos americanos, como feito “ocidental”. Ora, o nazi-fascismo também é eminentemente “ocidental”, encerrando-se, aliás, nos últimos tempos em países do Ocidente. Ficamos fartos de tanto ver distorções sobre a II Guerra Mundial nos filmes de Holywood como uma vitória “americana”. Os russos, há pouco, celebraram a mesma vitória, naquilo que chamam a GRANDE GUERRA PATRIÓTICA, destacando seu papel na frente oriental européia. Foram os primeiros a chegar em Berlim, decisivos na vitória contra Hitler. Agora, os chineses trazem à tona seu papel contra o Japão, cuja rendição se faria em agosto de 1945, perante os americanos , mas com a presença de um representante chinês. Sempre bom lembrar que o “Eixo” nazifascista era constituído, precisamente, por Itália, França e Japão e sua liquidação um esforço conjunto de vários países, inclusive URSS, China, até o Brasil.
Lentamente, enfim, a história vai se revelando, não com narrativas parciais, mas como verdade.
EDITORIAL - FM Torres –
OPINIÕES = www.culturalfm.com 01/set
Luiz Fernando, o cronista da terceira pessoa
Luiz Fernando Veríssimo deixou-nos, sábado passado, aos 88 anos,
consagrado como um renovador da crônica literária, a qual deu fôros
de conto. De sua lavra ficam 80 títulos e 5 milhões de livros vendidos
ao largo de todo o território nacional. Luiz Fernando teve o mérito de
desidentificar o gaúcho, dissolvendo-o no caldeirão antropofágico do
Brasil. Reservado, a ponto de ser chamado “mudinho”, quando
criança, pelo pai, Érico, eminentemente urbano, pouco afeito aos
superlativos cavalares do tradicionalismo riograndense – “Eu sou
maior que a história grega; eu sou gaúcho e me chega !” – , Luiz
Fernando abriu mão até mesmo da primeira pessoa nas suas crônicas.
Preferiu entregá-la aos seus inesquecíveis personagens. Personagens
cotidianos, como lembra Ruy Castro em sua crônica de ontem, muito
parecidos com os Woody Allen, nascidos “não um para o outro, mas
um contra o outro”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Luis Fernando Verissimo falava muito pouco, mas fazia o Brasil
inteiro rir, por Ruy Castro - Folha de S. Paulo -Cronista criou estilo único
inspirado nos mestres americanos e conquistou com a sua observação elegante do absurdo
cotidiano”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda assim, sempre foi um homem cordial com todos os que o
procuravam e fez da CASA VERÍSSIMO uma referência cultural em
Porto Alegre, aberta a visitantes. Mais, entretanto, do que sua vasta
obra, Luiz Fernando, pela sua simplicidade e simpatia, deixa
saudades.
RIO GRANDE DO SUL – POA
Deu na Folha de São Paulo : FOLHA / Saga dos Verissimos une Erico e Luis
Fernando na casa histórica da família, em Porto Alegre-
FOLHA - 17ago25
Saga dos Verissimos une Erico e Luis Fernando na casa histórica da família, em
Porto Alegre
Nos 50 anos da morte de autor de 'O Tempo e o Vento', Folha reconstitui
trajetórias e vai ao local que se tornou ponto de visitação e troca intelectual
Foto -Erico Verissimo, com o filho Luis Fernando atrás de si, com o manuscrito de "O
Continente", primeira parte da trilogia "O Tempo e O Vento", em 1949, quando o título
ainda não havia sido invertido - Acervo Literário Erico Verissimo
=Fabio Victor - Repórter especial da Folha, é autor do livro 'Poder Camuflado'
(Companhia das Letras), ganhador do Prêmio Jabuti
[RESUMO] Em meio às homenagens aos 120 anos de nascimento e 50 de morte de
Erico Verissimo, e às vésperas dos 90 anos de Luis Fernando, reportagem conta a
história e as conexões de pai e filho, dois dos mais importantes e populares escritores
brasileiros, e relata como a casa da família em Porto Alegre tornou-se um ponto
turístico de formação e troca intelectual, mais um elemento da obra artística de ambos
que os herdeiros buscam preservar.
Mal havia começado a entrevista com os filhos de Luis Fernando Verissimo, na casa
da família em Porto Alegre, quando o caçula do escritor, Pedro, pediu licença para
interromper a conversa. Trazia um casal que tocou a campainha querendo conhecer o
lugar onde viveu e trabalhou Erico Verissimo.
Moradores de Curitiba, Ismaile Barragan e Vivian Lie estavam de passagem pela
capital gaúcha e não queriam perder a chance. Grávida de uma menina, ela e o
marido contaram que, se fosse menino, chamaria-se Erico, uma homenagem ao autor
de "O Tempo e O Vento", de quem são leitores e admiradores.
Ele parecia eufórico ao entrar no escritório em que Erico revisava os originais dos seus
livros —escrevia-os em outro, a chamada "toca", no subsolo da casa— e onde
permanecem objetos do seu acervo pessoal, como uma poltrona vermelha, uma tábua
pintada por ele que servia de apoio para as revisões e uma pintura a óleo retratando
Clarissa, a filha mais velha do escritor e única irmã de Luis Fernando
-===================================================“Há 15 dias, assisti no
É A PRIMEIRA VEZ QUE VERISSIMO NOS FEZ CHORAR
Fabrício Carpinejar
Antes de Luis Fernando Verissimo, a crônica se centrava na primeira
pessoa, no tom confessional, nas nuances biográficas, no plano
interior.
Depois dele, nada mais foi igual. Surgiram os tipos universais: o
amigo, a vizinha, o professor, o policial, o viajante.
Ao não falar de si, um tímido nos revelou por completo. Colocou o
mundo no papel. Subverteu o modelo intimista pela narração, pelos
diálogos, a partir da criação de personagens.
A crônica casou com o conto — e viveram em litígio para sempre.
Virou o território ficcional da terceira pessoa, capaz de retratar
qualquer um, inclusive secretamente o próprio Verissimo.
Gigolô das palavras, como jocosamente se caracterizava, ou
saxofonista dos pensamentos, o escritor favoreceu a plasticidade das
ações, não mais se limitando à norma culta, capturando o coloquial
das ruas.
Ele pregava: “A gramática precisa apanhar todos os dias para saber
quem é que manda”.
Verissimo é inimitável, o mais cinematográfico de nossos tradutores,
o mais teatral de nossos bardos, o maior cronista brasileiro pós-
Rubem Braga, com cerca de cerca de 80 obras e mais de 5 milhões de
exemplares vendidos.
Começou com o horóscopo e o copidesque no jornal Zero Hora, em
1966, e arrebatou colunas nas principais publicações do país, como
Veja, O Estado de S.Paulo e O Globo. Manteve a sua atividade literária
até janeiro de 2021, quando sofreu um acidente vascular cerebral
(AVC).
Com sua fama estrondosa, o mítico Erico Verissimo, do monumento O
Tempo e o Vento, passou a ser lembrado por ter sido o pai de Luis
Fernando.
Em poucas linhas, ele desvendava dilemas comportamentais.
Escrevia como quem desenhava: rápido, certeiro, irônico. O poder de
síntese se aproximava de uma epifania.
Quem nunca se sentiu parte da Família Brasil, seus esquetes
humorísticos satirizando a classe média nos anos 70 e 80? O lar se
abastecia de conflitos geracionais entre a figura paterna
conservadora e machista, a dona de casa lúcida e de paciência
esgotada, e os filhos adolescentes, desafiando valores antiquados.
Quem não se politizou com as tirinhas das Cobras, protagonizadas por
animais rastejantes antropomorfizados que conversavam entre si
sobre os destinos do país?
Quem não se compadeceu da Velhinha de Taubaté, que foi concebida
durante a ditadura militar e ficou famosa por ser “a última no Brasil
que ainda acreditava no governo”?
Quem não riu com o Analista de Bagé, mais ortodoxo do que pomada
Minancora, um psicanalista freudiano que resolvia mimimi com o
joelhaço? Submetia o paciente a um golpe amnésico, provocando uma
dor tão intensa que ele logo se abstraía dos aborrecimentos.
Quem não viu alguma tia representada na Dorinha e seu cortejo de
socialites, buscando a eterna juventude por sucessivas e incansáveis
intervenções estéticas?
Quem não desistiu de recorrer à espionagem acompanhando as
peripécias de Ed Mort, um detetive particular pobre e trapalhão, um
ímã de encrencas e de causas perdidas?
Quem não se valeu dos exemplos das Comédias da Vida Privada para
não levar a sério os desentendimentos de casal? Era um jantar que
dava errado, uma visita inesperada, um segredo mal guardado, um
flerte perigoso.
O mestre gaúcho elaborou uma vivissecção do amor com seus blefes
e chantagens, mostrando o drama do quase divórcio, da quase
infidelidade.
Ele exorcizava o nosso desencanto com a evolução dos costumes, a
recessão e a violência: “Não sei para onde caminha a Humanidade,
mas, quando souber, vou para o outro lado”.
Mudava os estereótipos de lugar, produzindo reflexivo estranhamento.
Assim como o divã do Analista de Bagé fora desconstruído para o
atendimento num pelego, com tapete de pele de carneiro, o charme
dos romances policiais se converteu no escritório de pulgas e traças
de Ed Mort em Copacabana, com 117 baratas e um rato albino
chamado Voltaire.
Os dados oficiais professam que Verissimo faleceu aos 88 anos, neste
sábado (30), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Mas ele
não morreu. É impossível que morra.
Ele sempre nos fez rir, é a primeira vez que nos faz chorar.
Zero Hora, GZH, última página, Porto Alegre (RS), 30/8/2025:- https://gauchazh.clicrbs.com.br/.../o-
mestre-timido-de...
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDITORIAL - CULTURAL FM Torres –
OPINIÕES = www.culturalfm.com
Um estranho país chamado Brasil
Para os “conquistadores” lusitanos do século XVI o Brasil se afigurou como uma terra prodigiosa em vastidão e riquezas, mas estranha aos hábitos ibéricos. Com o passar dos anos, até séculos, não tem sido diferente. O Brasil é uma incógnita, mesmo para seus melhores intérpretes. Carlos Drummond de Andrade, Poeta Maior, tem um poema chamado Hino Nacional, no qual conclui que o Brasil não existe. Cazuza se perguntava: “Que país é este?” Entre os analistas, todos concordam que a tarefa de entender o Brasil é para “profissionais”. O Brasil desafia e indaga, mais do que responde.
Nos tempos recentes, depois do fim do século XX, lá por 1980, quando o ocidente desdenhou do Projeto de construir uma Sociedade do Bem Estar, enveredando para o neoliberalismo desenfreado, a seguir acompanhado pelo esfacelamento da União Soviética, também jogada nos braços de liberalismo descontrolado sob a batuta de Yeltsin, os ideais de fraternidade e igualdade, herdados da Revolução Francesa, entraram em colapso. Até os Partidos Comunistas fortes, como o da França, Itália e Espanha, dissolveram-se, para não falar do velho ‘Partidão’ no Brasil. E os Partidos de inspiração social-democrata aderiram ao novo credo “libertário”. O Brasil, entretanto, foi uma exceção. No bojo da luta contra a ditadura, fortemente excludente e concentradora de renda, continuava havendo junto as massas um anseio de mudança que iria alimentar o projeto de Brizola, com o PDT e Lula, com o PT. Este levou a melhor e confirmou, no Governo, de 2003 a 2010, as expectativas de, senão mudança radical, alívio aos sofrimentos populares com o BOLSA FAMÍLIA e melhora no salário mínimo. Com isso o BRASIL contrariava a corrente dominante no Ocidente, mais inclinada à direita, embora ainda não fascista.
Agora, mais uma vez, o Brasil, de novo com Lula, enfrente a corrente global, pelo menos no Ocidente, cujo maior marco é a presença de Trump na Casa Branca. Quando toda a Europa se curva a Trump, e uma boa margem da opinião pública na América Latina se inclina á direita – vide Argentina e , agora, Bolivia, o Brasil insiste no esforço de manter o ritmo de políticas públicas, inspiradas na Constituição de 88, de fortalecimento do Estado de Bem Estar. Vinha sendo acossado, é verdade, pelo bolsonarismo, tendo-lhe vencido em 22 por pouco mais de 1 milhão de votos. O balanço, entretanto, das últimas semanas, confirmado pelas PESQUISAS QUAEST evidencia que a esquerda, se assim se pode chamar o governo Lula, está vencendo e se credenciando para uma nova vitória ano que vem. Ainda nada definitivo. O confronto com Trump ainda exige cuidados. Mas o país está levando a melhor, unindo-se crescentemente em torno do princípio da soberania com vistas a um Estado de Bem Estar . O bolsonarismo, mercê de seu aberto servilismo ao estrangeiro, ontem reverberado pelo Presidente do PL – “Agora só Trump pode nos salvar”, vai se desmascarando, em evidente capitulacionaismo, e a direita, se dividindo, em busca, claro, de sua sobrevivência. Mais uma vez, seguimos o curso da Constituição de 88 no rumo de uma sociedade mais justa e soberana.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Após Trump, política externa pauta debate presidencial - Por Joelmir Tavares / Valor Econômico - Para o professor de filosofia Marcos Nobre, papel global do Brasil e ameaça à democracia serão temas inevitáveis na corrida eleitoral
A ofensiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil e o papel a ser assumido pelo país diante da tentativa de reconfiguração global tornarão inevitável que a política externa seja debatida na eleição presidencial de 2026, afirma Marcos Nobre, professor titular de filosofia política da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e diretor do Centro para Imaginação Crítica, sediado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).
Nobre vê Jair Bolsonaro pressionado a capitular e ungir como sucessor o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), considerado pelo analista o nome mais competitivo contra Luiz Inácio Lula da Silva. Mas projeta um cenário em que a vaga de vice na chapa seja destinada a alguém da família Bolsonaro, como esforço para garantir um salvo-conduto para o ex-presidente, após o julgamento por tentativa de golpe.
Autor de livros como “Limites da Democracia” (2022), o professor diz que o Brasil sofre de uma permanente ameaça golpista e que nem a eventual prisão do ex-presidente e de outros militares encerraria a necessidade de alerta. “Achar que a democracia está estabelecida é o tipo de ilusão que não deveríamos ter”, afirma.
EDITORIAL
EDITORIAL - FM Torres – OPINIÕES = www.culturalfm.com
Crianças, Adolescentes e Idosos: Urgências e Ressurgências
A Câmara dos Deputados, extremamente desgastada junto à opinião pública depois do motim a bordo praticado pelos bolsonaristas, impedindo pela força o reinício dos trabalhos legislativos no início do mês, ontem disse a que veio: Aprovou Projeto de Lei, 2628/2022, oriundo do Senado, oferecendo garantias às nossas crianças nas Redes Sociais, já denominado ECA DITGITAL. Principal objetivo é proteger crianças e adolescentes no uso de redes sociais após denúncias de aliciamento. As plataformas digitais que não cumprirem as regras poderão enfrentar sanções, com arrecadação destinada ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente.
Precisou, na verdade, uma mobilização ímpar da sociedade que afluiu maciçamente ao vídeo do influenciador Felca, no qual denunciou a exposição de jovens por outro influenciador, Heraclyto Santos, já preso em São Paulo: 40 milhões de cliques...Bem disse , certa vez, o experiente José Sarney: - “Quando esta Casa (Congresso) quando cercada pelo povo, aprova o que é do seu interesse”. Aliás, as correntes políticas presentes no Congresso deviam dar mais atenção às ruas, ouvindo-as, do que se engalfinharem dentro daquelas duas Casas, em torno de interesses menores e filigranas ideológicas.
Vá o feito. Eis o resultado de ontem :
“Faixa etária
As empresas fornecedoras desses produtos e serviços de tecnologia da informação também deverão:
gerenciar riscos quanto aos impactos das aplicações para a segurança e a saúde de crianças e adolescentes;
- avaliar o conteúdo disponibilizado para crianças e adolescentes de acordo com a faixa etária; e
- oferecer sistemas e processos destinados a impedir que crianças e adolescentes encontrem conteúdo ilegal, nocivo ou danoso e em desacordo com sua classificação etária.
Notificação a autoridades
O Projeto de Lei 2628/22 determina aos fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação que comuniquem a autoridades nacionais e internacionais competentes, na forma de regulamento, conteúdos aparentemente relacionados a crimes de exploração sexual, abuso sexual infantil, sequestro e aliciamento detectados em seus produtos ou serviços, direta ou indiretamente.
As empresas deverão reter por seis meses os seguintes dados relacionados ao conteúdo denunciado:
conteúdo gerado, carregado ou compartilhado por qualquer usuário mencionado no relatório ou metadados relacionados ao referido conteúdo; e
dados do usuário responsável pelo conteúdo ou metadados a ele relacionados.
Para todos os provedores de aplicações de internet que possuírem mais de 1 milhão de usuários crianças e adolescentes registrados, com conexão de internet em território nacional, o projeto exige a elaboração de relatórios semestrais em língua portuguesa, contendo:
- os canais disponíveis para recebimento de denúncias e os sistemas e processos de apuração;
- a quantidade de denúncias recebidas;
- a quantidade de moderação de conteúdo ou de contas, por tipo;
- as medidas adotadas para identificar contas infantis em redes sociais e atos ilícitos;
- os aprimoramentos técnicos para a proteção de dados pessoais e privacidade das crianças e adolescentes; e
- os aprimoramentos técnicos para aferir consentimento parental.
Pesquisas
Os provedores de aplicações de internet deverão viabilizar, gratuitamente, o acesso a dados necessários à realização de pesquisas sobre os impactos de seus produtos e serviços nos direitos de crianças e adolescentes.
Esse acesso poderá ser por parte de instituições acadêmicas, científicas, tecnológicas, de inovação ou jornalísticas, conforme critérios e requisitos definidos em regulamento.
Sem monetização
O PL sobre proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (PL 2628/22) proíbe os provedores de aplicações de internet de monetizar ou impulsionar conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva ou em contexto próprio do universo sexual adulto.
A fim de atender ao princípio da proteção integral, o texto prevê que esses fornecedores deverão permitir aos usuários acesso a mecanismos de notificação sobre conteúdo que viole direitos de crianças e adolescentes, exceto conteúdos jornalísticos e submetidos a controle editorial.
Assim que forem comunicados do caráter ofensivo de uma publicação, independentemente de ordem judicial, os provedores deverão retirar o conteúdo que viole esses direitos.
No entanto, a notificação poderá ser apresentada apenas pela vítima, por seus representantes, pelo Ministério Público ou por entidades representativas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
Segundo o projeto, os conteúdos considerados prejudiciais a crianças e adolescentes são:
- exploração e abuso sexual;
- violência física, intimidação sistemática (bullying) virtual e assédio a crianças e adolescentes;
- indução ou instigação, por meio de instruções e orientações, a práticas ou comportamentos que levem a danos à saúde física ou mental, tais como violência física ou assédio psicológico a outras crianças e adolescentes, uso de substâncias que causem dependência química ou psicológica, autodiagnóstico e automedicação, automutilação e suicídio;
- promoção e comercialização de jogos de azar (incluídas bets e loterias), produtos de tabaco, bebidas alcoólicas, narcóticos ou produtos de comercialização proibida para crianças e adolescentes;
- práticas publicitárias predatórias, injustas ou enganosas, ou que possam causar outros danos a crianças e adolescentes;
- conteúdo pornográfico.
Contestação de retirada
A notificação deverá conter elementos suficientes para permitir a identificação específica do autor e do material apontado como violador desses direitos, proibida a denúncia anônima. Para fazer a denúncia, o público deverá ter acesso fácil ao mecanismo de encaminhamento dessa notificação.
No entanto, o relator do projeto, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), incluiu no texto procedimentos para a contestação da decisão de retirada de conteúdo. Dessa forma, quem postou o conteúdo deverá ser notificado da retirada, com dados sobre o motivo e fundamentação, e informação sobre possibilidade de recurso segundo prazos definidos.
Uso abusivo
Outra novidade sobre as notificações é que os provedores de aplicativos deverão criar mecanismos para identificar o uso abusivo do instrumento de denúncia, informando ao usuário sobre quais hipóteses será considerado uso indevido e sanções aplicáveis. Os provedores deverão definir critérios técnicos e objetivos de identificação desse abuso, informar o usuário sobre a instauração de procedimento de apuração de abuso de notificação e possíveis sanções, com prazos para recurso e resposta a esse recurso.
Entre as sanções previstas, aplicáveis de forma proporcional e necessária segundo a gravidade da conduta, a suspensão temporária da conta, o seu cancelamento em casos de reincidência ou abuso grave e a comunicação às autoridades competentes se houver indícios de infração penal ou violação de direitos.
Pais e responsáveis
Apesar de a obrigação de retirar o conteúdo recair sobre os fornecedores dos aplicativos, o PL 2628/22 deixa claro que isso não exime os pais e responsáveis de atuarem para impedir a exposição de crianças e adolescentes a essas situações, assim como qualquer um que se beneficiar financeiramente da produção ou distribuição pública de qualquer representação visual desse público.
Conteúdo impróprio
Os fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação que disponibilizarem conteúdo, produto ou serviço impróprios, inadequados ou proibidos para menores de 18 anos deverão adotar medidas eficazes para impedir o acesso por crianças e adolescentes no âmbito de seus serviços e produtos.
Entre esses conteúdos estão material pornográfico e outros que sejam vedados pela legislação, assim como os classificados como não recomendados para a faixa etária correspondente. Para isso, deverão adotar mecanismos confiáveis de verificação de idade de cada usuário, vedada a autodeclaração. Somente para conteúdo pornográfico é que o provedor deverá impedir a criação de contas ou perfis por crianças e adolescentes.
Controle parental
Para viabilizar o controle parental do acesso aos aplicativos por parte de crianças e adolescentes, os fornecedores deverão tornar disponível configurações e ferramentas acessíveis e fáceis de usar que apoiem a supervisão parental. Outras ferramentas deverão permitir a limitação do tempo de uso do produto ou serviço e uma funcionalidade deve avisar claramente quando as ferramentas de controle parental estiverem em vigor e quais configurações ou controles foram aplicados.
Em todo caso, a configuração padrão das ferramentas de controle parental deve adotar o maior nível de proteção disponível, assegurando, no mínimo:
- restrição à comunicação com crianças e adolescentes por usuários não autorizados;
- limitação de recursos para aumentar, sustentar ou estender artificialmente o uso do produto ou serviço pela criança ou adolescente, como reprodução automática de mídia, recompensas pelo tempo de uso, notificações e outros recursos que possam resultar em uso - compulsivo do produto ou serviço;
- emprego de interfaces para imediata visualização e limitação do tempo de uso do produto ou serviço;
- controle de sistemas de recomendação personalizados, inclusive com opção de desativá-los;
- restringir o compartilhamento da geolocalização e fornecer aviso sobre seu rastreamento;
- promover educação digital midiática quanto ao uso seguro de produtos e serviços de tecnologia da informação; e
- revisão regular de ferramentas de inteligência artificial com participação de especialistas com base em critérios técnicos para assegurar a segurança de uso por crianças e adolescentes.
Informações
Os fornecedores desses produtos e serviços deverão ainda tornar disponível a pais e responsáveis, com acesso independente da compra do produto, informações sobre os riscos e as medidas de segurança adotadas para crianças e adolescentes, incluindo a privacidade e a proteção de dados.”
(Entenda os principais pontos do projeto de lei sobre proteção de crianças no ambiente digital – Noticias R7)
Mas se crianças e adolescentes se encontram agora protegidos, seja pelo ECA, seja pelo ECA DIGITAL, o mesmo não se pode dizer dos idosos, preocupação maior tendo em vista o envelhecimento rápido da nossa população e que dentro de vinte anos será maioria da população. Já existe o Estatuto do Idoso e estão criados em todos os municípios Conselhos Municipais do Idoso. Estes, porém, não têm, nem estrutura de intervenção para cuidados com os idosos, como carecem do respaldo da Constituição para projetarem um instrumento semelhante aos Conselhos Tutelares.
Veja-se o que diz a CF :
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)
Neste Artigo não estão incluídos os idosos, o que talvez se explique por uma concepção produtivista do desenvolvimento, ainda vigente quando da promulgação da Constituição em 1988. Conferia-se, então, à juventude o papel da construção do futuro, além, claro, da sua proteção em decorrência de sua evidente fragilidade. Os anos 90, entretanto, sobretudo depois da ECO-92, substitui este conceito produtivista pelo de sustentabilidade, vinculando-o a três exigências fundamentais: economicidade tecnológica, redistribuição dos benefícios e garantia de recursos naturais às próximas gerações. Nesse novo desenho, a proteção aos idosos é fator indispensável da garantia de justiça social. Afinal, foram eles que contribuíram com seus trabalho para as etapas anteriores do desenvolvimento. Assim sendo, há que incluir também os idosos neste Artigo, que deverá ser submetido a PEC de forma a ter a seguinte redação:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, aos idosos, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).E
Tal modificação, afetará decisivamente o ESTATUDO DO IDOSO, assim disposto:
O Estatuto do Idoso, lei 10741/2003, prevê o seguinte:
Art. 2º A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022);
Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
O estatuto do Idoso não prevê a organização dos conselhos como órgãos que atuem na proteção e garantia dos direitos dos idosos, pois restringem-se apenas à fiscalização e execução de políticas públicas, o que fragiliza à proteção , pois os idosos não possuem o acesso a equipamentos que os auxiliem na garantia de seus direitos. No que se refere à violação de direitos ainda esbarram na dificuldade de acessar a polícia civil, que, em geral, não estão preparados para registrar uma ocorrência ou até mesmo realizar uma investigação nas delegacias circunscricionais. Ademais, a garantia de direitos dos idosos não pode estar limitada a uma política de segurança pública e/ou a política de assistência social.
Veja-se que este ESTATUTO DO IDOSO não prevê a organização dos conselhos como órgãos que atuem na proteção e garantia dos direitos dos idosos, pois restringem-se apenas à fiscalização e execução de políticas públicas, o que fragiliza à proteção , vez que não possuem o acesso a equipamentos que os auxiliem na garantia de seus direitos. No que se refere à violação de direitos ainda esbarram na dificuldade de acessar a polícia civil, que, em geral, não está preparado para registrar ocorrências ou até mesmo realizar uma investigações nas delegacias circunscricionais.
De resto, enfim, a garantia de direitos dos idosos não pode estar limitada a uma política de segurança pública e/ou a política de assistência social.
Urge, portanto, discutir a situação do idoso e sua proteção pelo Estado nos dias atuais, quando todas as formas de violência, sobretudo nas camadas mais pobres da população, o acuam e assediam. Lembremo-nos do COVID. Vitimou principalmente os idosos e pouco ou nada puderam fazer em seu socorro os Conselho Municipais do Idoso.
O primeiro passo deve ser a aprovação de uma PEC incluindo os idosos como sujeitos de direitos sociais no Art. 6º, da Constituição. Isso posto, trata-se de providenciar a criação de um CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E GARANTIAS DO IDOSO, à semelhança dos Conselho Tutelares da Criança e do Adolescente, entregando aos Conselhos Municipais um instrumento ágil de ação.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EDITORIAL - FM Torres – www.culturalfm.com
O CADUCEU: DE ESCULÁPIO A MERCÚRIO
Em 2025-04-28 10:41, Franklin Cunha
O Caduceu, na antiga Grécia, estava na não de Hermes e simbolizava os mensageiros e os embaixadores. Esculápio, na tradição greco-romana, era o Deus da Medicina e também trazia o Caduceu como símbolo. Na Roma antiga Hermes passou a ser Mercúrio, o Deus do Comércio e, hoje, o símbolo semelhante ao da medicina é visto no frontispício das Associações Comerciais de todo o mundo.
Não é de estranhar, portanto, o fato de que na agenda da Organização Mundial do Comércio (OMC), apresentada na conturbada
reunião de Seatle (1999), tinha como destaque a privatização total da assistência à saúde, da educação e dos benefícios sociais ('The Lancet', november 27, 1999)
Esse atual enfoque prioritário da OMC reflete a crescente importância do setor de serviços no comércio mundial,
principalmente com o proporcional declínio irreversível dos lucros na agricultura, na indústria e no comércio em relação ao setor
financeiro.
De acordo com a própria OMC, o setor de serviços, do qual a assistência médica faz parte, participa e contribui com dois terços
da economia da União Europeia e da metade de suas exportações para o resto do mundo. Nos Estados Unidos o quadro é semelhante. Os
serviços já são um quarto das exportações e contribuíram, nos últimos cinco anos, com um terço do crescimento da economia americana.
Os conglomerados financeiros transnacionais, os bancos e certos capitais de malcheirosas procedências estão apostando no sucesso
econômico da prestação de serviços públicos e todos se engalfinham numa cruenta competição para abocanhar a parcela
considerável das verbas que do Primeiro ao Terceiro Mundo flui dos contribuintes para os cofres estatais.
Uma importante entidade americana prestadora de serviços informa que 'estamos progredindo nas negociações propiciadoras de oportunidades
para os negócios nos mercados de assistência à saúde em outros países' ('ibid'). A delegação americana em Seatle disse mais: 'Os
Estados Unidos são de opinião que existem oportunidades para negócios comerciais dentro de todo o espectro da prestação de
serviços médicos e sociais, incluindo hospitais, serviços externos,
clínicas e assistência médica domiciliar' ('ibid').
Albergadas no cavalo de Troia da OMC, estão as multinacionais da indústria farmacêutica e as tais de medicinas de grupo pré-pagas.
Mas a expansão dessas empresas depende da abertura dos mercados nos serviços tradicionalmente prestados pelo estado. Para isso a OMC e o Banco Mundial adotaram políticas asseguradoras desse gigantesco pulo e gato comercial. E, como canta a Zizi Possi:
> 'Lá do alto do telhado
> Pula quem quisé
> Mas só o gato que é gaiato
> É que cai de pé'.
E os governos do Terceiro Mundo, inermes e ineptos para resistir, ainda afofam o terreno para o pulo dos grandes e bulímicos gatos das
finanças transnacionais. Sabe-se que estão sendo realizadas reformas nas instituições do estado, no sentido de permitir a captação dos
fundos dos serviços públicos governamentais por empresas privadas, embora tais reformas sejam apresentadas ao contrário, isto é, as
empresas é que, 'compungidas e magnânimas', auxiliariam e desobrigariam os governos de pesados encargos sociais.
Em toda a América Latina, hospitais e os serviços ligados à saúde da população como o SUS estão sendo ameaçados pela competição de
provedores comerciais que objetivam prioritariamente o lucro. E o "managed care' faz parte dessa visão empresarial da assistência médica.
Afinal, o Caduceu - nestes chaplinianos tempos modernos - parece até situar-se melhor nas mãos de Mercúrio do que nas de Esculápio.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






VIDEOS EDUCATIVOS BRASIL
Documentário "Brazil - The troubled land" (1964)
Documentário, filmado em 1961, sobre a luta pela terra em Pernambuco e as Ligas Camponesas, para a rede de televisão estadunidense ABC. Enviada a…
ÍNDICE
I - IMPRESSÕES DO BRASIL – Canal Curta Videos
II – GRANDES BRASILEIROS -
III –INTÉRPRETES DO BRASIL – Coletânea com indicações bibliográficas e vídeos – Paulo Timm Org.
IV – MEU BRASIL BRASILEIRO – Variedades-Anexo
I - Impressões do Brasil
30 Episódios | Duração média dos eps. 26 min.
Em cada episódio, "Impressões do Brasil" irá abordar um grande escritor contemporâneo, ainda em atividade. O conjunto deles representa as cinco regiões brasileiras, com trabalhos nos gêneros romance, poesia, conto, crônica e memória. Formam, portanto, um painel representativo da produção contemporânea brasileira e da diversidade de origens, gêneros e estilos dos principais criadores.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele sempre foi um apaixonado pela música é um dos mais brilhantes escritores brasileiros mas confessa que sua maior vocação é ser aposentado. Em nosso programa de estréia, o entrevistado é luis fernando veríssimo. Nascido em porto alegre em 1937, luis fernando veríssimo é um dos mais lidos autores brasileiros. Seus 60 livros já venderam mais de 5 milhões de exemplares. É ...
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: O que poderia existir de comum entre um general conspirador que se tornou o primeiro presidente da ditadura... Uma cantora com a vida marcada pelas desilusões amorosas e o alcoolismo... E um padre expurgado pela igreja, amado por seus romeiros fiéis, e que foi também prefeito e coronel do sertão? Seu biógrafo, lira neto, que formado em topografia, exerceu a profissão por...
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Porto alegre, cosmopolita e conservadora tradicional e moderna cenário de lutas e de resistência política e cultural porto alegre de quintana, veríssimo, caio fernando abreu, joão gilberto noll. Porto alegre, de martha medeiros. Frustrada com a carreira de publicitaria, martha foi para o chile tomar outros ares e escrever poesia. E não parou mais. Livros de crônicas, rom...
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele já foi chamado "o escritor que coleciona prêmios", mas assegura que não escreve para ganha-los. Nascido em manaus, filho de um imigrante do líbano com uma brasileira descendente de libaneses, miltom hatoum sintetiza em sua literatura a exuberância da região amazônica com a cultura libanesa milenar, fazendo disso um painel que o faz ser considerado um dos grandes escri...
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele queria ser paraquedista militar. Acabou preso no quartel, onde nem chegou a servir. Nasceu em minas, formou-se em direito e se tornou um dos mais criativos ilustradores brasileiros. Pintor, chargista, jornalista, teatrólogo e escritor, da combinação do nome de sua mãe, zizinha, com o de seu pai, geraldo, surgiu ziraldo, um dos mais aclamados artistas do brasil.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ela nasceu em curitiba e mora em são paulo. Começou a escrever aos nove anos de idade, mas publicou seu primeiro livro aos 34 anos. A poeta, letrista, tradutora e publicitária alice ruiz já publicou 20 livros e gravou mais de 50 músicas com vários artistas. Concisa como um hai kai, ela diz que não sabe o que é poesia, mas sabe o que não é.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele foi mudo até os cinco anos de idade. Entrou no seminário para tornar-se padre. Estudou filosofia e hoje, com mais de 80 anos, carlos heitor cony é um dos mais respeitados escritores brasileiros, cadeira número 3 da academia brasileira de letras.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Poeta, pensador, crítico de arte, tradutor e memorialista, o maranhense ferreira gullar ganhou centenas de prêmios com livros de poesia, teatro, ensaios, é um dos fundadores do neoconcretismo e ainda muito criativo nos seus 81 anos. Em 2010 recebeu o prêmio camões, o mais importante da língua portuguesa.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Violência, sexo e corrupção são temas constantes na literatura do jornalista, escritor e roteirista marçal aquino. Escreveu os roteiros dos aclamados filmes o invasor e o cheiro do ralo, teve contos adaptados ao cinema, escreveu livros infanto-juvenis, ganhou prêmios e afirma: "a literatura é a minha cachaça".
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Vencedor de quatro prêmios jabuti e outras honrarias, o jornalista, tradutor e escritor ruy castro, escreveu importantes biografias sobre nelson rodrigues, garrincha, carmem miranda e chega de saudade, onde conta a história da bossa nova. Escreve também colunas e crônicas para jornais. A cidade maravilhosa é o palco principal dos textos do mineiro de caratinga.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Nascido na amazônia, o autor dos estatutos do homem é um dos poetas mais influentes e respeitados de nosso país. Thiago de mello mora no coração da floresta amazônica, mas vive percorrendo o mundo, imerso em universal poesia e aos 86 anos continua, como um peregrino poético, sua caminhada. "eu não levo a sério quando me chamam de grande poeta. Tem fita métrica para medir poeta"?
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: A primeira mulher a presidir a academia de letras, nélida piñon já publicou livros de crônicas, romances, contos, memórias, ensaios, em mais de 50 anos de carreira. A carioca filha de espanhóis de origem galega, formada em jornalismo na puc- rio de janeiro foi editora e membro do conselho editorial de várias revistas no brasil e no exterior.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele começou como poeta e escreveu seu primeiro livro aos 13 anos. Na juventude fez teatro, trabalhou na marinha mercante, foi trabalhador ilegal na europa e relojoeiro. Nascido em lages, santa catarina, cristovão tezza vive em curitiba, onde começou sua carreira literária. Exímio criador de diálogos rápidos, concisos e cheios de expectativa, sua trajetória como escritor de estilo solidamente definido vem sendo reconhecida e premiada.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ledo ivo nasceu em alagoas. Seus livros, que incluem ensaios, literatura infanto juvenil, antologias, crônicas e romances, estão publicados em vários idiomas. É jornalista, cronista, poeta, romancista, autor de uma vasta obra e ocupante da cadeira número 10 da academia brasileira de letras. Sua relação com o berço, sua "alagoanidade" é visceral e inseparável de sua obra.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele nasceu em pelotas, passou a infância em bagé e hoje vive em brasília. É autor de 35 livros e recebeu mais de 20 prêmios literários. Repóter, redator, editor, teatrólogo, crítico literário. A premiada obra de lourenço cazarré é focada no universo infanto-juvenil. "meu objetivo como escritor juvenil é provar para um garoto de 12 anos que se ele atravessa um livro de 100 páginas, ele lê e não morre."
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: O gaúcho joão gilberto noll coleciona 5 prêmios jabuti. Teve vários de seus contos adaptados para o cinema e faz parte da antologia dos cem melhores contos brasileiros. Também escreveu romances premiados e peças de teatro. Apaixonado pela música, que trouxe seu primeiro encantamento pela arte, é criador de imagens que transcendem a narrativa. Interessado pelos mistérios da alma humana, considera-se um escritor de linguagem, não de tramas e assuntos.
Documentário 2013 26 min Brasil DF
Sinopse: Autor de histórias em quadrinhos, o artista gráfico é também ator, escritor e um viajante da dramaturgia. Lourenço mutarelli é formado em belas artes. Começou fazendo histórias em quadrinhos. As peças, romances e adaptações de suas obras vieram depois, com muito sucesso. Ele diz que nunca pensou em ser escritor, porque tem um respeito muito grande pela literatura e complementa: "a crítica até hoje tem um preconceito muito grande por ser um cara que vem dos quadrnhos, que é uma coisa desprezível e menor".
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele escreveu seu primeiro romance aos 12 anos. Colecionava dicionários. Trocava figurinhas e bolas de gude por livros. Era o menino que vendia palavras. Nascido em araraquara, são paulo, ignácio de loyola brandão começou escrevendo reportagens e crítica de cinema. Apaixonado pela sétima arte, via e revia os filmes centenas de vezes. Ignácio de loyola brandão comandou editorialmente importantes revistas brasileiras.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele criou o sol e revolucionou a imprensa brasileira. Reynaldo jardim, poeta apaixonado, editor revolucionário, é a própria história da imprensa brasileira contemporânea. Paulista, reynaldo jardim revolucionou a imprensa brasileira. Viveu em várias cidades do país criando jornais, revistas e suplementos literários. Faz poesia todos os dias, como profissão, gosta de contar. E de transformar tudo em poesia.
Documentário 2008 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele é autor de crônicas e repostagens que encantaram milhares de leitores por todo o país. Seus livros pensam e discutem o brasil de hoje. Aos 81 anos zuenir ventura não pára. Entre feiras literárias e palestras por todo o país, assina duas colunas semanais em jornais e revistas. Ventura trabalhou como repórter, redator e editor em vários órgâos da imprensa brasileira.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Elogiada pela crítica nacional e internacional, lygia bojunga, autora de 22 livros, é a primeira escritora fora do eixo europa-estados unidos a receber a medalha hans cristian anderson, considerada o prêmio nobel dos autores para a infância e juventude em todo o mundo. Suas obras estão traduzidas em vários idiomas.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele é o autor do livro nacional mais vendido na década de 80, feliz ano velho. Marcelo rubens paiva é romancista, autor teatral, cronista e jornalista. O desaparecimento de seu pai, o ex-deputado federal rubens paiva, pela ditadura militar, marcou sua vida. Um acidente aos vinte anos deixou-o tetraplégico. É autor de outros êxitos literários, como blecaute, bala na agulha, não és tu brasil, o homem que conhecia as mulheres.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ele já foi pipoqueiro, barman e balconista de armarinho antes de decolar na literatura. Quando descobriu uma biblioteca, "lugar ideal porque nunca tinha alguém", lia de tudo: de enciclopédia a bula de remédio com fervorosa vontade de aprender. Começou com duas coletâneas de contos, seus romances foram aclamados com diversos prêmios e publicados internacionalmente.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Escritora, tradutora, colunista e professora universitária aposentada, lya luft lançou livros de poesias, contos, crônicas, ensaios e livros infantis. Já traduziu mais de 100 livros, muitos deles, obras primas de grandes autores das letras anglo-germânicas, como virginia woolf, rainer maria hilke, hermann hesse, doris lessing, günther grass e thomas mann.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: O sucesso chegou cedo na vida de leticia wierzchowski. Estudou arquitetura antes de decolar na literatura. Estreou em 1998. É considerada uma das maiores revelações literárias do início do século xxi. Seu romance, a casa das sete mulheres, virou série televisiva e já foi veiculada em mais de 30 países. Ela tem livros publicados na espanha, portugal, grécia e itália.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Ministro, governador, senador da república e escritor de extensa obra, escreveu livros sobre temas como economia, história, sociologia e pricipalmente educação. Cristovam ricardo cavalcanti buarque é pernambucano do recife. O gosto pela política e pela literatura, marcam a trajetória desse engenheiro, economista e professor universitário que sempre se dedicou a educação.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: A amazônia é o grande tema dos livros de márcio souza. A divertida alegoria sobre a conquista do acre pelo brasil, "galvez, imperador do acre", lançou o romancista, que também é jornalista, teatrólogo, ensaísta e roteirista de televisão e cinema.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Mestra em literatura brasileira pela universidade de brasília, stella maris rezende é também professora, atriz, cantora, artista plástica, além de escritora. Definindo a si própria como uma artista que " lida com a magia da linguagem, as imagens , a imaginação, as metáforas, a ambiguidade, a mentira, a verdade, os mistérios e as delicadas e terríveis perguntas da condição humana", tem dezenas de livros publicados, entre romances, novelas , crônicas, contos, poemas e uma peça teatral, para o público adulto e infanto juvenil. Tem recebido vários prêmios importantes por sua produção.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Poeta, cronista, romancista e professor. Possui 40 livros publicados. Participou dos principais momentos políticos e sociais do brasil nos últimos 50 anos. A obra do ítalo- brasileiro affonso romano de santanna tem sido objeto de estudos acadêmicos no brasil e no exterior e suas crônicas são lidas por milhares de leitores.
Documentário 2011 26 min Brasil DF
Sinopse: Autor de um dos mais geniais romances brasileiros de todos os tempos, viva o povo brasileiro, joão ubaldo ribeiro é escritor, jornalista, roteirista e professor. Formado em direito, membro da academia brasileira de letras, ganhou, entre outras homenagens mundo afora, o prêmio camões em 2008. Sobre o ofício de escrever, diz: "todo mundo tem um dom. E eu acredito que o grande pecado que o sujeito pode cometer é trair seu dom".
GRANDES BRASILEIROS
Anísio Teixeira
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
|
Anísio Teixeira |
|
|
Nome completo |
Anísio Spínola Teixeira |
|
Nascimento |
|
|
Morte |
11 de março de 1971 (70 anos) |
|
Ocupação |
advogado, educador e escritor |
|
Principais trabalhos |
|
Anísio Spínola Teixeira (Caetité, 12 de julho de 1900 — Rio de Janeiro, 11 de março de 1971) foi um jurista, intelectual, educadore escrito
Na ideia de educação para todos, expressa por Anísio Teixeira, está a base de sua atuação como educador e sua contribuição para a educação no Brasil, importante até hoje!
Índice
[esconder]
o 1.1 Formação e início da vida pública
· 2 Política, realização e perseguição
· 3 Casa Anísio Teixeira (1998 – 2009)
· 5 Depoimentos sobre o educador
· 7 Obras
Biografia de um educador[editar | editar código-fonte]
Formação e início da vida pública[editar | editar código-fonte]
Deocleciano Teixeira, pai de Anísio.
Seu pai, o médico Deocleciano Pires Teixeira, foi chefe político do município de Caetité, casara-se com três irmãs, sucessivamente, sendo sua mãe a terceira delas. A família Spínola, secular na região, tinha já vários expoentes na vida social e política nacional — a exemplo de Aristides Spínola e Joaquim Spínola, que havia sido presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, e fundador da Revista dos Tribunais.
Em sua cidade natal, iniciou os estudos no Colégio São Luís Gonzaga, de jesuítas, continuando depois sua formação basilar emSalvador, em 1914, no Colégio Antônio Vieira, também dessa Ordem Religiosa. ). Filho de fazendeiro, estudou em colégios de jesuítas na Bahia e cursou direito no Rio de Janeiro. Diplomou-se em 1922 e em 1924 já era inspetor-geral do Ensino na Bahia
Sob a influência dessa instituição, cogitou tornar-se jesuíta — sonho veementemente combatido por seu pai, que projetara uma carreira política para o filho.
Ainda aos dezessete anos, teve sua inteligência reconhecida por Teodoro Sampaio, que o convidou a proferir uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia.
Formando-se em 1922 na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro (atual Faculdade de Direito da UFRJ).
O educador na Bahia[editar | editar código-fonte]
Casa Natal de Anísio Teixeira,Caetité, Bahia.
De volta à Bahia, em 1924, a convite do governador Góes Calmon, assumiu o cargo de Inspetor Geral de Ensino — cargo equivalente hoje ao de Secretário da Educação - iniciando sua carreira de pedagogo e administrador público.
A fim de melhor desempenhar esta função, viajou em 1925 à Europa, onde observou o sistema educacional de diversos países — implementando em seguida várias reformas no ensino do estado.
Teixeira conseguiu ampliar o sistema educacional, privilegiando a formação de professores. Em sua terra natal, Caetité, reinaugurou a Escola Normal, que havia sido fechada por Severino Vieira em 1901.
Em 1927, foi aos Estados Unidos, onde travou conhecimento com as ideias do filósofo e pedagogo John Dewey, que muito iriam influenciar seu pensamento. No ano seguinte, demitiu-se do cargo pelo fato de o novo governador não concordar com suas ideias sobre mudanças no ensino.
Voltou aos Estados Unidos (1928), onde fez pós-graduação. De volta ao Brasil traduziu, pela primeira vez em português, dois trabalhos de Dewey.
Em 1928, ingressou na Universidade de Colúmbia, em Nova York, onde obteve o título de mestre e conheceu o educador John Dewey.
Em 1931, mudou-se para o Rio de Janeiro, ocupando a Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal, em cujo mandato instituiu a integração da "Rede Municipal de Educação", do fundamental à universidade. Diversas melhorias e mudanças foram feitas, mas a que maior polêmica gerou foi a criação da Universidade do Distrito Federal, em1935.
Tornou-se Secretário da Educação do Rio de Janeiro em 1931 e realizou uma ampla reforma na rede de ensino, integrando o ensino da escola primária à universidade.
Em 1932, participou do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, tendo publicado neste período duas obras sobre educação que, junto a suas realizações, deram-lhe projeção nacional.
Em 1935, criou a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, perseguido pelo governo de Getúlio Vargas, Anísio Teixeira mudou-se para sua cidade natal, na Bahia, onde viveu até 1945.
Anísio Teixeira assumiu o cargo de conselheiro geral da UNESCO em 1946. No ano seguinte, foi convidado novamente a assumir o cargo de Secretário da Educação da Bahia, onde foi muito bem-sucedido como administrador público. Criou a Escola Parque, em Salvador, que se tornou um centro pioneiro de educação integral.
Em 1951, assumiu a função de Secretário Geral da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), tornando-se, no ano seguinte, diretor do INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos).
Em fins dos anos 1950, Anísio Teixeira participou dos debates para a implantação da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, sempre como árduo defensor da educação pública. Ao lado de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, da qual tornou-se reitor em 1963.
No ano seguinte, com o golpe militar, afastou-se do cargo e foi para os Estados Unidos, lecionando nas Universidades de Colúmbia e da Califórnia. De volta ao Brasil em 1966, tornou-se consultor da Fundação Getúlio Vargas.
Anísio Teixeira morreu em 1971, em circunstâncias consideradas obscuras. Seu corpo foi achado num elevador na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Apesar do laudo de morte acidental, há suspeitas de que tenha sido vítima das forças de repressão do governo do General Emílio Garrastazu Médici.
Política, realização e perseguição[editar | editar código-fonte]
Durante a última fase do Estado Novo, Teixeira afastou-se da vida pública. Dedicou-se, então, à mineração — atividade de alguns parentes. Aproximou-se mais do amigoMonteiro Lobato e publicou Educação para a Democracia, além de realizar diversas traduções.
Na década de 1940, foi Conselheiro da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).
Voltando o país ao regime democrático em 1946, Teixeira foi convidado por Octávio Mangabeira — um dos maiores líderes liberais do seculo XX, fundador da UDN, também exilado e então eleito para o Governo da Bahia — a ser o Secretário de Educação e Saúde. Dentre outras realizações, construiu na Liberdade — o mais populoso e pobre bairro da capital baiana — o "Centro Educacional Carneiro Ribeiro", mais conhecido por Escola Parque, lugar para educação em tempo integral e que serviria de modelo para os futuros CIACs e CIEPs.
Nos anos 50, dirigiu o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, ou INEP, órgão do Governo Federal que, no governo de Fernando Henrique Cardoso, passou a se chamarInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira2 . Foi também o criador e primeiro dirigente da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual CAPES), criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, pelo presidente Getúlio Vargas, e que Anísio dirigiu até o golpe de 1964. A CAPES subordinava-se diretamente ao Presidente da República mas, depois de 1964, passou a integrar o organograma do Ministério da Educação3 . De todo modo, com a ditadura militar, Anísio deixou sua direção.
Foi um dos idealizadores do projeto da Universidade de Brasília (UnB), inaugurada em 1961, da qual veio a ser reitor em 1963, para ser afastado após o golpe militar de 1964.
Uma morte misteriosa[editar | editar código-fonte]
Diversas circunstâncias obscuras cercaram a morte de Anísio Teixeira. Dois meses antes de sua morte, ele escreveu: "Por mais que busquemos aceitar a morte, ela nos chega sempre como algo de imprevisto e terrível, talvez devido seu caráter definitivo: a vida é permanente transição, interrompida por estes sobressaltos bruscos de morte" (numa carta a Fernando de Azevedo).
Por intercessão do amigo Hermes Lima, Anísio candidatou-se a uma vaga na Academia. Iniciou-se assim a série de visitas protocolares aos Imortais.
Depois da última visita, ao lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Anísio desapareceu. Preocupada, sua família investigou seu paradeiro, sendo informada pelos militares de que ele se encontrava detido.
Uma longa procura por informações teve início — repetindo um drama vivido por centenas de famílias brasileiras durante a ditadura militar. Mas, ao contrário das desencontradas informações e pistas falsas, seu corpo foi finalmente encontrado no fosso do elevador do prédio do imortal Aurélio, na Praia de Botafogo, no Rio. Dois dias haviam se passado de seu desaparecimento. Seu corpo não tinha sinais de queda, nem hematomas que a comprovassem. A versão oficial foi de "acidente".
Calava-se, para um Brasil mergulhado em sombras, uma voz em defesa da educação — portador da "subversiva" ideia de um país melhor. Era o dia 14 de março de 1971.4
Em depoimento na UnB, em 10 de agosto de 2012, o professor João Augusto de Lima Rocha declarou:
"Em dezembro de 1988, Luiz Viana Filho me confessou que Anísio Teixeira foi preso no dia que desapareceu (11 de março de 1971) e levado para o quartel da Aeronáutica, em uma operação que teve como mentor o brigadeiro João Paulo Burnier, figura conhecida do regime militar e que tinha o plano de matar todos os intelectuais mais importantes do Brasil na época", disse João Augusto. 5
O legado[editar | editar código-fonte]
· De sua obra em Salvador, destaca-se o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (melhor conhecido por Escola Parque), de 1950, situado no populoso e pobre bairro da Liberdade, no qual buscou inspiração Darcy Ribeiro para, na década de 1980, criar os CIEPs. Na década de 1990 foi a vez do Governo Federal criar os CIACs e, no início do século XXI, na Bahia, os Colégios Modelo — todos fundamentados em sua ainda atual visão da educação integral e, no início do século XXI, os mais de 21 CEUs(Centros Educacionais Unificados), construídos na cidade de São Paulo, tiveram em seus projetos fortes influências da Escola Parque de Anísio.
· Em Caetité, em sua casa natal (foto acima), mantém-se a Fundação Anísio Teixeira, presidida por sua filha Anna Cristina Teixeira Monteiro de Barros, com apoio governamental (Estado e Município) e da iniciativa privada, e a Casa Anísio Teixeira, com biblioteca, museu, cine-teatro e biblioteca móvel. A instituição leva conhecimento e mantém viva a memória do grande educador brasileiro.
· No Rio de Janeiro existe o Centro Educacional Anísio Teixeira, escola privada de ensino fundamental e ensino médio, com proposta pedagógica segundo as ideias do educador.
Casa Anísio Teixeira (1998 – 2009)[editar | editar código-fonte]
A Casa Anísio Teixeira é uma entidade cultural vinculada à Fundação Anísio Teixeira e por esta administrada, localizada na casa natal do educador Anísio Teixeira, na cidade de Caetité, sudoeste da Bahia, em imóvel tombado que é patrimônio da Fundação.
Inaugurada em fev/1998, após restauração feita pelo Governo da Bahia através do IPAC, a Casa Anísio Teixeira tem como objetivo preservar e divulgar o pensamento e a obra do educador Anísio Teixeira, bem como promover o desenvolvimento regional do ponto de vista da Educação e da Cultura, inspirando-se nos ideais e princípios do educador, que sempre militou em favor da expansão das oportunidades de educação pública, gratuita e de qualidade, em nosso país.
A Entidade abriga um Centro de Memória que preserva a arquitetura e o mobiliário de época, onde são apresentados hábitos e costumes de uma família dos séculos XIX e XX; uma Biblioteca Pública informatizada e equipada também com uma Biblioteca Móvel que atende a população da zona rural, buscando despertar o interesse pela leitura; um Cine-Teatro que funciona como Auditório e Sala de Cinema (ambos esses projetos implantados com patrocínio da empresa pública federal INB - Indústrias Nucleares do Brasil, através do Programa FAZCULTURA - Programa Estadual de Incentivo à Cultura do Governo da Bahia); Oficina de Arte-Educação que atua ressaltando a importância da educação ambiental; Núcleo de Contação de Histórias que busca incentivar e formar contadores de histórias, priorizando a literatura infantil nacional e releituras de clássicos incorporados à nossa cultura; Sala de Cultura Digital, instalada em parceria com a INB, equipada com quatro computadores conectados à Internet, via cabo, e disponibilizados à população, em especial aos usuários da Biblioteca; com a ajuda permanente de um monitor; e um pátio externo para eventos culturais e educativos. Esses espaços colaboram, sem sombra de dúvida, para dinamizar a vida cultural da cidade de Caetité e da região.
Pensamento de Anísio[editar | editar código-fonte]
Ele expressa em suas ideias uma constante preocupação com uma educação livre de privilégios, que é cada vez mais valorizada.
|
Sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Revolta-me saber que dos cinco milhões que estão na escola, apenas 450.000 conseguem chegar à 4ª série, todos os demais ficando frustrados mentalmente e incapacitados para se integrarem em uma civilização industrial e alcançarem um padrão de vida de simples decência humana. Choca-me ver o desbarato dos recursos públicos para educação, dispensados em subvenções de toda natureza a atividades educacionais, sem nexo nem ordem, puramente paternalistas ou francamente eleitoreiras. — Anísio Teixeira |
Depoimentos sobre o educador[editar | editar código-fonte]
Como exórdio da importância de Anísio para a intelectualidade brasileira, o trecho da seguinte carta a ele dirigida, escrita por Monteiro Lobato, reflete como suas ideias podem animar os que verdadeiramente acreditam no Brasil:
|
Comecei a ler o Manifesto. Comecei a não entender, e ver ali o que desejava ver. Larguei-o. Pus-me a pensar — quem sabe está nalgum lugar do livro de Anísio o que não acho aqui — e lembrei-me de um livro sobre a educação progressiva, que me mandaste e que se extraviou no caos que é minha mesa. Pus-me a procurá-lo, achei-o. E cá estou, Anísio, depois de lidas algumas páginas apenas, a procurar dar berros de entusiasmo, por uma coisa maravilhosa que é a sua inteligência lapidada pelos Deweys e Kilpatricks! …Eureca! Eureca! Você é o líder, Anísio! Você há de moldar o plano educacional brasileiro. Só você tem a inteligência bastante aguda para ver dentro do cipoal de coisas engolidas e não digeridas por nossos pedagogos reformadores… Eles não conhecem, senão de nomes, aqueles píncaros (Dewey & Co.) por cima dos quais você andou e donde pode descortinar a verdade moderna. Só você, que aperfeiçoou a visão e teve o supremo deslumbramento, pode neste País falar de educação! |
Busto de Anísio, em Caetité.
Algumas opiniões acerca deste educador:
|
…Cidadão íntegro, puro, decente. Além de inteligentíssimo, dono de cultura invulgar, mestre inconteste no que se refere à educação, Anísio Teixeira foi um brasileiro raro. Tão extraordinário a ponto de ter sido alvo durante toda a vida de restrições, suspeitas, aleivosias, perseguições, misérias de todo tipo com que os imundos o perseguiram — sobram imundos no Brasil. Tentaram de todas as maneiras impedir Anísio Teixeira de realizar sua missão civilizadora mas ele era irredutível e invencível. O que o Brasil de hoje possui de melhor e de maior deve-se em grande parte a este humanista baiano de grandeza universal. |
|
|
…Anísio Teixeira é o pensador mais discutido, mais apoiado e mais combatido do Brasil. Ninguém como ele provoca a admiração de tantos. Ninguém é também tão negado e tem tantas vezes seu pensamento deformado (…) Suas teses educacionais se identificam tanto com os interesses nacionais e com a luta pela democratização de nossa sociedade que dificilmente se admitiria pudessem provocar tamanha reação num país republicano. |
|
|
Suas obras e seus conceitos continuam sendo ricas fontes de conhecimento e de inspiração para os que se preocupam com a educação e com o futuro de nosso país. — Nilda Teves6 |
|
|
A magnitude de Anísio Teixeira é própria de um pensador social dos mais profundos, que não perde em nada para Gilberto Freyre ou qualquer outro. (…) Ele precisa ser lembrado ao lado de historiadores como Sérgio Buarque de Holanda, sociólogos como Florestan Fernandes e antropólogos como Emilio Willems. — Marcos Cezar de Freitas7 |
|
Homenagens[editar | editar código-fonte]
Depois de muito tempo relegado ao esquecimento, a memória de Anísio Teixeira foi, com o fim da ditadura militar, aos poucos sendo resgatada. Sem dúvida, o maior passo neste processo, deu-se com o lançamento, em 1 de outubro de 1993, da cédula de mil Cruzeiros Reais, lembrando o grande educador, que ficou em vigor até julho de 1994, quando foi substituída pelo Real.
O ano de seu centenário de nascimento, 2000, foi marcado por diversas homenagens. Muitas entidades educacionais ou, mais especificamente, pedagógicas, realizaram eventos em comemoração.
O dia 12 de julho é, em sua memória, feriado municipal na sua Caetité natal.
Sob auspícios da Rede Bandeirantes, um documentário foi feito em 1999, contando a vida do educador.
Inúmeras instituições de ensino no país levam seu nome, em especial o Instituto de Educação Anísio Teixeira, em sua terra natal.
A cadeira número 3 da Academia Caetiteense de Letras, em sua cidade natal, traz como patrono o grande educador.
Rua e travessas recebem o nome de Anisio Teixeira nas cidades de: Barreiras, Itabuna, Salvad
Obras[editar | editar código-fonte]
Uma das obras de Anísio.
Dentre as suas obras, destacam-se:
· Aspectos americanos de educação. Salvador. Tip. De São Francisco, 1928, 166 p.
· A educação e a crise brasileira. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1956, 355 p.
· Educação é um direito. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996, 221 p.
· Educação e o mundo l,l,.,ç, , ,
. 2ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1977, 245 p.
· Educação e universidade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998, 187 p.
· Educação no Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional 1969, 385 p.
· Educação não é privilégio. 5ª ed. Rio de Janeiro.- Editora UFRJ, 1994, 250 p.
· Educação para a democracia: introdução à administração educacional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997, 263 p.
· Educação progressiva: uma introdução à filosofia da educação. 2ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1934, 210 p.
· Em marcha para a democracia: à margem dos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, s.d., 195 p.
· Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1989, 186 p.
· Pequena introdução à filosofia da educação: a escola progressiva ou a transformação da escola. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1968, 150 p.
Referências
1. Ir para cima↑ Manifesto dos pioneiros da educação nova, BR: Pedagogia em foco.
2. Ir para cima↑ Inep, BR.
3. Ir para cima↑ "História e missão", Sobre a Capes, BR: Capes.
4. Ir para cima↑ Memória - Emoção no sepultamento do mestre. UnB Agência, 10 de agosto de 2012 (reportagem sobre a morte de Anísio Teixeira, originalmente publicada na edição de 15 de março de 1971 do jornal Última Hora).
5. Ir para cima↑ "Professor baiano surpreendeu os presentes na cerimônia ao narrar depoimentos que reforçam a suspeita de que Anísio Teixeira, fundador da Universidade, foi assassinado pelo regime militar". UnB Agência. 10 de agosto de 2012.
6. Ir para cima↑ A atualidade do pensamento de Anísio Teixeira. Palestra proferida na Associação Brasileira de Educação (ABE), pela Profª Nilda Teves. Rio de Janeiro, 2000.
7. Ir para cima↑ CASIMIRO, Vitor, "Entrevista: Anísio Teixeira foi o mais plural dos intelectuais que o Brasil teve no século XX", Revista e.Educacional. Entrevista com o pesquisador Marcos Cezar de Freitas.
Bibliografia[editar | editar código-fonte]
· TEIXEIRA, Anísio e ROCHA E SILVA, Maurício. Diálogo sobre a lógica do conhecimento. São Paulo: Edart Editora, 116 p.
· AGUIAR, Lielva Azevedo. "Agora um pouco da política sertaneja": A trajetória da família Teixeira no Alto Sertão da Bahia (Caetité, 1885-1924). Santo Antônio de Jesus:Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 2011.
Ver também[editar | editar código-fonte]
· Instituto de Educação Anísio Teixeira - fundada pelo mestre em sua cidade natal.
· Centro Educacional Carneiro Ribeiro - conhecida por Escola Parque, pioneira do ensino integral no Brasil, em Salvador.
Ligações externas[editar | editar código-fonte]
· Anísio Teixeira, Educar para Crescer
· Biblioteca Virtual Anísio Teixeira
portal sobre o educador, pode-se ter para download obras completas, como a biografia feita por Hermes Lima, além de diversos textos, imagens e homenagens.
· Biobibliografia de Anísio Teixeira Biobibliografia de Anísio Teixeira (R. bras. Est. pedag., Brasília, v. 82, n. 200/201/202, p. 207-242, jan./dez. 2001.)
· Anísio Teixeira - e a escola pública brasileira (projeto de educação integral)
GRANDES BRASILEIROS
Anísio Teixeira - Educação não é privilégio - Série ...
www.youtube.com/watch?v=
·
18 de ago de 2012 - Vídeo enviado por projetoabridor
O segundo programa revela a vida e a obra de Anísio Teixeira. O objetivo principal é explorar a mais ...
Anísio Teixeira: educação não é privilégio (Parte 1/5 ... globotv.globo.com/rede...anisi
9 de ago de 2014
O Aprovado convidou a pesquisadora e professora da Uneb Jaci Menezes para conversar sobre ...
Anísio Teixeira: educação não é privilégio (Parte 2/5 ...
www.youtube.com/watch?v=
www.youtube.com/watch?v=
·
11 de dez de 2009 - Vídeo enviado por Vinicius Coelho
Documentário sobre Anísio Teixeira da "Série Educadores Brasileiros" produzido pela TV Escola ...
educadores brasileiros - anísio teixeira ... - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
11 de abr de 2011 - Vídeo enviado por Eddie Silva
A série Educadores Brasileiros apresenta a biografia e a obra de grandes teóricos da educação no Brasil ...
Anísio Teixeira, uma vida que mudou uma história. - YouTube
www.youtube.com/watch?v=b6-
10 de jun de 2013 - Vídeo enviado por Laiane Brito
Trabalho realizado por alunos do Centro Universitário Jorge Amado-Salvador/BA. Graduandos em ...
Entenda melhor a pedagogia de Anísio Teixeira - Globo TV
·
11 de dez de 2009 - Vídeo enviado por Vinicius Coelho
Documentário sobre Anísio Teixeira da "Série Educadores Brasileiros" produzido pela TV Escola ...
ANÍSIO TEIXEIRA: EDUCAÇÃO NÃO É PRIVILÉGIO | TAL ...
tal.tv › Video
Vida e obra de Anísio Teixeira, e sua Escola Parque. ANÍSIO TEIXEIRA: EDUCAÇÃO NÃO É PRIVILÉGIO ...
Anísio Teixeira: educação não é privilégio (Parte 4/5 ...
www.youtube.com/watch?v=
·
11 de dez de 2009 - Vídeo enviado por Vinicius Coelho
Documentário sobre Anísio Teixeira da "Série Educadores Brasileiros" produzido pela TV Escola ...
www.youtube.com/watch?v=
·
25 de mai de 2009 - Vídeo enviado por kasinha7
Isso é que dá pesquisar em wikipédia. Caitité é Bahia. Anísio Teixeira foi o maior educador do Brasil ...
Anisio Teixeira e a educação - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
8 de jun de 2008 - Vídeo enviado por avaunitins
Video editado do dominio publico que descreve a importancia deanisio teixeira para a educação ...
CELSO FURTADO
Economista
1. Celso Monteiro Furtado foi um economista brasileiro e um dos mais destacados intelectuais do país ao longo do século XX. Wikipédia
2.
3. Nascimento: 26 de julho de 1920, Pombal, Paraíba
4. Falecimento: 20 de novembro de 2004, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
5. Educação: Universidade de Paris
6. Cônjuge: Rosa Freire d'Aguiar (de 1978 a 2004)
7. Obras: Formação Econômica do Brasil, O Brasil pós-"milagre", mais
8. Filhos: Mario Tosi Furtado, André Tosi Furtado
Celso Furtado O Longo Amanhecer - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
23 de abr de 2013 - Vídeo enviado por vivicacirio
Celso Furtado O Longo Amanhecer. ... next; Play now. Furtado: a navegação venturosa para o longo ...
O Longo Amanhecer - Cinebiografia de Celso Furtado ...
https://archive.org/details/
5 de nov de 2013
Uma análise das idéias do economista Celso Furtado e de sua participação em diversos projetos ...
Mesa-redonda "Celso Furtado: a dimensão cultural do ...
www.youtube.com/watch?v=
·
22 de dez de 2011 - Vídeo enviado por Centro Celso Furtado
A mesa-redonda Celso Furtado: a dimensão cultural do desenvolvimento, ocorreu dia 25 de novembro ...
CESAR LATES
César Lattes - YouTube
www.youtube.com/watch?v=i6nqu-
·
23 de jan de 2011 - Vídeo enviado por Alberto Ricardo Präss
César Lattes (11/07/1924, Curitiba) (08/03/2005, Campinas) Um dos mais famosos cientistas ...
Homenagem ao Físico César Lattes - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
13 de abr de 2008 - Vídeo enviado por Ronaldo Barbosa Alvim
Homenagem ao maior físico brasileiro de todos os tempos: César Lattes Visite o blog do professor ...
Cientistas Brasileiros (César Lattes & José Leite Lopes ...
www.youtube.com/watch?v=
·
10 de set de 2011 - Vídeo enviado por Lucas Alexandre Mortale
Cientistas Brasileiros (César Lattes & José Leite Lopes) - Final ... Cézar Lattes e José Leite Lopes, vocês ...
Cientistas Brasileiros - César Lattes & José Leite Lopes ...
22 de jan de 2015
César Lattes e José Leite Lopes são dois pilares da Física brasileira. A repercussão internacional e o ...
ALOISIO MAGALHAES
1.
2. Aloísio Sérgio Barbosa de Magalhães foi um designer gráfico brasileiro. É considerado pioneiro na introdução do design moderno no Brasil, tendo ajudado a fundar a primeira escola superior de design neste país, a Escola ... Wikipédia
1. A história de Aloísio Magalhães - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
o
15 de mai de 2012 - Vídeo enviado por Anderson Cortez Gonçalves
História de Aloísio Magalhães contada pelo seu próprio fantoche.
2. Aloisio magalhaes - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
6 de ago de 2014 - Vídeo enviado por Conteúdo Comunicação
Vídeo release Ocupação Aloísio Magalhães - Itaú Cultural.
3. Ocupação Aloisio Magalhães (2014) - YouTube
https://www.youtube.com/
o
15 de ago de 2014 - Aloisio Magalhães é o 19º homenageado do projeto Ocupação. A exposição apresenta ao público suas diversas áreas de atuação: o trabalho ...
4. Maria Cecília Londres - Ocupação Aloisio Magalhães (2014 ...
www.youtube.com/watch?v=
12 de ago de 2014 - Vídeo enviado por Itaú Cultural
Depoimento gravado para a Ocupação Aloisio Magalhães, em julho de 2014, no Rio de Janeiro/RJ ...
5. Ocupação Aloisio Magalhães (2014) - Teaser - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
15 de ago de 2014 - Vídeo enviado por Itaú Cultural
Aloisio Magalhães é o 19º homenageado do projeto Ocupação. A exposição apresenta ao público suas ...
6. João Leite - Ocupação Aloisio Magalhães (2014) - Parte 1/6 ...
www.youtube.com/watch?v=
12 de ago de 2014 - Vídeo enviado por Itaú Cultural
Depoimento gravado para a Ocupação Aloisio Magalhães, em julho de 2014, no Itaú Cultural, em São ...
7. Clarice Magalhães - Ocupação Aloisio Magalhães (2014 ...
www.youtube.com/watch?v=
12 de ago de 2014 - Vídeo enviado por Itaú Cultural
Depoimento gravado para a Ocupação Aloisio Magalhães, em julho de 2014, no Rio de Janeiro/RJ ...
8. Joaquim Falcão - Ocupação Aloisio Magalhães (2014 ...
www.youtube.com/watch?v=
12 de ago de 2014 - Vídeo enviado por Itaú Cultural
Depoimento gravado para a Ocupação Aloisio Magalhães, em julho de 2014, no Rio de Janeiro/RJ ...
9. Aloísio Magalhães - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
6 de mai de 2011 - Vídeo enviado por Milene Sanches
Informatica Aplicada - Uniube (Arquitetura e Urbanismo, 2011)
10. Clarice Magalhães - Ocupação Aloisio Magalhães (2014 ...
www.youtube.com/watch?v=
12 de ago de 2014 - Vídeo enviado por Itaú Cultural
Depoimento gravado para a Ocupação Aloisio Magalhães, em julho de 2014, no Rio de Janeiro/RJ ...
Milton Santos
1. Milton Almeida dos Santos foi um geógrafo brasileiro. Apesar de ter se graduado em Direito, Milton destacou-se por seus trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do Terceiro Mundo. Wikipédia
2.
3. Nascimento: 3 de maio de 1926, Brasil
4. Falecimento: 24 de junho de 2001, São Paulo, São Paulo
5. Educação: Universidade de Estrasburgo
Roda Viva - Milton Santos - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
12 de abr de 2011 - Vídeo enviado por Albatroz Rei
Milton Santos - 2º Bloco ... O professor Milton Santos não sos coloca contra a globalização, mas contra a ...
Milton Santos - o mais importante geógrafo do Brasil (TV ...
www.youtube.com/watch?v=
5 de jun de 2014 - Vídeo enviado por geografia e ensino de geografia
Milton Santos (1926-2001). Em 1994 recebeu o Prêmio Vautrin Lud - equivalente ao Nobel da ...
Documentario - Milton Santos por uma outra globalização ...
www.youtube.com/watch?v=
·
3 de set de 2011 - Vídeo enviado por Navegante Net
Milton Almeida dos Santos (Brotas de Macaúbas, 3 de maio de 1926 -- São Paulo, 24 de junho de 2001 ...
Milton Santos - Globalização 1/9 - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
6 de jan de 2010 - Vídeo enviado por Drean021
Encontro com Milton Santos: O mundo global visto do lado de cá, documentário do cineasta brasileiro ...
Darcy Ribeiro
Escritor
1. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, escritor e político brasileiro, conhecido por seu foco em relação aos índios e à educação no país. Wikipédia
2.
3. Nascimento: 26 de outubro de 1922, Montes Claros, Minas Gerais
4. Falecimento: 17 de fevereiro de 1997, Brasília
5. Obras: O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, mais
O Povo Brasileiro, por Darcy Ribeiro - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
18 de set de 2013 - Vídeo enviado por Manguebaby
Em "O Povo Brasileiro", o antropólogo Darcy Ribeiro nos conduz pelos caminhos da nossa formação ...
Cap.1/Matriz Tupi/O Povo Brasileiro/Darcy Ribeiro - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
20 de set de 2013 - Vídeo enviado por Balaio Afro-Indígena
Capitulo 1 - Matriz Tupi O Povo Brasileiro é uma obra do antropólogo Darcy Ribeiro, lançada em 1995 ...
O Povo Brasileiro (Matriz Tupi) 1/30 - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
·
28 de jan de 2010 - Vídeo enviado por Drean021
O Povo Brasileiro é uma obra do antropólogo Darcy Ribeiro, lançada em 1995, que aborda a história ...
O Povo Brasileiro - PARTE 2 - Matriz Luso. - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
11 de fev de 2013 - Vídeo enviado por hallysonmoreira1993
CLIQUE AQUI◅◅▽▽▽▽▽▽▽▽▽ O Povo Brasileiro é uma recriação da narrativa de Darcy Ribeiro, e discute a ...
Matriz Afro, O Povo Brasileiro Darcy Ribeiro Cap3 - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
27 de mai de 2012 - Vídeo enviado por Mem Costa
Documentário do filme brasileiro do antropologo Darcy Ribeiro.
O povo brasileiro (parte um) - YouTube
www.youtube.com/watch?v=-
·
13 de set de 2011 - Vídeo enviado por Denis Meneses
O antropólogo Darcy Ribeiro (1913-1997) foi um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. Esse ...
5:51 Indios - (Formação do Povo Brasileiro - Darcy Ribeiro)
www.youtube.com/watch?v=
29 de mai de 2014 - Vídeo enviado por José Luís Alves da Rocha
Para falar sobre o canto, a dança, a arte e os rituais antropofágicos, utilizei esse outro recorte. Povo ...
Cap 9 O Brasil Caboclo O Povo Brasileiro Darcy Ribeiro ...
www.youtube.com/watch?v=
26 de set de 2013 - Vídeo enviado por Balaio Afro-Indígena
Cap 9 O Brasil Caboclo O Povo Brasileiro Darcy Ribeiro. Balaio Afro-Indígena ...
O Brasil Crioulo O Povo Brasileiro Darcy Ribeiro Cap5 ...
www.youtube.com/watch?v=
27 de mai de 2012 - Vídeo enviado por Mem Costa
Documentário do filme brasileiro do antropologo Darcy Ribeiro.
Documentario - O povo brasileiro (Darcy Ribeiro) - YouTube
https://www.youtube.com/
·
Documentario - O povo brasileiro (Darcy Ribeiro). by Ronnie Ballack; 30 videos; 20,168 views; Last updated on Jun 21, 2014. Play all. Share. Loading... Save ...
SOBRAL PINTO
Anna Maria Monteiro compartilhou a própria foto.
Eis um grande homem: Sobral Pinto! Assistam o filme sobre a vida dele!
Para que os brasileiros saibam que nem só de vermes se constituiu esta nação. Sim, muitos brasileiros foram íntegros. Sim , precisamos olhar para os nossos heróis, porque estamos cheios dos larápios sangue-sugas da nação.
Um advogado que morreu pobre. Em plena ditadura do Getúlio Vargas e depois na ditadura militar defendia os presos políticos( sem pertencer a nenhum partido e sequer era simpatizante da causas políticas, pois era católico fervoroso) Era um dos ÚNICOS advogados que tinha sucesso nestas causas, porque além de inteligente e trabalhador, nunca se deixou atemorizar pelo poder, muito menos se seduziu por ele, pois mesmo ao oferecer-lhe cargos e honrarias, ELE NUNCA ACEITOU! Um cristão de verdade Emoticon heart
Heráclito Fontoura Sobral Pinto foi um dos maiores juristas do Brasil. Nasceu em 1893 e morreu em 1991, aos 98 anos. Tornou-se uma figura exemplar ao combater duas ditaduras e colocar seu saber jurídico a serviço dos direitos humanos e das liberdades civis.
Católico fervoroso, defendeu pessoas com visões de mundo completamente diferentes da sua, como presos políticos do Estado Novo e da ditadura militar, incluindo o líder comunista Luis Carlos Prestes. Sobral foi responsável pelo resgate da filha de Prestes e Olga Benário das mãos do nazismo.
Sobral também atuou na defesa de Juscelino Kubitschek, mesmo sendo politicamente alinhado à UDN, partido historicamente rival a Juscelino. Nos anos 80, já em idade avançada, subiu ao palanque das Diretas Já e discursou a favor da Constituição, que diz que "todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido".
Paula Fiuza é neta de Sobral Pinto e dirigiu o documentário sobre sua vida chamado "Sobral - O Homem Que Não Tinha Preço", que estreou na última sexta-feira (1º/11). Ela foi entrevistada pelo Podcast Rio Bravo, e o áudio da entrevista pode ser acessado aqui.
Leia os principais trechos da entrevista:
Como seu avô conseguiu ser um homem tão lúcido em momentos tão complexos da vida nacional?
O Sobral Pinto carregava com ele como norte a própria consciência. Ele só obedecia à própria consciência e sempre foi assim. Ele teve uma criação católica muito forte. Ele foi estudante no colégio jesuíta, então já carregava essa coisa desses princípios católicos, a ética etc. Acho que o que complementou foi todo o estudo do Direito e ele viu o Direito como uma missão. Ele achava que carregar adiante aquela missão era o propósito da vida dele. Então ele não se vendia por preço algum porque ele não era movido por dinheiro, ele não se encantava com dinheiro, não tinha nenhuma ligação com bens materiais etc., então para ele era uma coisa mais do que natural seguir a ética pessoal dele, os princípios católicos e tudo que ele acreditava desde criança. E toda a formação jurídica, enfim. Acho que para ele era tudo muito natural. Não tinha crise de consciência.
Dois dos episódios mais marcantes da vida do Sobral envolveram Luis Carlos Prestes. Um foi a defesa que ele fez do Prestes e o outro, o resgate de Anita Leocádia das mãos do nazismo...
O Prestes estava sendo colocado como vilão do país, aquele cara que queria fazer uma revolução comunista aqui. O Getúlio o encarcerou junto com o Harry Berger, que era outro revolucionário comunista, alemão, e eles foram muito mal tratados. Harry Berger foi terrivelmente torturado e o Luis Carlos Prestes ainda tinha uma coisa de não aceitar que qualquer pessoa o defendesse, muito menos um católico. O Sobral foi designado seu advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi lá para defendê-lo e o Prestes não aceitou. Só que o Sobral insistiu e continuou visitando o Prestes, apesar de não ser oficialmente seu advogado.
Como foi esse diálogo?
Heráclito Fontoura Sobral Pinto foi um dos maiores juristas do Brasil. Nasceu em 1893 e morreu em 1991, aos 98 anos. Tornou-se uma figura exemplar ao combater duas ditaduras e colocar seu saber jurídico a serviço dos direitos humanos e das liberdades civis.
Católico fervoroso, defendeu pessoas com visões de mundo completamente diferentes da sua, como presos políticos do Estado Novo e da ditadura militar, incluindo o líder comunista Luis Carlos Prestes. Sobral foi responsável pelo resgate da filha de Prestes e Olga Benário das mãos do nazismo.
Sobral também atuou na defesa de Juscelino Kubitschek, mesmo sendo politicamente alinhado à UDN, partido historicamente rival a Juscelino. Nos anos 80, já em idade avançada, subiu ao palanque das Diretas Já e discursou a favor da Constituição, que diz que "todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido".
Paula Fiuza é neta de Sobral Pinto e dirigiu o documentário sobre sua vida chamado "Sobral - O Homem Que Não Tinha Preço", que estreou na última sexta-feira (1º/11). Ela foi entrevistada pelo Podcast Rio Bravo, e o áudio da entrevista pode ser acessado aqui.
Leia os principais trechos da entrevista:
Como seu avô conseguiu ser um homem tão lúcido em momentos tão complexos da vida nacional?
O Sobral Pinto carregava com ele como norte a própria consciência. Ele só obedecia à própria consciência e sempre foi assim. Ele teve uma criação católica muito forte. Ele foi estudante no colégio jesuíta, então já carregava essa coisa desses princípios católicos, a ética etc. Acho que o que complementou foi todo o estudo do Direito e ele viu o Direito como uma missão. Ele achava que carregar adiante aquela missão era o propósito da vida dele. Então ele não se vendia por preço algum porque ele não era movido por dinheiro, ele não se encantava com dinheiro, não tinha nenhuma ligação com bens materiais etc., então para ele era uma coisa mais do que natural seguir a ética pessoal dele, os princípios católicos e tudo que ele acreditava desde criança. E toda a formação jurídica, enfim. Acho que para ele era tudo muito natural. Não tinha crise de consciência.
Dois dos episódios mais marcantes da vida do Sobral envolveram Luis Carlos Prestes. Um foi a defesa que ele fez do Prestes e o outro, o resgate de Anita Leocádia das mãos do nazismo...
O Prestes estava sendo colocado como vilão do país, aquele cara que queria fazer uma revolução comunista aqui. O Getúlio o encarcerou junto com o Harry Berger, que era outro revolucionário comunista, alemão, e eles foram muito mal tratados. Harry Berger foi terrivelmente torturado e o Luis Carlos Prestes ainda tinha uma coisa de não aceitar que qualquer pessoa o defendesse, muito menos um católico. O Sobral foi designado seu advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi lá para defendê-lo e o Prestes não aceitou. Só que o Sobral insistiu e continuou visitando o Prestes, apesar de não ser oficialmente seu advogado.
Como foi esse diálogo?
Eles começaram a se entender e o Prestes viu que ali ele tinha um interlocutor isento, imparcial. Uma pessoa que estava realmente ali para defender os direitos dele. Então chegou um momento em que aceitou oficialmente a defesa. Foi um bom tempo de insistência nessa relação.
Como Sobral se envolveu na história de Anita Leocádia?
Luis Carlos Prestes era companheiro de Olga Benário na época da articulação dessa revolução comunista. Os dois foram presos, juntos, no mesmo dia, e a Olga logo depois descobriu que estava grávida do Luis Carlos Prestes. E eles não eram casados oficialmente. Na verdade, foi um romance. Eles eram marido e mulher como um disfarce, identidades falsas, só que realmente se apaixonaram e passaram a viver um romance. Olga estava grávida, mas era judia alemã. Hitler já estava há um tempo no governo da Alemanha e Getúlio [Vargas] era simpatizante de Hitler naquela época.E Olga foi extraditada para a Alemanha, grávida. Então Anita Leocádia nasceu em uma prisão alemã. Em uma prisão de mulheres em Berlim, na Alemanha. E a política dos nazistas naquela época era que quando o bebê completasse um ano e fosse desmamado, seria entregue para um asilo, perdia o nome, virava um número e ninguém sabia mais o que acontecia com o bebê.
A mãe do Prestes ficou tentando resgatar a Anita ao mesmo tempo em que tentava libertar a Olga também. Teve uma campanha internacional grande, mas não se conseguia libertar a Anita porque o governo nazista não reconhecia o Prestes como pai e, portanto, não reconhecia dona Leocádia como um parente. Então ela não podia reivindicar a guarda da criança e o governo do Getúlio Vargas também não permitia que o Prestes reconhecesse a paternidade. Aí entrou o Sobral na história. Ele já era advogado do Prestes e insistiu, insistiu... Moveu montanhas e conseguiu fazer, no último minuto antes da Anita ser entregue a esse asilo, com que liberassem a entrada dele com o documento em que o Prestes reconhecia a paternidade da Anita. Assinou e enviou isso para a dona Leocádia. E dona Leocádia pôde resgatar a Anita dos nazistas.
Uma vez, o Sobral Pinto usou a Lei de Proteção aos Animais para defender um preso político que estava sendo torturado. Conta um pouco desse episódio.
Esse preso político foi o Harry Berger, que era companheiro do Prestes nesse momento. Ele era um alemão e foi barbaramente torturado. Ficava debaixo de um vão de uma escada trancado no escuro em um espaço que ele mal conseguia se mexer, não conseguia ficar em pé, não via luz do dia, não se comunicava com absolutamente ninguém. E começou a enlouquecer. E apanhava... E Sobral Pinto, que defendia tanto Luis Carlos Prestes quanto Harry Berger, entrava com milhares de pedidos para que ele tivesse o mínimo dos seus direitos humanos respeitados e nada acontecia, não tinha efeito. Nenhuma das petições dele era aceita. Chegou um dia em que ele teve a ideia de usar a Lei de Proteção aos Animais. Ele pediu que, pelo menos, fosse respeitada a Lei de Proteção aos Animais, porque esse homem, que era um animal, estava sendo mais maltratado do que os animais protegidos por essas leis. E isso realmente teve um efeito. Mas, infelizmente, apesar disso, o Harry Berger enlouqueceu. Ele morreu louco de tanto ser torturado.
Nessa época, o Sobral estava defendendo outros comunistas ou só o Prestes e o Berger?
Nessa época, o foco era o Prestes e o Berger, mas, ao longo da vida, ele defendeu várias pessoas com visão política completamente diferente da dele. O Miguel Arraes, o Juscelino Kubitscheck. Para ele, o Direito estava acima de tudo.
Seu avô foi preso em 1968 logo depois do AI-5. Mas parece que ele aproveitou a cadeia pra esbravejar contra os militares, não é?
É claro. Ele tinha uma estatura, nessa altura da história do Brasil, que acho que lhe dava espaço para isso. E, sinceramente, mesmo que não tivesse, ele falaria, porque ele falava tudo que ele achava que deveria. Ele foi preso justamente no dia seguinte do decreto do AI-5, porque tinham medo que ele falasse contra o AI-5 em uma formatura de alunos de Direito em Goiânia. Ele já tinha falado no dia anterior em outra cerimônia onde ele estava. Então o major foi até o hotel onde ele estava, logo antes da festa de formatura, e deu voz de prisão. E ele disse: "Como assim? Você não pode me dar voz de prisão". O Major disse que ele tinha ordens do presidente que Sobral deveria acompanhá-lo. Aí ele disse "O presidente é general, o senhor é major. Ele pode lhe dar ordens, mas eu sou civil. O presidente não me dá ordem nenhuma, muito menos uma ordem imbecil dessas". Mas aí ele foi arrastado, levado preso, e passou alguns dias na prisão. Não foi maltratado fisicamente nem nada, porque acho que tinham bastante respeito por ele e ele já tinha 75 anos, mas foi preso junto com outros intelectuais da época. Estavam tentando impedir as cabeças pensantes do país de falar contra o AI-5. Teve um momento que um dos militares foi fazer uma exposição para um desses intelectuais presos para justificar a ditadura militar, dizer por que os militares estavam intitulados a governar o país, por que eles eram os melhores para resolver os problemas do Brasil etc., e Sobral foi ficando irritado com aquilo. Chegou um momento em que um militar falou: "Nós estamos aqui tentando implementar uma democracia à brasileira". Aí o Sobral, muito irritado, falou: "Olha, tenha paciência. Democracia brasileira não existe. O que eu conheço é perua brasileira. A democracia é universal". Essa frase foi célebre dele. Isso na prisão. E ele foi solto poucos dias depois, ileso, continuou falando contra a ditadura, defendendo presos políticos até o fim.
Nos anos 50, o Sobral recusou convite do Juscelino de assumir o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê?
Porque quando Juscelino estava para se candidatar, surgiu como uma figura muito forte. A UDN, que era o partido de oposição ao Juscelino, e os militares começaram a articular um golpe para barrar a candidatura do Juscelino.
A candidatura, não a posse.
Isso. Não queriam nem que ele fosse candidato. Queriam que o PSD, que era o partido do Juscelino, não pudesse escolhê-lo como candidato. O Sobral ficou sabendo disso pelas conversas de bastidores. O Sobral votava alinhado com a UDN, era opositor político do Juscelino. Mas, nesse momento, se levantou e disse: "Isso é contra a Constituição. Isso é contra a democracia". E aí ele criou um movimento... Distanciou-se da UDN, porque não queria apoiar esse movimento golpista e criou um movimento chamado Liga pela Defesa da Legalidade. E aí, com esse movimento, conseguiu garantir a candidatura do Juscelino, que foi eleito. No momento que o Juscelino tomou posse, convidou-o para ser ministro do Supremo. E ele respondeu: "Não. Não votei em você, não sou seu partidário. Não fiz isso para ganhar vantagem alguma. Fiz isso para defender a Constituição". Depois ele ficou amigo do Juscelino, defendeu o Juscelino depois na época da ditadura. Ele apenas não queria comprometer as visões dele. Ou seja, ele fazia o que ele achava certo, o que ele achava que deveria fazer para defender as leis, a Constituição e mantinha a sua convicção política separada disso. E também não queria que ninguém o tomasse como uma pessoa que pudesse ter feito algo para receber algum favor em troca.
Quando você estava fazendo o filme, vc descobriu gravações de áudio do seu avô que hoje estão de posse do Superior Tribunal Militar e às quais o público não tem acesso. Como foi essa história?
Cheguei a esses áudios através do advogado Fernando Augusto Fernandes, que descobriu esses arquivos quando estava fazendo uma tese de mestrado, baseada na oratória de grandes advogados e, principalmente, dos que defenderam presos políticos. E ele conseguiu, no que eu e ele achamos que foi um descuido do Superior Tribunal Militar, permissão para acessar esses arquivos e pesquisá-los para a sua tese. E quando começou a acessar esses arquivos percebeu que tinha ali um raio-X da ditadura, porque todas as sessões, durante a ditadura, eram gravadas naquelas fitas de rolo antigas. Então tem o julgamento todo. Não só as defesas dos advogados, mas também os votos dos ministros, o porquê de ter sido condenado, de não ter sido condenado, o que aconteceu... Logo depois que ele começou a acessar isso, percebeu que provavelmente aquilo não ia durar muito tempo... Aí ele conseguiu copiar parte desses arquivos. Mas logo depois o Superior Tribunal Militar baixou um decreto lacrando esses arquivos por cem anos. Ele foi ameaçado de prisão. Tentaram recolher todas as fitas que ele tinha para pesquisa, mas ele conseguiu salvar algumas. E nessas fitas que ele conseguiu salvar, das cópias que ele fez, tinha duas sustentações do Sobral Pinto. E eu fiquei sabendo disso através de uma pesquisa que fiz quando soube dessa tese de mestrado que ele estava escrevendo.
O que está sendo feito para que a memória brasileira tenha acesso a um material tão importante?
O próprio Fernando Fernandes entrou com uma ação pedindo para continuar tendo acesso aos arquivos.
Você tem alguns arquivos?
Tenho. Isso foi em 1999. E aí ele, na época, já entrou com uma ação e essa ação ficou rolando durante séculos, parou no Supremo e lá ficou. E aí agora, recentemente, nesse movimento todo do lançamento do filme, a OAB federal, que está nos apoiando também nesse movimento de divulgação do filme, pediu para ingressar nessa ação, para dar mais peso a ela e tentar ver se consegue abrir esses arquivos. Porque isso é memória do país.
Como a questão do dinheiro na casa dele com a sua avó?
Chegava a ser engraçado, porque ele realmente não dava a menor importância para dinheiro, a ponto de não saber onde ele botava dinheiro. A minha mãe, que é filha dele, conta, no filme, sobre, depois que ele morreu e eles foram desfazer a biblioteca dele, a quantidade de dinheiro que eles encontravam dentro dos livros... Porque ele não sabia lidar com dinheiro, não dava importância para isso. Isso era uma coisa que realmente não passava na cabeça dele. E a minha avó segurava a casa porque ela tinha pensão do pai, do tio, então ela era a pessoa que tinha aquele dinheiro fixo para as compras do mês etc. Ele não cobrava dos clientes. A maioria dos clientes. Não cobrava de amigo, não cobrava de preso político, não cobrava de vizinho, de parente... Sobravam algumas causas para ele cobrar, então às vezes ele ficava sem dinheiro. Mas também o que acontecia é que ele tinha muitas trocas com outras pessoas. As pessoas não cobravam dele também muitas coisas. Então a coisa ia andando em um esquema meio de escambo. Ele realmente não dava importância para isso. O que tinha na cabeça dele era outra coisa.
Na campanha pelas diretas, em 1984, ele participou do comício da Candelária. Qual era o nível de energia dele naquela época?
Ele tinha 90 anos ali. Ee foi uma pessoa que me impressionou até o fim da vida com a energia dele. É uma coisa incrível. A verve dele continuou intacta até os 98 anos, quando morreu. Ele trabalhou até um mês antes de morrer. Eu digo que ele morreu por acaso. Ele foi em uma homenagem a ele no Hotel Glória, o ar condicionado estava gelado, ele pegou uma gripe, a gripe virou pneumonia, ele morreu em coisa de um mês. Quando você tem 98 anos, o organismo já não combate tão bem as coisas mais simples, mas ele trabalhou até o último mês de vida. E nesse momento das diretas ele estava muito empenhado. Muito empenhado porque era o momento em que ele sentiu que realmente ia conseguir virar aqueles mais de 20 anos de ditadura. Então ele foi muito ativo nessa época. Naquele comício tinha um milhão de pessoas. Ele foi lá, subiu no palanque, esperou um tempão para falar e quando falou ainda pediu silêncio. E aquela multidão de um milhão pessoas fez silêncio e ele falou a célebre frase. Fez um discurso grande, mas o momento que ficou célebre foi o de lembrar ao povo que estava massacrado por 20 anos de ditadura o artigo primeiro da Constituição, que afirma que “todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido". A multidão foi ao delírio. Eu estava lá, eu me lembro e foi muito, muito emocionante.
Como foi sua convivência com ele, como neta?
A gente se via... Era uma convivência mais esporádica. Eu o via toda semana quando eu era criança. Tinha aquela coisa de visitas aos domingos, mas era uma convivência mais formal, porque ele era um cara do século XIX. Então tinha aquele jeitão mais formal, embora fosse uma pessoa muito doce, muito bem humorada, fazia brincadeiras... Ele era uma pessoa também totalmente absorta no seu ofício. Então se você fosse sentar com ele, levantar algum assunto de política, ele ia se empolgar e se inflamar e ia falar qualquer coisa na mesa do jantar. Eu comecei a me dar conta de quem ele era, quer dizer, eu sabia que ele era uma pessoa importante, respeitada, mas comecei a me dar conta de quem ele era e da atuação dele na adolescência, quando começou a abertura política, quando começou a poder se falar de política novamente, aí eu comecei a me dar conta. Mas saber exatamente quem é o meu avô e tudo que ele fez eu só descobri fazendo esse filme. Eu só conheci o meu avô realmente fazendo esse filme.
Curtir · Comentar · Compartilh
· Anna Maria Monteiro Criação da medalha SOBRAL PINTO pela OAB nacional- https://www.youtube.
VT DOCUMENTÁRIO SOBRAL PINTO DOCUMENTÁRIO SOBRE A VIDA E...
·
Anna Maria Monteiro Filme MILITARES PELA DEMOCRACIA, com trechos alusivos à atuação FUNDAMENTAL de SOBRAL PINTO. Eles lutaram pela Constituição, pela legalidade e contra o golpe de 1964, mas a sociedade brasileira pouco ou nada sabe a respeito dos oficiais que, até hoje, ...Ver mais
·
Anna Maria Monteiro Os Advogados contra a Ditadura: Por uma questão de Justiça
Com a instauração da ditadura militar através de um golpe das Forças Armadas do Brasil, no período entre 1964 e 1985, o papel dos advogados na defesa dos direitos e garantias dos cidadãos foi f...Ver mais
Filme: Os Advogados contra a Ditadura: Por uma questão de Justiça
Com a instauração da ditadura militar através de um...
·
Anna Maria Monteiro MENSAGEM DE SOBRAL PINTO AOS JOVENS-https://www.youtube.
Tocaram a campainha. Sobral demorou um pouco. Tocaram outra vez. E lá apareceu, com um livro na...
FLORESTAN FERNANDES
Roberto Santos
Ganhe uma hora na vida! Leia o texto até o final e não deixe de assistir a sugestão.
Mais brasileiro impossível: filho de mãe solteira, não conheceu o pai, o avô materno trabalhou como colono numa fazenda de café no interior de São Paulo e morreu de tuberculose; a mãe, após se mudar para a capital paulista, trabalhou como empregada doméstica. Afilhado da patroa de sua mãe, dona Hermínia Bresser de Lima, filha do criador do bairro do Brás, Florestan aprendeu com ela o valor dos estudos.
Começou a trabalhar, como auxiliar numa barbearia, aos seis anos de idade. Também foi engraxate, servente de carpintaria e garçom em bares do centro de São Paulo. Viveu entre a "grande casa" de sua madrinha e os cortiços de diversos pontos da cidade. Estudou até o terceiro ano do primeiro grau. Só mais tarde, voltaria a estudar, fazendo curso de madureza, estimulado por frequentadores do bar Bidu, onde trabalhava. Segundo seus relatos, o interesse pelos seus estudos acadêmicos foi despertado principalmente pela diversidade dos lugares onde passou sua infância.
Ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo em 1947, formando-se em Ciências Sociais. Doutorou-se, pela USP em 1951. As dissertações que serviram de base para sua carreira acadêmica - "A função social da guerra na sociedade tupinambá" e "A integração do negro na sociedade de classes" - se consagraram como clássicos da etnologia brasileira.
Foi assistente catedrático, livre docente e professor titular na cadeira de sociologia, da USP. Cassado com base no AI-5, em 1969, deixou o país e foi lecionar nas universidades de Columbia (EUA), Toronto (Canadá) e Yale (EUA). Retornou ao Brasil em 1972 e passou a lecionar na PUC-SP. Em dezembro de 1985 foi reconhecido como professor emérito da USP.
Florestan esteve ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde sua fundação e exerceu dois mandatos de deputado federal (1987-1991 e 1991-1995). Morreu em São Paulo no dia 10 de agosto de 1995.
O nome de Florestan Fernandes está obrigatoriamente associado à pesquisa sociológica brasileira com mais de cinquenta obras publicadas. Transformou as Ciências Sociais no Brasil e estabeleceu um novo estilo de pensamento nas áreas acadêmicas das Humanidades.
Em 1976, o sociólogo e militante Florestan Fernandes fêz uma reflexão sobre a trajetória da Sociologia Política no Brasil em um texto intitulado “A geração perdida”. Nele o pensador faz um balanço tanto de seu trabalho como sociólogo como da geração de intelectuais da qual ele fizera parte. Esta reflexão aponta o fracasso em usar o saber intelectual para a transformação da sociedade brasileira e no enfrentamento á intensa repressão política que o Brasil sofria com a Ditadura Militar.
Um brasileiro para se reconhecer!
Sugestão: uma das últimas entrevistas do professor Florestan foi para o programa “Roda Viva” da TV Cultura, em 1994. Entrevista está disponível no You Tube.
ANTONIO CÂNDIDO
Os Caipiras, por Antonio Candido - YouTube
www.youtube.com/watch?v=
01/06/2013 - Vídeo enviado por Daniel Lunardelli
Intérpretes do Brasil, de Isa Grinspum Ferraz, uma série de quinze ... Rio Verde-Antônio Cândido-Moda ...
SOCIO-logia: Intérpretes do Brasil - Antônio Cândido (3º Ano)
sociologiaehlegal.blogspot.
o
08/11/2011 - Intérpretes do Brasil - Antônio Cândido (3º Ano). Clique no link para ver o vídeo no youtube. O caipira por Antônio Cândido ...
Intérpretes do Brasil - Cinematográfica SuperFilmes
www.superfilmes.com.br/v1/pt/
o
2001 . Vídeo . cor . 11x20'. Intérpretes do Brasil. festivais . ficha técnica e ... OsCaipiras, por Antonio Candido Portugal, Brasil, por Judith Cortesão Viva o Sertão ...
IGNÁCIO RANGEL
Postei aí embaixo a sinopse e os links para os dois volumes da Obra Reunida de Ignácio Rangel, que organizei. Quando resolvi estudar Rangel sistematicamente, ainda na década de 1980, descobri que isso era quase impossível, pois sua obra estava esgotada, perdida e dispersa. Desde então foram muitos anos de trabalho, procurando e arquivando seus textos, verdadeiras preciosidades. Ludmila, filha do mestre, foi generosíssima na cessão de todos os direitos, O resultado dessa busca está em dois grandes volumes, que reúnem oito livros e mais de cem artigos. No link, o texto "Notas sobre a atualidade do pensamento de Ignácio Rangel", que escrevi junto com Márcio Henrique Monteiro de Castro e Ricardo Bielschowsky para marcar o centenário de nascimento desse grande pensador brasileiro.
Abraços,
CesarBenjamin
http://www.contrapontoeditora.
Diego Tamborin Sobre a participação dele no GOV Vargas ótimo texto da grande Rosa Freire d'Aguiar. http://www.
"Os Boêmios Cívicos": ideias na madrugada
BERTA LUTZ
Iza Haim -
<< Não foi fácil incluir a igualdade de sexos no tratado que fundou as Nações Unidas. Bertha Lutz conseguiu-o. É, em parte, graças a esta feminista brasileira que, desde 1945, está assegurado o direito de homens e mulheres se candidatarem aos órgãos principais da ONU em condições de igualdade. Enquanto decorrem as eleições para escolher o novo secretário-geral, duas investigadoras foram a Nova Iorque lutar para que o esforço de Bertha seja reconhecido
Ainda se combatia na Europa e no Pacífico quando a cientista brasileira Bertha Lutz viajou para os Estados Unidos com um desejo na bagagem. No dia 25 de Abril de 1945, enquanto as tropas soviéticas cercavam Berlim e o nazismo estava a dias de se desmoronar, representantes de 50 países reuniam-se em São Francisco para debater como deveriam ser reguladas as relações internacionais depois da Segunda Guerra Mundial. A criação de um pacto de segurança global era o principal objectivo de todos, mas Bertha tinha uma preocupação adicional que, após cerca de 55 milhões de mortos, não era prioritária para todas as delegações. E até poderia parecer um luxo para algumas.
Bertha ambicionava que a igualdade entre homens e mulheres entrasse textualmente na Carta das Nações Unidas. E conseguiu-o.
Bióloga, feminista, mulher de confiança do então Presidente Getúlio Vargas, Bertha Lutz soube estabelecer alianças diplomáticas e trabalhar em conjunto com outras delegações em São Francisco. Graças à cientista brasileira, hoje lemos com naturalidade estas palavras no preâmbulo da Carta: “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres (...).">>
Bertha, a brasileira que pôs a Mulher na Carta da ONU
Não foi fácil incluir a questão da igualdade de sexos no tratado que fundou as Nações Unidas em 1945. Agora, duas investigadoras lutam para que o trabalho de Bertha Lutz seja reconhecido. A feminista brasileira morreu há 40 anos.
GILBERTO FREIRE
As contribuições de Gilberto Freyre para a historiografia
Brazilian Portraits pages of the Skidmore Collection
http://library.brown.edu/
Brazilian Portraits pages of the Skidmore Collection
From 1962 to 2004, Thomas E. Skidmore traveled to Brazil on multiple occasions. His love of the country extended into his academic research, where he traced the political, economic, and cultural expansion of the nation as it developed into a world power. During his trips, Professor Skidmore observed firsthand the significant changes wrought in Brazil throughout the twentieth century.
Professor Skidmore recently penned ninety sketches detailing his interactions with many influential Brazilians. His experiences reveal a diverse breadth of characters: presidents, writers, philosophers, hotel maids, and soldiers. Professor Skidmore shares both entertaining anecdotes about live interviews on television and insightful portraits of public figures handling the fluctuations of Brazilian government.
The collection of biographical sketches serves as a multidimensional look into Brazil and its people. Professor Skidmore’s shrewd observations are an invaluable source for everyone interested in learning more about Latin America, particularly the complexities of Brazilian politics and social life.
Filter
show allacademicactivistdiplomateco
João Camilo de Oliveira Torres
José Antonio Gonsalves de Mello
Juscelino Kubitschek De Oliveira
Wanderley Guilherme dos Santos
VIDEOS HISTÓRICOS: Momentos são...
Discurso de Carlos Lacerda ano de 1953
https://www.youtube.com/watch?
Roda Viva – Ulysses Guimarães:Sr. Diretas - 1986
https://www.youtube.com/watch?
Rosa Viva – Luiz Carlos Prestes – 1986
https://www.youtube.com/watch?
Roda Viva – Roberto Campos- 1991
https://www.youtube.com/watch?
Roda Viva - Florestan Fernandes – 1994
https://www.youtube.com/watch?
Uma das últimas entrevistas feitas a um dos maiores sociólogos da história do Brasil, onde ele discute temas como a natureza política brasileira, o futuro governo FHC (a entrevista é de 1994), e sobre os rumos que o próprio PT começava a tomar na época.
|
MACHADO DE ASSIS
Machado de Assis - documentário completo
|
TV CAMARA - Construtores do Brasil
http://www2.camara.leg.br/
O programa mostra a biografia de 25 personalidades que tiveram papel predominante na formação política, histórica e geográfica do Brasil.
Raposo Tavares
Definidor das fronteiras
Outros destaques
·
·
JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA
·
Mais recentes
· Construtores do Brasil - h - 17 de abril de 27 Tiradentes
· Construtores do Brasil - h - 17 de abril de 27 Frei Caneca
· Construtores do Brasil - h - 17 de abril de 27 Floriano Peixoto
· Construtores do Brasil - h - 17 de abril de 27 Plácido de Castro
mais vídeos do programa Construtores do Brasil »
Dez grandes derrotados da nossa história (ou, como o Brasil poderia ter dado certo, mas não deu)
http://spotniks.com/dez-
6 RAZÕES POR QUE FLÁVIO AUGUSTO PODERIA SER ELEITO PRESIDENTE DO BRASIL
**Paulo Roberto de Almeida é Doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas. Foi ministro-conselheiro na Embaixada do Brasil em Washington (1999-2003). Trabalhou entre 2003 e 2007 como Assessor Especial no Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
O Brasil, já disse alguém, não é para principiantes. Vamos admitir que a frase expresse a realidade, ainda que ela seja uma mera banalidade conceitual. A verdade é que nenhuma sociedade urbanizada, industrializada, conectada, ou seja, complexa, como são quase todas as nações contemporâneas, é de fácil manejo para amadores da vida política ou para iniciantes no campo da gestão econômica. Não deveria haver nada de surpreendente, portanto, em que o Brasil, de fato, não seja para principiantes, como dito nesse slogan tão folcloricamente simpático quanto sociologicamente inócuo.
Mas atenção: a frase é, sim, relevante pelo lado do seu exato contrário. O mais surpreendente, no caso do Brasil, está em que o país não é de rápida explicação ou de fácil interpretação nem mesmo para pensadores distinguidos e intelectuais de primeira linha (eles o são, de verdade?). Ele tampouco parece ser de simples manejo mesmo para estadistas da velha guarda (nós os temos?), para políticos experientes (parece que ainda existem), sem esquecer os empresários inovadores (quantos são, alguém sabe dizer?) ou para economistas sensatos (seria uma espécie rara?). O Brasil já destruiu mais de uma reputação política, como continua desafiando as melhores vocações de “explicadores sociais” (inclusive brasilianistas), com o seu jeito sui-generis de ser. Existe, por exemplo, alguma explicação sensata para o fato de que “o país do futuro”, o “gigante inzoneiro”, a terra dos recursos infinitos, seja ainda uma sociedade desigual, ricamente dotada pela natureza, mas com muitos pobres, milhões deles, uma nação até materialmente avançada, mas (aparentemente, pelo menos) mentalmente atrasada? O que é que nos retém na rota do desenvolvimento social integrado? Quais são os formidáveis obstáculos, quantas e quais são as barreiras intransponíveis?
Não foram poucos os espíritos corajosos que tentaram vencer essas dificuldades e nos colocar num itinerário de progresso sustentado. A maior parte acabou derrotada por um conjunto variado de circunstâncias cuja identificação exata requereria um batalhão de sociólogos, dos melhores. Vamos repassar, ainda que brevemente, o itinerário de dez grandes personalidades que, em momentos decisivos da história do Brasil, viram seus projetos e propostas de reformas ou de melhorias para o país totalmente frustrados em função das condições ambientes, por força da oposição de outros personagens ou de grupos poderosos, ou pelo fato de que eles mesmos não souberam, ou não puderam, obter apoios suficientes para que suas propostas de políticas públicas fossem, em primeiro lugar, aceitas por outros dirigentes, ou pela opinião pública, depois seguidas pela coalizão dominante a cada momento e, finalmente, implementadas na forma por eles concebida inicialmente. A maior parte desses homens não foi sequer consolada, em vida, por aquele famoso dístico de bandeira estadual: “ainda que tardia”.
1) HIPÓLITO JOSÉ DA COSTA
Nascido na Colônia do Sacramento, criado em Rio Grande, espírito iluminista, liberal econômico, assessor, durante algum tempo, do grande estadista português da passagem do século 19, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o conde de Linhares, para quem investigou as inovações econômicas e melhoramentos agrícolas da jovem República americana nos anos finais do século 18, e por quem foi enviado à Inglaterra para adquirir equipamentos gráficos, para modernizar a imprensa do Reino, e onde se tornou maçom, foi preso e torturado pela Inquisição ao retornar a Portugal, tendo conseguido fugir após alguns anos de cárcere. Estabelecido na Inglaterra desde então, Hipólito deu início ao primeiro jornal independente brasileiro, oCorreio Braziliense, que editou sozinho em Londres desde a transmigração da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, até que fosse confirmada a independência e a separação do, até então, Reino Unido, no final de 1822. Nomeado cônsul do Brasil em Londres, por José Bonifácio, Hipólito ainda teve tempo de enviar-lhe, em fevereiro de 1823, um ofício propondo reformas nos correios, nos transportes e na colonização, mas não para tomar posse do cargo para o qual estava preparado como nenhum outro brasileiro.
Seu Correio Braziliense forneceu, durante exatos quatorze anos e sete meses ininterruptos, material de informação, de reflexão e de críticas a todos os dirigentes portugueses (que o liam à sorrelfa) e aos brasileiros ilustrados, constituindo o maior repositório de dados e análises fiáveis sobre o estado do reino de Portugal, sobre a situação da Europa napoleônica e pós-napoleônica, sobre as Américas em geral e sobre o Brasil em particular. Seu “armazém literário” constitui o mais completo manual de políticas públicas e de economia política – no sentido de estadismo para a prosperidade dos povos, como a definia Adam Smith – cujo grande objetivo era o de ajudar o Brasil e os “brazilienses” a enriquecer rapidamente, como ocorria então na Inglaterra. Muitos ministros do reino, em Portugal e no Brasil, concordavam com ele, mas às escondidas, pois não o podiam revelar, ainda que um ou outro mais ousado tentasse convencer o príncipe regente, depois D. João VI, do acertado daqueles críticas e propostas de políticas, inclusive no que se referia aos tratados desiguais com a própria Inglaterra. Infelizmente seus conselhos foram raramente seguidos e ele veio a morrer antes de poder servir de forma mais efetiva ao país que era o seu, mas que tinha abandonado ainda muito jovem para nunca mais voltar.
2) JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA
As mesmas ideias defendidas por Hipólito, de monarquia constitucional e de fim da escravidão, foram esposadas por José Bonifácio, grande intelectual nascido em Santos, SP, homem de ciência e de grandes luzes, membro de diversas academias europeias, combatente contra as tropas napoleônicas em Portugal, antes de retornar ao Brasil para servir ao Reino Unido e se converter no verdadeiro artífice da independência do Brasil. Proclamada esta, ele pretendia, já na Assembleia Constituinte, libertar o Brasil da mácula do tráfico escravo e, assim que possível, da nódoa da escravidão, conseguindo braços para a lavoura e para a formação de uma sólida economia agrícola entre camponeses imigrados europeus. Como Hipólito, e como tantos outros abolicionistas, José Bonifácio foi derrotado pela coalizão de mercadores de escravos e de grandes proprietários de terras, abandonado, aliás, pelo próprio Imperador, que aproveitou-se do recrudescer das turbulências políticas na Assembleia Constituinte e das divisões políticas entre os maçons para decretar o encerramento do breve exercício de ordenamento constitucional, “cassar” os seus membros e exilar ou prender toda a família dos Andradas. Bonifácio foi mais uma vez para a Europa, e só retornou ao Brasil para ser preceptor, por breve tempo, do menino Pedro de Alcântara, mas já sem condições de influenciar a política no período regencial. Foi um dos grandes derrotados de nossa lista de estadistas-idealistas.
3) IRINEU EVANGELISTA DE SOUZA
O gaúcho de nascimento e self-made man só adquiriu o título nobiliárquico de Barão de Mauá (depois Visconde, em 1875) na data da inauguração, em 1854, do primeiro trecho da ferrovia Rio-Petrópolis, entre o porto de Mauá, na baia da Guanabara, e o pé da serra de Petrópolis. Antes disso ele já tinha amealhado fortuna com seus empreendimentos industriais (sobretudo estaleiros) e comerciais (em especial seus bancos, no Brasil e em diversas capitais estrangeiras). Homem possuidor do mesmo espírito empreendedor e liberal de seus tutores ingleses (primeiro numa casa de importação no Rio, depois mediante viagem à Inglaterra, em 1840), ele enfrentou inúmeras dificuldades num país escravocrata e caracterizado pela mão pesada do Estado em todo e qualquer setor da economia (o governo tinha de autorizar qualquer novo empreendimento que ele desejasse fazer), e teve vários atritos com ministros de sucessivos gabinetes do Segundo Império; essas desavenças o levaram à ruina comercial e financeira, e obstaram a que suas ideias progressistas pudessem ser reconhecidas como válidas e implementadas num país em que o status de senhor de escravos ainda era sinal de distinção.
O historiador Nathaniel Leff, heterodoxo entre os intérpretes de nossa história econômica, afirma que o atraso do Brasil não se situa tanto na colônia, como afirmam vários historiadores consagrados, mesmo os da vertente marxista, mas precisamente no período do Segundo Império, quando o Brasil perde a oportunidade de implementar as reformas preconizadas por Mauá, seja no terreno da força-de-trabalho, seja na política monetária, ou no ambiente de negócios e no da infraestrutura. Não há nenhuma dúvida que, ao final do Império, o Brasil teria sido um país muito diferente se as ideias (não só econômicas) de Mauá tivessem sido implementadas como políticas públicas. Ele foi, provavelmente, o primeiro empresário derrotado de nossa história.
4) JOAQUIM NABUCO
O “aristocrata” da zona da mata de Pernambuco é mais um derrotado de nossa lista, não exatamente enquanto publicista – terreno no qual ele foi brilhante – ou como diplomata do Império e da República, mas enquanto abolicionista, a despeito de suas raízes nos engenhos de açúcar do Nordeste. Intelectualblasé, ele bateu-se com denodo pela causa da emancipação, e seu livro sobre o abolicionismo (publicado em Londres em 1883) foi decisivo na intensificação da campanha, nessa mesma década. Mas ele já tinha sido derrotado antes, pois que não conseguiu reeleger-se para sua primeira cadeira de deputado, conquistada em 1878, assim como viu frustrada sua campanha pela laicização do Estado Imperial, que tinha a religião católica como oficial. Mesmo quando da abolição, por decreto imperial, suas propostas para que a emancipação dos escravos fosse acompanhada de um grande programa de reforma agrária e da universalização da educação pública, compulsória e gratuita, com vistas à elevação do padrão educacional de milhões de brasileiros pobres, e não apenas dos negros libertos, jamais foram seriamente consideradas pela República oligárquica.
Ele afastou-se da política, como monarquista que era, e dedicou-se aos livros e à história. Só retornou à vida pública para novamente dedicar-se à diplomacia, não para defender o regime, mas para servir ao país. O retorno lhe deu ainda mais desgosto, no caso da arbitragem italiana sobre a questão da Guiana, fronteira com a colônia britânica: a Grã-Bretanha abocanhou quase 50% a mais do território disputado do que foi concedido ao Brasil, nascendo aí seu acentuado monroismo, ou americanismo, ao considerar que das potências europeias o Brasil não deveria esperar nada. Do nosso ponto de vista, entretanto, o Nabuco “derrotado” que interessa registrar é o das nunca implementadas propostas de reforma agrária e de educação pública em favor de negros libertos e dos brancos pobres, na verdade para todos.
O Brasil republicano, desde o início, e provavelmente até hoje, continua a pagar muito caro pela ausência de medidas desse tipo, para elevar a capacidade produtiva do seu povo. A reforma agrária, na verdade, na prática se tornou inócua pela modernização capitalista da economia rural, mas no campo da educação continuamos a exibir atrasos, se não quantitativamente (a taxa de escolarização, no início do primário, alcançou, por fim, a dos países avançados, mas 150 anos depois), certamente em qualidade do ensino.
5) RUI BARBOSA
Conselheiro do Império, primeiro ministro da Fazenda do novo regime, no governo provisório de Deodoro, quando empreendeu algumas boas reformas e outras menos boas, o homem mais inteligente do Brasil (segundo os baianos), foi, antes de tudo, um pensador, um doutrinário e um publicista (e um dos mais prolíficos do Brasil, que nunca publicou um livro sequer, mas que tem obras completas em dezenas de volumes). Ele é usualmente definido como um polímata, pois suas atividades e escritos abrangiam os mais diversos domínios do conhecimento humano, com especial predileção pelo direito. Logrou sucesso em muitos dos empreendimentos que lhe foram oferecidos ou para os quais ele se voluntariou, em virtude de seus vastos conhecimentos jurídicos; voltou da Segunda Conferência Internacional da Paz da Haia, em 1907, como um herói, o “Águia de Haia”, como exageradamente seus conterrâneos chamaram-no.
Mas também acumulou vários insucessos, entre eles a mal concebida reforma bancária do início da República, que acabou resultando numa violenta especulação, o chamado Encilhamento. Opôs-se a Rio Branco na compra do Acre à Bolívia, e saiu ruidosamente da delegação negociadora. Sua maior derrota, porém, não para ele, mas para o Brasil, foi ter perdido o pleito presidencial de 1910 para o Marechal Hermes da Fonseca, militarista como seria de se esperar, mas sobretudo prepotente, mandando submeter a golpes de canhão os governadores recalcitrantes dos estados que não o obedeciam. Por isso mesmo, o chanceler Rio Branco, angustiado, pensou em se demitir do seu cargo, sucessivamente renovado em quatro governos: coitado, morreu logo após.
A derrota para Hermes da Fonseca foi uma derrota para o Brasil, no sentido em que representou a consolidação do arbítrio como norma de governo, um golpe de Estado permanente contra vários princípios constitucionais, a ofensa aos adversários políticos (considerados inimigos) como coisa corriqueira, o despotismo do Executivo sobre os demais poderes. Rui se exasperava em face do desprezo que o governo exibia contra os mais comezinhos valores da democracia, entre eles as liberdades individuais e o pleno vigor do Estado de direito. Seus artigos, conferências e palestras dos últimos anos revelam justamente sua revolta contra o desrespeito demonstrado pela maior parte dos políticos – e dos militares – às normas mais elementares do sistema democrático. Como seu amigo Nabuco, ele faria um excelente ministro – talvez até primeiro – de um sistema parlamentar ao estilo inglês (se possível de uma monarquia constitucional, pois a despeito do seu republicanismo, Rui, a exemplo de Oliveira Lima, se decepcionou rapidamente com aquela república), ou de um governo congressual ao estilo americano, como preconizado pelo professor de Princeton Woodrow Wilson, mais tarde presidente. Como os anteriores, Rui também foi um derrotado, não apenas nos seus princípios e convicções, mas também em suas tentativas práticas de democratizar plenamente e de enquadrar o Brasil num Estado de direito efetivo.
6) MONTEIRO LOBATO
O filho de fazendeiros do Vale do Paraíba se espantou desde cedo com a inacreditável miséria dos caboclos do interior, que ele imortalizou na figura emblemática do Jeca Tatu. Ele constatou as condições sanitárias abomináveis dos matutos do interior e, sobretudo, a ignorância abismal desses homens que sequer tinham consciência de sua condição ou da existência de um país chamado Brasil. Seus muitos artigos de imprensa, sua atividade de editor, seus diálogos imaginários sobre nossos problemas com um inglês da Tijuca –Mister Slang e o Brasil –, todos eles batem na mesma tecla: o Brasil é um país profundamente atrasado, tão arcaico a ponto de ser derrotado pelas saúvas e por endemias eternas, e só teria salvação se empreendesse um vigoroso esforço de modernização, de preferência modelado no exemplo americano.
O fordismo lhe parecia a solução ideal para nossa débil industrialização, e o petróleo seria o combustível indispensável à redenção da nação. Lobato está na origem do “petróleo é nosso”, mas ele não era um chauvinista, um patriota rústico que queria afastar o capital estrangeiro do esforço de capacitação industrial e tecnológica. Ele se batia contra os “trustes estrangeiros” não porque fossem estrangeiros, mas porque via neles uma conspiração contra a prospecção de poços no Brasil, ao preferirem as jazidas mais fáceis do Oriente Médio. Achava que o governo não fazia esforços suficientes nessa direção, e denunciou o “entreguismo” da ditadura Vargas: por isso foi processado e preso. Mas a sua concepção de progresso era indiscutivelmente americana: ele foi mais um derrotado pelo nacionalismo rastaquera e pelo estatismo arraigado nos corações e mentes das elites políticas e industriais. Só o fato de proclamar o valor dos livros na construção da nação já lhe valeria a entrada num panteão da pátria. Pena…
7) OSWALDO ARANHA
Paradoxalmente, só foi derrotado quando finalmente chegou ao momento de maior glória, e pelo próprio homem que ajudou a colocar no poder. A “estrela da revolução liberal” de 1930, foi de fato o homem que “liquidou” a República Velha, ante as hesitações e dúvidas de Getúlio Vargas quanto às chances de vitória do movimento contra Washington Luís e seu presidente eleito do bolso do colete. Não fossem os esforços decididos de Aranha, no sentido de unir gaúchos e mineiros, e de aliciar forças decisivas no Exército e nas tropas estaduais militarizadas, a revolução de 1930 não seria o marco da modernização do Brasil e da construção de um Estado moderno, não mais a “República carcomida” das oligarquias do café-com-leite. Sucessivamente ministro da Justiça, da Fazenda (quando ele encaminha os problemas da dívida externa e dos estoques de café) e embaixador em Washington, Aranha estava no auge de sua glória quando decide abandonar, por desgosto, seu posto diplomático, na sequência do Estado Novo, em novembro de 1937, que repudiou imediatamente.
Foi apenas sua amizade com Vargas, e a necessidade que este tinha de manter as melhores relações possíveis com os americanos – a despeito de suas notórias simpatias pelos regimes fascistas da Europa – que explicam seu retorno à política, como chanceler do Estado Novo, de março de 1938 a agosto de 1944. Sua ação à frente do Itamaraty foi decisiva para conter a inclinação de muitos dos expoentes do regime por uma aliança com as potências nazifascistas, aparentemente invencíveis no início dos anos 1940, e para ancorar vigorosamente o Brasil no grupo das Nações Aliadas.
Aranha sempre foi um candidato natural das forças democráticas à presidência da República: hipoteticamente em 1934, numa eventual escolha alternativa pela Constituinte (e provavelmente por isso, Vargas decidiu manda-lo para Washington); talvez em 1938, se as eleições previstas não tivessem sido cortadas pelo golpe de Estado; possivelmente ao final do Estado Novo, quando Vargas ainda manobrava para continuar, depois indicando um sucessor de sua escolha; em 1950, quando foi sondado, mas preferiu deixar o terreno livre para o ex-ditador; ou ainda, e finalmente, à morte deste, nas eleições de 1955, disputadas por muitos candidatos bem menos qualificados do que ele. Foi uma pena que sua falta de ambição, e sua fidelidade irrestrita ao “irmão maior” que era Vargas, obstaram que ele galgasse o posto mais alto da República.
Para se ter uma ideia de como o Brasil poderia ter sido diferente, se ele tivesse ascendido ao comando da nação, basta ler a carta que Aranha enviou a Vargas para que este discutisse os assuntos da guerra e da paz no encontro que o ditador teria em Natal com Franklin Roosevelt, em janeiro de 1943. O maquiavélico ditador não só o afastou traiçoeiramente dessas conversações, mas também impediu um encontro especial que se realizaria em Washington com o presidente americano no mesmo mês em que Aranha foi humilhado pela polícia política do regime, no triste episódio da Sociedade das Américas, em agosto de 1944, o que acabou determinando sua saída da chancelaria.
Naquela carta, Aranha delineou não apenas um esquema de aliança com os EUA, para ganhar a guerra, mas também uma estreita cooperação para participar da nova ordem mundial a partir da restauração da paz; ele incluiu, sobretudo, um programa inteiro de modernização industrial e de capacitação do Brasil, com ajuda americana, de molde a realmente impulsionar o grande deslanche do país à condição de potência regional (num esquema não muito diferente da aliança não escrita defendida por Rio Branco, e mais enfaticamente por Nabuco, no começo do século). O Brasil teria sido um país muito diferente do que foi o caso, e certamente melhor, se Oswaldo Aranha tivesse ascendido à presidência e imprimido um estilo de governança e de políticas econômicas bem mais abertas e propensas à integração na política e na economia mundiais.
8) EUGÊNIO GUDIN
Um personagem nascido no século 19, que quase atravessou todo o século 20, pregando sempre as mesmas ideias liberais em economia e de simples sensatez na gestão pública. Formado em engenharia, mas economista por gosto, Gudin foi um aderente da escola neoclássica, mas de fato um eclético, e o responsável pela institucionalização dos cursos de economia nas faculdades brasileiras de humanidades e de ciências sociais em 1944. No mesmo ano, e no seguinte, foi protagonista do mais importante debate jamais ocorrido na história intelectual do Brasil; este representou, na verdade, um anticlímax, no sentido em que sua importância tanto teórica quanto prática foi deixada de lado pelo “curso natural das coisas”, ou seja, pela continuidade, em nossa governança, das mesmas inclinações e tendências estatizantes e intervencionistas que caracterizam o universo conceitual das lideranças políticas e empresariais do país.
O debate ocorreu quando se discutia abandonar os mecanismos intervencionistas em vigor durante o período bélico para adotar novos instrumentos capazes de guiar a ação do Estado no apoio ao processo de industrialização (sinônimo de desenvolvimento na concepção da época). Gudin, que naturalmente defendia princípios liberais e mecanismos de mercado para guiar a ação do Estado no fomento desse processo, teve como contendor no debate o industrial e intelectual – professor na Escola Paulista de Sociologia e Política – Roberto Simonsen. Em 1930, fez traduzir e publicar pelo CIESP, o Centro da Indústria do Estado de São Paulo, que ele tinha criado em oposição à FIESP, o livro do economista romeno Mihail Manoilescu, Teoria do Intercâmbio Desigual e do Protecionismo, uma atualização “científica” das ideias de Friedrich List. Simonsen, obviamente, se bateu pelo planejamento estatal, pelo protecionismo tarifário e pelos subsídios oficiais à “indústria infante”, enfim, todo o contrário do que pensava e preconizava Gudin, que era pela adesão do Brasil aos princípios das vantagens comparativas, que recomendavam incrementar o esforço de modernização agrícola, melhorar a infraestrutura e o capital humano, e manter uma governança econômica em bases sólidas e fiscalmente equilibradas.
O resultado do debate foi mais uma vez paradoxal: Gudin saiu-se como o seu vencedor teórico, ao demonstrar a inconsistência lógica e a escassa solidez prática dos argumentos de Simonsen. Mas este foi, ao fim e ao cabo, o vencedor efetivo do debate, uma vez que, no decurso das décadas seguintes, todos os governos, apoiados pelos industriais e pelos empresários em geral, seguiram as recomendações dos estatizantes, dos nacionalistas primários, dos protecionistas declarados, que sempre foram legião em todas as esferas da administração pública e na vida civil do país. Mais uma vez, o derrotado foi o Brasil, único país no mundo a ter conhecido oito (OITO) moedas sucessivas no espaço de pouco mais de meio século: mil-réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, real. Não é preciso referir-se aos números astronômicos dos nossos processos inflacionários para constatar os desastres criados pelos êmulos de Roberto Simonsen, que eliminaram na prática as receitas mais equilibradas e ponderadas do longevo Gudin. Ele continuou, até o final de sua vida secular, a preconizar as mesmas receitas, sempre para ser derrotado pela realidade.
9) ROBERTO CAMPOS
O ex-seminarista que se fez diplomata às vésperas da Segunda Guerra, teve a chance de servir em Washington quando se realizou a célebre conferência de Bretton Woods, em 1944, na qual ele era um simples assessor, e não um delegado. O mesmo ocorreu na conferência de Havana, sobre comércio e emprego, em 1947-48, quando ele continuou a aperfeiçoar seu conhecimento prático de economia, ao mesmo tempo em que fazia um mestrado nessa área na George Washington University, quando defendeu uma tese sobre os ciclos econômicos, de tinturas tanto neoclássicas quanto precocemente keynesianas. Ele ainda era um partidário do Estado promotor do desenvolvimento econômico, quando exerceu o cargo de diretor no BNDE, nos anos 1950, quando colaborou na arrancada dos “cinquenta anos em cinco” do governo JK, que também elevou a inflação a patamares nunca antes vistos no Brasil, inclusive com a construção de Brasília (que foi feita sem orçamento, à margem do orçamento e contra o orçamento, à razão de 1,5% de déficit fiscal durante quatro anos).
Não surpreende, assim, que o Brasil fosse levado a uma situação de grave desequilíbrio orçamentário e de enormes problemas de balanço de pagamentos no início dos anos 1960, quando ele foi, durante três anos, embaixador em Washington. Ele se demitiu do posto, exasperado com a inépcia de Jango, três meses antes do golpe de 31 de março de 1964, cujos líderes o guindaram à função de ministro do planejamento, em dobradinha com o ministro da Fazenda Octavio Gouvea de Bulhões. Ambos, entre 1964 e 1967, conduziram o mais importante processo de reformas econômicas e administrativas jamais empreendido no Brasil, um conjunto ambicioso de mudanças constitucionais e de medidas infraconstitucionais que abriram o caminho para o mais vigoroso ciclo de crescimento de nossa história econômica.
Paradoxalmente, porém, os dois, ainda que liberais em espírito e em intenção, foram também os responsáveis pelo início da mais imponente escalada econômica estatal jamais vista nessa mesma história. Não só eles, pois que seus sucessores, em especial os acadêmicos Delfim Netto e Mário Henrique Simonsen, impulsionaram, com o apoio entusiasta dos militares reformistas, esse engrandecimento inédito do ogro estatal, elevando enormemente a carga fiscal – a pretexto de aumentar o investimento público –, criando dezenas de estatais em todos os setores considerados “estratégicos”, não apenas para a economia, mas também para a “segurança nacional”. De certa forma, o Brasil do regime militar conduziu uma espécie de “stalinismo para os ricos”, uma industrialização “num só país” que respeitava inteiramente o vezo nacionalista rústico dos militares e sua preferência pela mais acabada autarquia produtiva, essa introversão míope que tinha sido a marca dos regimes fascistas da Europa dos anos 1930 (por acaso, um período no qual muitos dos líderes da “revolução de 1964” estavam estudando nas academias militares e aprendendo rudimentos econômicos de “independência e de soberania nacional”).
Roberto Campos detectou desde muito cedo essa deriva do Estado reformista-modernizador dos militares para um “complexo industrial-militar” orientado mais pelos princípios da “segurança nacional” do que pelos saudáveis valores da economia de mercado; passou o resto de sua vida tentando reverter o intervencionismo exacerbado do regime militar e o nacionalismo tosco dos políticos da redemocratização. Sem sucesso, porém: como Raymond Aron, na França, que durante anos lutou contra os instintos socialistas da intelectualidade parisiense, Campos lutou contra a indigência mental de nossos políticos e a ignorância econômica da maior parte da intelligentsia nacional (que Millor Fernandes chamava de “burritsia” acadêmica). Como Aron, igualmente, só foi reconhecido como visionário ao final da vida, e ainda assim, nem um, nem outro, conseguiu recolocar os respectivos países no caminho das reformas liberais e pró-mercado. A despeito de ter acertado em praticamente 90% do que escreveu durante toda a sua vida, Campos foi ironicamente derrotado por uma de suas mais conhecidas ironias: “o Brasil é um país que não perde oportunidade de perder oportunidades”.
10) GUSTAVO FRANCO
Um dos mais jovens expoentes da equipe que idealizou, montou e administrou o lançamento do Plano Real, o mais bem sucedido esforço de estabilização macroeconômica conhecido em nossa história econômica – hoje, infelizmente, ameaçado pela Grande Destruição lulopetista –, que exibe a distinção adicional de ter concebido o regime de transição da antiga e desvalorizada sétima moeda de nossa história monetária para o Real, mediante a indexação monetária via URV, cuja inspiração lhe tinha sido dada ao estudar a experiência alemã de saída da inflação, em 1923. Ele também foi o defensor de uma política de capitais e de câmbio bem mais livre do que o normalmente admitido tradicionalmente, não apenas nas faculdades de economia, mas sobretudo nos escalões governamentais, não obtendo inteiro sucesso nessa área, em razão, como sempre, dos azares da política.
A primeira versão do Plano Real previa um esforço de ajuste fiscal bem mais severo do que o efetivamente realizado, não implementado porque o presidente Itamar Franco queria uma “estabilização sem recessão”. Foi preciso, assim, manter os juros num patamar bem mais elevado do que o adequado, pois que a âncora fiscal, que deveria ter sido implantada, foi substituída por uma âncora cambial, que redundou, contra a vontade de muitos economistas, numa excessiva valorização do Real (daí os desequilíbrios de transações correntes acumulados na segunda metade dos anos 1990). O resultado foi a crise de 1998-99, ainda assim provocada por fatores externos: as crises asiáticas de 1997 e a moratória russa de agosto de 1998, que impactou diretamente o Brasil; a situação foi enfrentada mediante um programa de apoio financeiro das instituições de Bretton Woods e de países credores, com sucesso relativo até a década seguinte, quando a crise argentina, o apagão elétrico e as eleições de 2002 (e os efeitos econômicos do PT) agravaram o quadro de turbulências no Brasil.
Gustavo Franco, que tinha sido secretário de política econômica na gestão Itamar e depois diretor de assuntos internacionais do Banco Central, ao iniciar-se a gestão FHC, foi elevado à condição de presidente do BC em meio às turbulências financeiras da crise asiática; conduziu um meticuloso programa de ajustes cambiais que, teoricamente pelo menos, permitiriam ao Brasil compensar a valorização por etapas, para evitar uma grave crise e mais inflação. A pressão dos mercados, e do próprio jogo político, foi entretanto mais forte, e Gustavo se viu constrangido a sair do BC no auge da desvalorização cambial do início de 1999, e antes do estabelecimento dos regimes de metas de inflação e de flutuação cambial, finalmente adotados por Armínio Fraga, levado à presidência do BC pouco depois. Uma história completa desses episódios, do ponto de vista da política cambial, ainda está para ser escrita e o próprio Gustavo é um bom candidato para empreender a tarefa. Mas esse é apenas um detalhe num itinerário de reformas tentativas que Gustavo Franco tentou impulsionar e que aguardam ainda hoje para serem continuadas e completadas.
A importância de Gustavo Franco, como economista e intelectual, está em sua condição de debatedor, de publicista, ao defender em seus muitos artigos, entrevistas e palestras, e em diversos livros, o Plano Real como apenas o início de um processo de reformas e de mudanças estruturais no Estado e na economia do Brasil que o levariam da condição de adepto eterno de um keynesianismo de botequim e de um cepalianismo tosco ao status de “país normal”, ou seja, simplesmente aderente de regras claras, estáveis e transparentes de gestão econômica, como compete a qualquer país dotado de uma economia de mercado digna desse nome. Infelizmente, a gestão econômica companheira fez o Brasil retroceder pelo menos vinte anos economicamente, e muito mais ainda moralmente falando. Gustavo Franco também foi um derrotado, ainda que temporariamente, uma vez que as reformas que ele preconizava não foram, senão minimamente, implementadas nos anos seguintes, e muitas delas revertidas na gestão irresponsável dos lulopetistas. Seus escritos e declarações indicam o que está aberto nessa agenda de “work in progress” (na verdade, evoluindo para trás, atualmente).
OS “DERROTADOS” DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO: UM BALANÇO FRUSTRANTE
Todas as personalidades brevemente referidas aqui foram, em primeiro lugar, pensadores, intelectuais com distintas formações acadêmicas – ou na vida prática, como Irineu Evangelista de Souza – e com diferentes situações sociais, de atuação no setor público e de responsabilidade nos governos aos quais serviram ou com os quais trabalharam – ou não, caso de Hipólito e Monteiro Lobato. Vários conceberam planos mais ou menos arrojados para o futuro do Brasil, alguns com projetos ambiciosos de mudanças estruturais, outros – como Gudin – com um cuidado mais prosaico com uma gestão simplesmente responsável da coisa pública. Todos eles preconizaram reformas corajosas para eliminar obstáculos e enfrentar os problemas e desafios que constatavam existir no itinerário do desenvolvimento brasileiro.
De certa forma, muitos deles foram visionários, mas sensatos, no sentido em que nenhum deles concebeu qualquer projeto utópico de reforma integral, revolucionária, da sociedade brasileira. Nenhum deles foi um “engenheiro social”, no sentido várias vezes criticado por um pensador liberal como Isaiah Berlin: todos eles preconizaram atuar nos quadros dos regimes constitucionais em vigor, respeitando as mais amplas liberdades – sobretudo a de empreender – e os princípios e valores dos regimes democráticos. Não por acaso, as propostas por eles formuladas se aproximavam do modelo constitucional e de governança de corte britânico, de amplo sucesso prático nos Estados Unidos e nos países que institucionalmente e culturalmente pertencem ao mesmo arco civilizatório.
Nenhum deles teve sucesso – no máximo parcial – nas reformas e nas medidas preconizadas para levar o Brasil a um patamar mais alto de desenvolvimento político, econômico e social, num processo de total respeito às regras elementares do jogo democrático, como diria Norberto Bobbio. Aliás, o jurista e filósofo italiano, a despeito de seu imenso sucesso intelectual e do prestigio cívico alcançado, foi outro derrotado em seu próprio país, por acaso caracterizado por uma governança quase tão corrupta quanto a brasileira.
Todos os brasileiros, se tivessem logrado sucesso na implementação das medidas propostas – se tivessem sido por acaso guindados a posições de mais alta responsabilidade governativa, o que ocorreu unicamente com José Bonifácio, mas ele rapidamente “podado” pelo seu soberano – teriam provavelmente mudado o Brasil de uma forma mais profunda, mais intensa, e mais positiva do que efetivamente ocorreu nos dois séculos que levam de Hipólito José da Costa a Gustavo Franco. Este último continua um batalhador incansável pelas reformas necessárias, e o único “sobrevivente” (com perdão pela palavra) nesta nossa seleção: a ele cabe manter a tocha das reformas, em primeiro lugar como publicista, eventualmente, e novamente, como reformador.
No momento em que o Brasil enfrenta a mais grave crise de sua história – certamente na esfera econômica, mas também, e sobretudo, no plano moral – é útil refletir sobre todas essas oportunidades perdidas, sobre a ação, em grande medida frustrada, de todos esses “derrotados” na prática. Do meu ponto de vista, eles são vitoriosos morais, gigantes intelectuais da modernização e do progresso brasileiro, que, por um conjunto variado de circunstâncias, não puderam conduzir suas propostas a bom termo, ou que não tiveram a oportunidade, em virtude de um ambiente particularmente negativo para os reformistas de qualquer quilate, de vê-las implementadas pelos tomadores de decisões de cada momento. A “agenda conjunta” de reformas modernizadoras – e corretoras de nossos grandes defeitos sociais –, que todos eles preconizavam, permanece inconclusa: na verdade, ela só existe no papel, num exercício como este de levantamento das nossas lacunas e omissões, uma vez que não pudemos contar, ainda, com estadistas que as implementassem verdadeiramente, com base num consenso necessário e no respeito das liberdades democráticas.
A pergunta final é inevitável: quando vamos contar com personalidades que se apoiem nas propostas desses gigantes intelectuais para arregaçar as mangas e “civilizar o Brasil”, na linguagem dos próceres da independência? Não sabemos ainda. Mas seria útil retomar cada uma das propostas desses pioneiros, para ver o que ainda falta fazer no Brasil. Mãos à obra, pesquisadores e ativistas: a agenda já existe. Cabe agora debater os meios de implementá-la, para passarmos da condição de “derrotados” à de vencedores.
Que tal começar pelo levantamento do que falta fazer?
III - INTÉRPRETES DO BRASIL
Nesta quinta-feira, às 18h, a Casa de Rui Barbosa sediará o lançamento da Coleção Biblioteca Básica Brasileira, projeto editorial desenvolvido em parceria com a...
"Enciclopédia de brasilidade - Cesar Benjamin
http://www.contrapontoeditora.
Ufa. Ontem foi a primeira das quatro aulas do curso compacto "Uma certa ideia de Brasil". Estruturei as aulas da seguinte forma:
1. O sentido da construção nacional (os grandes processos estruturantes da sociedade brasileira);
2. Por que ficamos na periferia? (ênfase no século XIX);
3. A construção da agenda brasileira (ênfase no século XX);
3. A grande crise (os últimos trinta anos).
Todas as aulas, de três horas cada, são multidisciplinares. Estão sendo filmadas por dois amigos que se ofereceram gentilmente para fazer esse trabalho. Depois veremos o que fazer com o material. Tudo é gratuito.
Hoje é a segunda aula. Obrigado às pessoas que se dispuseram a assistir. Essa tentativa de produzir uma síntese da ideia de Brasil tem sido trabalhosa, mas prazerosa também.
…
Nós, os brasileiros – Paulo Timm – Coletâea
http://www.paulotimm.com.br/
1554NOS__OS_BRASILEIROS_(2).
Pequena Bibliografia Crítica do Pensamento Social Brasileiro - Ronaldo Conde Aguiar
Este livro não é uma bibliografia dos pensadores sociais, e sim, dos trabalhos sobre os pensadores sociais, os comentários procuraram apenas registrar os traços mais gerais dos autores, de forma a destacar a sua importância e a sua contribuição no campo do pensamento social brasileiro.
Sociologia brasileira: 11 seminários, entrevistas e documentários pra você entender os maiores...
De que é feita a sociologia brasileira? Qual seu tutano? Clique aqui e veja entrevistas, documentários e seminários sobre a sociologia do nosso país.
O pensamento estratégico de Francisco Adolfo de Varnhagen, por Paulo Roberto de Almeida
A data de 17 de fevereiro de 2016 marca o ducentésimo aniversário do nascimento do…
Sobre José Bonifácio, os “Pais Fundadores” dos EUA, Joaquin Nabuco, Rui Barbosa e Adam Smith
José Bonifácio, Rui Barbosa, Nabuco e Adam Smith (Teoria dos sentimentos Morais) deveriam ser leituras obrigatórias nas escolas.
O Andrada é mais avançado que os pais fundadores dos EUA, incrível. Kenneth Maxwellrepublicou um artigo dele sobre o Brasil e sua peculiaridade onde isso fica claro, mas Jorge Caldeira em seu livro sobre JB deixa isso bem claro.
Os novos intérpretes do Brasil
CartaCapitalCurtir Página
O assassinato de Anísio Teixeira (na foto). A história tem dessas coisas: as ditaduras acreditam poder esconder as patas depois de cometer crimes, e as patas sujas de sangue um dia reaparecem
Leia o artigo de Emiliano José: http://bit.ly/1gAb9ia
Coluna Econômica - 18/01/2010
O Brasil contemporâneo está carecendo de intérpretes. Por tal, entenda-se o cientista social, ou economista, ou sociólogo, capaz de obras seminais para descrever os traços essenciais do país em cada época.
No início do século 19, José Bonifácio foi um grande intérprete. Depois, Joaquim Nabuco. No alvorecer da República, o grande Manoel Bonfim. Mais à direita, Oliveira Vianna. Finalmente, o trio clássico, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr e Sérgio Buarque de Hollanda. Tempos depois, Celso Furtado, Florestan Fernandes.
***
Nos anos 70 a 90, alguns cientistas políticos lograram entender os novos ventos políticos, o advento da opinião pública ajudando a sepultar os resquícios de regime militar. Com olhos contemporâneos, também ajudaram a lançar luzes sobre outras épocas da vida nacional. José Murilo de Carvalho, Boris Fausto, Bolívar Lamounier, Evaldo Cabral de Mello, Luiz Werneck Vianna, Wanderlei Guilherme dos Santos.
***
Mas agora, em pleno alvorecer do terceiro milênio, criou-se um vácuo enorme na discussão do novo Brasil. Bolívar e Boris se partidarizaram pró-PSDB, comprometendo sua capacidade analítica. Do lado do PT, cientistas políticos perderam o rumo com o modelo posto em prática por Lula. À esquerda do PT, Chico de Oliveira e outros se perderam em uma visão pré-concebida sobre fundos de pensão e mercado de capitais.
Analistas de belo potencial, como Renato Lessa, ainda tateiam tentando entender o novo.
***
Essa perda temporária de rumo se deve a mudanças estruturais, ao surgimento de vários fatores portadores de futuro, que passam longe do ângulo de análise dos cientistas sociais.
Um desses fatores é o surgimento da nova mídia e a implosão do mercado de opinião – antes controlado por meia dúzia de veículos. Haverá implicações tremendas sobre política econômica – já que acabará com essa facilidade do Banco Central usar a velha mídia para induzir as expectativas dos agentes econômicos para onde queira. Muda o jogo político, já que há uma erosão no poder dos partidos políticos de imporem verdades de cima para baixo.
***
Esses aspectos ainda não foram suficientemente analisados.
Menos ainda o movimento pela qualidade que alterou radicalmente os velhos paradigmas gerenciais que comandavam as grandes empresas. Não apenas aumentou a eficiência das empresas como impôs um novo padrão de análise em relação aos seus compromissos com o Brasil.
***
A possibilidade de massificação das políticas sociais estava clara alguns anos antes do Bolsa Família – graças aos novos modelos de gerenciamento de bancos de dados públicos. Mas foram ignorados pelos cientistas sociais.
A mudança no perfil do desenvolvimento brasileiro (agora voltado para o interior e para o nordeste), a consolidação de políticas para pequenas e micro empresas, os movimentos nacionais pela inovação, o mercado de capitais, o novo papel das novas multinacionais brasileiras, tudo isso são temas novos, que já influenciam decisivamente a vida nacional, mas passam ao largo das análises acadêmicas.
Os novos intérpretes serão aqueles com capacidade de incorporar esse todo complexo em suas análises.
Dinheiro Vivo -
Cesar Benjamin - 7 h · Rio de Janeiro - IGNÁCIO RANGEL Postei aí embaixo a sinopse e os links para os dois volumes da Obra Reunida de Ignácio Rangel, que organizei. Quando resolvi estudar Rangel sistematicamente, ainda na década de 1980, descobri que isso era quase impossível, pois sua obra estava esgotada, perdida e dispersa. Desde então foram muitos anos de trabalho, procurando e arquivando seus textos, verdadeiras preciosidades. Ludmila, filha do mestre, foi generosíssima na cessão de todos os direitos, O resultado dessa busca está em dois grandes volumes, que reúnem oito livros e mais de cem artigos. No link, o texto "Notas sobre a atualidade do pensamento de Ignácio Rangel", que escrevi junto com Márcio Henrique Monteiro de Castro e Ricardo Bielschowsky para marcar o centenário de nascimento desse grande pensador brasileiro. Abraços, Cesar Benjaminhttp://www.contrapontoeditora.
INTENTORES DO BRASIL – TV BRASIL – DOMINGOS 21.00
APRESEAÇÃO – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Fernando Henrique Cardoso apresenta o programa ...
https://www.youtube.com/watch?
4 dias atrás - Vídeo enviado por Canal Brasil
Fernando Henrique Cardoso apresenta o programa Inventores do Brasil. Canal Brasil ... TV Tarobá ...
PRETO NO BRANCO – TV BRASIL- ENTREVISTAS
HTTP://CANALBRASIL.GLOBO.COM/
Livros importantes
Franklin de Oliveira :Morte da Memória Nacional- Civilização Brasileira RJ
Ronaldo Conde Aguiar- Pequena Bibliografia Crítica do Pensamento Social Brasileiro
Cristian Dunker – Mal Estar, Sofrimento, Sintoma: uma psicopatologia do Brasil intra muros - SP, Boitempo, 2015
PENSAMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO: O CICLO IDEOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTISMO
RICARDO BIELSCHOWSKY -- sexta reimpressão
484 páginas -- de R$ 84,00 por R$ 50,40 no site da editora
http://www.contrapontoeditora.
Cristovam Buarque
Aqui as duas partes da entrevista de Roberto D´Ávilla com Cristovam Buarque. Tem coisas excelentes aqui, especialmente quando ele conta como nasceu o Bolsa Família ou fala da educação: "Falta capacidade de escandalizar o Brasil com a falta da educação."
Parte 1: https://www.youtube.com/
Parte 2: https://www.youtube.com/
GN Roberto D'ávila 2016-04-20 Cristovam Buarque - Parte 1
GN Roberto Davila 2016-04-20 Cristovam Buarque - Parte 1
·
IBGE lança livro com entrevistas de dez presidentes do instituto: bit.ly/290t2Zt
“O desafio de retratar o país” traz os depoimentos de dez especialistas que estiveram à frente da instituição nos últimos 30 anos, além de diversas informações adicionais que contextualizam historicamente essas administrações.
Através de seus depoimentos é possível acompanhar não só a evolução do IBGE, mas também as mudanças históricas no próprio país, desde o fim da ditadura militar ao fim da hiperinflação, passando pelo advento das políticas de inclusão social, cujos principais parâmetros são os próprios indicadores econômicos e sociais produzidos pelo instituto.
Editora Unesp
Nascido em 15 de março de 1900, no Recife, Pernambuco, Gilberto Freyre é considerado um dos mais importantes sociólogos brasileiros do século XX. Freyre foi também antropólogo, artista plástico e jornalista. Para homenagear as importantes contribuições de Gilberto Freyre, a Editora Unesp selecionou, entre os títulos de seu catálogo, livros que abordam a vida e a obra do pensador, que estão com 20% de desconto até o dia 20 de março. Confira a seguir:
Filme | Militares da Democracia: os militares que disseram NÃO
Sinopse: Eles lutaram pela Constituição, pela...
·
Anna Maria Monteiro Os Advogados contra a Ditadura: Por uma questão de Justiça
Com a instauração da ditadura militar através de um golpe das Forças Armadas do Brasil, no período
A história da historiografia no Brasil, 1940-1970 - XXVI ...
http://www.snh2011.anpuh.org/
A história da historiografia no Brasil, 1940-1970: apontamentos sobre sua escrita REBECA GONTIJO* A consolidação da história como discurso autônomo com pretensões científicas no século XIX promoveu, entre outras coisas, o desenvolvimento da história da historiografia. Não por coincidência, essa história assumiu como função principal registrar os progressos da pesquisa histórica ao longo do tempo apresentando-os por meio de uma trajetória evolutiva desde a antiguidade até atingir sua forma moderna, científica (POMIAN, Sur l’histoire; BLANKE, Por uma nova história da historiografia, 2006). Desde então, a história da historiografia confunde-se, ao menos em parte, com o que Jörn Rüsen identificou como uma espécie de manual de teoria da história, mais preocupado em identificar os procedimentos comuns e listar autores e obras, em estilo enciclopédico (RÜSEN, Razão histórica). Cabe observar que esse exercício catalográfico, ao identificar autores e obras referenciais e definir um percurso evolutivo, produziu uma memória e um cânone para a disciplina, contribuindo para garantir certa unidade ao trabalho do historiador, socialmente identificado como o especialista em assuntos do passado. Mas, eis que esse modelo de história da historiografia, marcadamente bibliográfico e erudito, no momento mesmo em que se afirmou começou a mudar. O movimento de crítica às aspirações científicas da história iniciado no fim do século XIX contribuiu para que os escritos dos historiadores fossem incluídos no contexto das lutas políticas e das controvérsias ideológicas de seu próprio tempo. De acordo com Kryzsztof Pomian, os estudos sobre a história da historiografia, ainda que não abandonado a preocupação enciclopédica e memorialística, passaram a se ocupar, também, da decifração das formas pelas quais os historiadores representam o passado, relacionando essas formas ao contexto em que tiveram origem e procurando demarcar sua transformação ao longo do tempo. E esse movimento não parou de crescer ao longo do século XX, por vezes fazendo prevalecer a preocupação em conjugar uma reflexão de ordem epistemológica com o estudo da historiografia, de modo a suscitar, * Professora Adjunta do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro / UFRRJ. Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense / UFF. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 2 principalmente nos aprendizes do ofício, um olhar crítico sobre o que se faz quando se faz história (POMIAN, Sur l’histoire). Contudo, é interessante notar, como fez Antoine Prost, que até o fim da década de 1980 a reflexão sobre a história da historiografia foi tida por muitos historiadores como inútil, ao menos na França. Essa reflexão foi quase sempre relegada a filósofos, recusada como campo de estudo do historiador, talvez porque desde o fim do século XVIII tal reflexão fosse tida como uma competência teórica e, na medida em que a história se consolidou como ciência social, tal competência acabou sendo relegada a um segundo plano (PROST, Doze lições sobre a história). Apesar disso, foi-se o tempo em que era possível não estranhar a opinião de Lucien Febvre, quando afirmava que o historiador tinha razão ao fazer a história sem meditar sobre seus limites ou sobre as condições da historiografia (FEBVRE, Combates pela história, 1953). Como bem lembrou Valdei Lopes de Araújo, as reflexões de Thomas Kuhn e Michel Foucault na década de 1960 contribuíram para corroer essa perspectiva, pois introduziram a descontinuidade na história dos saberes, reafirmando algo que, de certa forma, já havia sido colocado no fim do século XIX: que o discurso histórico também possui historicidade e está condicionado por um lugar de produção e por um agente produtor (ARAÚJO, A história da historiografia como disciplina autônoma). Além disso, a chamada “virada lingüística” desde os anos 1970 não cessou de provocar os historiadores, ao lembrar a dimensão narrativa da historiografia, impondo novos problemas para uma história da escrita da história. Pensando o caso brasileiro, é possível localizar discursos produzidos no século XIX, que podem ser identificados como um tipo de reflexão sobre a historiografia, tais como o necrológico de Varnhagen, escrito por Capistrano de Abreu em 1878. Mas, os primeiros balanços sistemáticos, que se empenharam em apresentar a história da historiografia como algo distinto da história da literatura, parecem ter sido escritos no início do século XX. Lembro alguns textos esquecidos como: Os historiadores do Brasil no século XIX, de Alcides Bezerra, publicado em 1926; dois artigos franceses, Aperçu de la production historique recent au Brésil, de Émile Coornaert, publicado em 1936; e Notes et refléxions sur le travail historique au Brésil, de Henri Hauser, de 1937; e ainda, O pensamento histórico no Brasil nos últimos 50 anos, de Sergio Buarque de Holanda, publicado no jornal Correio da Manhã, em 1951. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 3 Não se trata aqui de tentar traçar uma genealogia da escrita da história da historiografia no Brasil, mas buscar exemplos que demonstrem que, embora tal escrita tenha adquirido características e preocupações diferentes em tempos recentes, não se trata de algo absolutamente novo, ainda que os balanços historiográficos sejam um tipo de texto sobre a historiografia menos ocupado em refletir sobre a escrita da história em si do que em apontar os marcos da evolução das pesquisas definindo um cânone. Além disso, o mapeamento desse terreno discursivo pode ser útil, caso queiramos saber, como indagou Valdei Araújo, acerca do que pode estar em jogo quando fazemos história da historiografia (ARAÚJO, A história da historiografia como disciplina autônoma). *** O objetivo da minha comunicação é colocar em discussão alguns aspectos da história da historiografia brasileira, focalizando dois momentos específicos: os anos 1950, quando as obras de José Honório Rodrigues estabeleceram um modelo de história da historiografia que se tornou referência obrigatória nos cursos de graduação; e os anos 1970, quando outras propostas de escrita dessa história entraram em cena, aparentemente com certo tom de urgência, como a de Carlos Guilherme Mota (1975), José Roberto do Amaral Lapa (1976) e Maria de Lourdes Monaco Janotti (1977). Cabe observar que as décadas posteriores ao período aqui abordado guardam transformações importantes no cenário que aqui será brevemente esboçado. O texto que segue está divido em função dos autores selecionados e o objetivo mais específico é apresentar as grandes linhas de suas propostas de história da historiografia, observando possíveis permanências e mudanças ao longo de trinta anos de estudos sobre a historiografia. A primeira parte da comunicação trata de José Honório Rodrigues e foi chamada de “a invenção de uma tradição”. 1) José Honório Rodrigues e a invenção de uma tradição José Honório Rodrigues (1913-1987) destaca-se como o pesquisador que mais se dedicou ao exame da produção historiográfica brasileira. Sua produção vastíssima foi classificada por Francisco Iglésias em cinco grupos: teoria, metodologia e historiografia; história de temas; ensaios historiográficos; obras de referência; e edições de textos (IGLÉSIAS, José Honório Rodrigues e a historiografia brasileira). Tal Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 4 projeto tinha por objetivo desenvolver uma obra tríptica, composta por teoria, pesquisa e historiografia. Em outras palavras, o plano envolvia a publicação de livros sobre esses três temas, com uma finalidade pedagógica: formar os historiadores nacionais, ensinando-os a pesquisar e a escrever a história, através do exemplo dos “mestres”. No prefácio da primeira edição do livro Teoria da História do Brasil (1949), o autor apresenta seu objetivo: (...) dar aos alunos uma idéia mais exata do que é a história, de seus métodos e de sua crítica, da bibliografia e historiografia brasileiras, de modo a prepará-los para um conhecimento crítico da história do Brasil. (...) Há, assim, um fim pedagógico como objetivo primordial deste trabalho; procurase oferecer aos estudantes de história geral e do Brasil, aos professores secundários, aos estudiosos ocupados com a história concreta, uma visão de conjunto dos principais problemas de metodologia da história. Da história do Brasil, tão somente, já que os exemplos ilustrativos são puramente brasileiros. (...) Uma verdadeira compreensão do ensino superior da história exige o contato do estudante com os grandes e pequenos mestres (...) (RODRIGUES, Teoria da História do Brasil, [1949] 1978, p. 11). A monumentalidade do projeto de José Honório pode ser medida não apenas pelas intenções explícitas de conjugar o exame da teoria, da pesquisa e da historiografia brasileira em um único projeto e atingir um público amplo – composto por estudantes universitários de história e professores secundários –, mas pela forma de divulgação, através da importante coleção Brasiliana, dedicada a publicar estudos nacionais e estrangeiros sobre o Brasil, com destaque para pesquisas históricas. Tal empreendimento teve participação efetiva no movimento de “redescobrimento do Brasil” ocorrido ao longo dos anos 1930 e 1940 (PONTES, Retratos do Brasil: editores, editoras e ‘Coleções Brasiliana’ nas décadas de 30, 40 e 50). Através de um amplo projeto, José Honório expôs as linhas gerais para a interpretação da história da história do e no Brasil, listando nomes e obras, estabelecendo uma cronologia da produção historiográfica, tecendo relações entre essa produção e algumas teorias da história. Mas, além disso, tal projeto possui uma clara função crítica. Seu alvo principal é a historiografia que o autor considera distante dos interesses nacionais, incapaz de dar conta do processo de emancipação do país. Em sua Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 5 opinião, essa historiografia a ser ultrapassada só tem olhos para a história colonial, não sendo capaz de desenvolver seu oposto: a história nacional. A primeira não se referindo unicamente ao período colonial (embora tal período seja privilegiado), mas a uma escrita da história inspirada por valores estrangeiros e compromissada com a difusão de ideologias anti-nacionais. A segunda, que ainda não estaria plenamente desenvolvida, representaria o pensamento genuinamente brasileiro. Segundo o autor: (...) a historiografia brasileira é um espelho de sua própria história. A historiografia, como outros ramos do pensamento e da atividade humanos, está inegavelmente integrada na sociedade de que é parte. Há, assim, uma estreita conexão entre a historiografia de um período e as predileções e características de uma sociedade. O nexo é econômico e ideológico (RODRIGUES, Teoria da história do Brasil, p. 32). Os dois elementos básicos para a compreensão da história brasileira e de sua historiografia seriam a “personalidade básica portuguesa e a sociedade rural”. Ou seja, a historiografia seria a expressão do “Brasil arcaico”, como demonstra o interesse pela fase colonial e o apego à Europa. Fundamentalmente, José Honório procurou desenvolver um exercício crítico que considerava fundamental: o revisionismo. Esse deveria ser aplicado tanto aos fatos históricos quanto às idéias, ou melhor, às ideologias (RODRIGUES, As tendências da historiografia brasileira; IGLÉSIAS, José Honório Rodrigues e a historiografia brasileira; MARQUES, Uma sistemática teórico-metodológica a serviço da história do Brasil). É interessante notar que, um dos significados do termo revisar é “ver com atenção, examinar cuidadosamente”, fazendo correções. Outro significado é “trazer à memória, relembrar, recordar”. Esse duplo viés, crítico e memorialístico, ajuda a dimensionar o projeto de José Honório. Nesse sentido, caberia ao historiador da historiografia denunciar a ideologia por trás da escrita da história e, ao mesmo tempo, estabelecer um cânone por meio da catalogação de autores e obras consideradas mais importantes, a partir dos quais seja possível definir a cronologia da disciplina. Mas, além de analisar os referenciais teóricos presentes na historiografia brasileira, apontar seus principais nomes e obras, destrinchar seus métodos e traçar um panorama da pesquisa histórica em nosso país, apresentando seus principais arquivos e Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 6 fontes documentais, o que José Honório parece visar é a construção de uma tradição historiográfica em meio a qual, talvez, ele mesmo pudesse se inserir, não apenas como um entre outros historiadores, mas como aquele que organiza o legado e aponta caminhos para futuras pesquisas. Supostamente, ao construir sua versão da história da história, ele também reservou um lugar para si, pois, nas palavras de sua esposa, Leda Boechat Rodrigues, “tinha consciência do valor de sua obra e esperava, sem modéstia, figurar no futuro entre os grandes da História e da Historiografia brasileiras” (RODRIGUES apud MARQUES). O modelo de história da historiografia proposto por José Honório perdurou por longo tempo, tornando-se referência obrigatória nos cursos de História ao menos até a década de 70, quando outros autores procuraram refletir sobre a história da historiografia introduzindo novos elementos nessa história, mas, aparentemente, sem abandonar totalmente a chave de leitura consolidada por José Honório Rodrigues. 2) Carlos Guilherme Mota, um “exercício de memória” O primeiro autor dessa nova fase a ser considerado aqui é Carlos Guilherme Mota, cujo livro Ideologia da cultura brasileira, 1933-1974 foi publicado pela primeira vez em 1977 e desde então teve mais de 8 edições. Originalmente uma tese de doutorado defendida na USP em 1975, é apresentado pelo autor como um ensaio que, em parte, é fruto de um “exercício de memória”. Recebido por Florestan Fernandes e Antonio Candido como um clássico, teve grande repercussão nos meios intelectuais em meados dos anos 70 e além. Como afirma o autor, não se trata de uma história da cultura brasileira, nem de uma história intelectual tradicional, preocupada com o arrolamento sistemático dos principais pensadores com indicação de suas respectivas influências. A proposta é apresentar uma história da consciência social no Brasil, por meio de uma “história das ideologias” feita a partir da crítica das interpretações a propósito da chamada cultura brasileira. Em outras palavras, seu objetivo é compreender os pressupostos ideológicos que fundamentam as interpretações de cunho histórico sobre a cultura brasileira. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 7 O autor considera importante conhecer as determinações sociais das formas de pensamento estudadas, não sem antes estabelecer os marcos da historiografia geral do Brasil. Tais marcos estão distribuídos em “momentos decisivos”, a exemplo do que propusera Antonio Candido para a história da literatura. E haveria cinco momentos decisivos na história da historiografia brasileira: 1) o momento do redescobrimento do Brasil entre 1933 e 1937; 2) o momento em que os primeiros frutos da universidade começaram a ser colhidos, entre 1948 e 1951; 3) o momento da ampliação e revisão reformista, entre 1957 e 1964; 4) o momento das revisão radicais, entre 1964 e 1969; e, 5), o momento dos impasses da dependência, entre 1969 e 1974. A segunda proposta a ser apresentada, produzida na mesma época, é a de Maria de Lourdes Mônaco Janotti, que, em termos simples, propõe estudar a historiografia como um sistema. 3) Maria de Lourdes Monaco Janotti e a historiografia como sistema Partindo da constatação de que a historiografia brasileira vinha sendo abordada por dois tipos de estudo – as histórias da literatura e os estudos isolados sobre historiadores –, Maria de Lourdes Monaco Janotti afirma, na introdução do livro João Francisco Lisboa: jornalista e historiador, de 1977, que tais trabalhos caracterizam-se por uma “completa assistematização processual”, dificultando uma compreensão objetiva da historiografia brasileira, que consistiria, a seu ver, em: identificar suas principais linhas evolutivas; localizar os pressupostos metodológicos que orientaram seu estágio atual; conhecer seu público em diferentes épocas, bem como os homens e pensamentos que contribuíram para sua formação, etc. (JANOTTI, Introdução – algumas reflexões a propósito da historiografia brasileira: uma hipótese para a sua análise, in João Francisco Lisboa: jornalista e historiador, 1977). A autora constatava, então, que os estudos historiográficos brasileiros necessitavam de uma metodologia que possibilitasse a compreensão de sua “evolução e significado”. Em sua opinião, “a realidade da cultura nacional exige estudos que concebam Historiografia brasileira como processo de elaboração da mentalidade de um povo”. A “validade” dos estudos de historiografia envolveria um “julgamento” da obra de história não como trabalho individual, mas como “resultado material e intelectual de Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 8 uma determinada sociedade”. Por conta disso, considera que o estudo das “condições ambientais em que viveu o historiador é tão importante quanto às citações bibliográficas contidas em sua obra. E estas bem podem ser o resultado daquelas”. A aspiração é por uma história da historiografia com problemas historiográficos. Além disso, observa-se na proposta de Janotti que a compreensão da historiografia só seria possível recusando o movimento que busca manifestações no Brasil dos movimentos culturais europeus – uma vez que tal movimento conduz à inevitável constatação da inferioridade dessas manifestações. Ao invés disso, a compreensão do significado cultural da Historiografia brasileira (tema que também ocupava as reflexões de Carlos Guilherme Mota) só poderia ser atingida, em suas palavras: “mediante seu enquadramento na evolução histórica do pensamento brasileiro, na ordem social e política que a preside e na estrutura econômica que atua sobre ela”. Desse modo, a autora recusa buscar no Brasil as réplicas caboclas dos expoentes da historiografia européia, optando por investigar o “autêntico significado” das obras de nossos historiadores. Além da referência a Benedetto Croce, que reivindicava o estudo da historiografia com problemas historiográficos, Janotti também se inspira no trabalho de João Cruz Costa, autor de, entre outros livros, O desenvolvimento da filosofia no Brasil no século XIX e a evolução histórica nacional, publicado em 1950; e Antonio Cândido, com sua Formação da literatura brasileira (1959). O primeiro fornece-lhe a idéia de que há um estilo próprio de cada meio. Estilo condicionado pelas vicissitudes históricas dos povos, capaz de determinar a “transformação dos sistemas que a inteligência constrói para explicar a vida”. O segundo fornecendo a noção de literatura como sistema de obras interligadas por denominadores comuns, tais como a língua, os temas, as imagens etc. A literatura seria um aspecto orgânico da civilização, que envolve: um conjunto de produtores literários, um conjunto de receptores e um mecanismo transmissor. Para Janotti, a historiografia poderia ser abordada com a mesma perspectiva proposta por Cândido para a história da literatura, destacando-se a perfeita sincronia observada entre o desenvolvimento social e a consciência historiográfica. Segundo a autora, a vantagem dessa interpretação da historiografia como sistema seria “libertar a matéria de uma rígida imposição cronológica”. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 9 Por fim, a última proposição a ser apresentada é a de José Roberto do Amaral Lapa, que busca romper com um suposto “pacto consensual” em torno da historiografia brasileira. 4) José Roberto do Amaral Lapa e a ruptura de um “pacto consensual” Lapa analisou a produção historiográfica nacional no livro A história em questão: historiografia brasileira contemporânea, publicado em 1976. Procurou definir a historiografia como um campo de estudos ocupado com a história crítica do processo por meio do qual se dá o “registro da realidade histórica”, incluindo aí a reflexão sobre o próprio registro. Em suas palavras, tal campo compreenderia: “o circuito que vai do historiador – como agente produtor – passando pelo processo de produção do conhecimento histórico para chegar à sua transmissão e consumo, isto é, à formação de uma memória, uma consciência e uma prática ideológica por parte dos agentes que reproduzem, promovem a circulação, assimilam e interagem nesse conhecimento” (LAPA, A história em questão, 1976, p.14-15). Segundo o autor, uma das limitações da história da historiografia brasileira, cuja “vertente-mor” era a obra de José Honório, é o “caráter repetitivo dos modelos analíticos, em relação aos perfis e às obras mais significantes, e do arrolamento dos impedimentos à maior operacionalidade do historiador”. Em outras palavras, critica o que identifica como um “pacto consensual” em torno de dois pontos: as obras mais importantes e os fatores que criaram obstáculos ao trabalho do historiador. Em seu tempo, considerava haver um movimento de ruptura dessa visão unívoca. Movimento observado num momento em que a historiografia era vista como marcadamente pobre, quantitativa e qualitativamente, havendo poucos estudos sobre a mesma. Lapa localiza 53 estudos sobre o tema, dos quais 16 foram escritos por José Honório Rodrigues. A ampliação dos estudos sobre o a história da historiografia seria indicativa de uma tomada de consciência de fundamental importância para a crítica ideológica em sua época. De acordo com o autor, era “necessário desengravidar a Historiografia brasileira de sua carga ideológica e justamente as avaliações ao nível ideológico é que poderão oferecer esse discernimento. A ideologia é aí objeto e não motor do conhecimento histórico” (LAPA, A história em questão, 1976, p. 194). Um exemplo dessa ruptura Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 10 estaria expresso no artigo de Carlos Guilherme Mota, A historiografia brasileira nos últimos quarenta anos: tentativa de avaliação crítica (1975). Para concluir, o breve esforço de apresentar quatro propostas de história da historiografia produzidos entre os anos 40 e 70 permite tecer alguns comentários que podem ser úteis para compreendermos os caminhos desse domínio de estudos entre nós, além de ajudar a responder uma questão proposta por Valdei Lopes de Araújo, acerca do que pode estar em jogo quando fazemos história da historiografia. · O primeiro comentário diz respeito a presença de José Honório Rodrigues nesse campo de estudos ao longo de ao menos três décadas, ainda que seja difícil medir sua repercussão de fato. Inegavelmente, sua obra permaneceu por longo tempo como um tipo de estudo único não apenas devido à proposta monumental de conjugar teoria, metodologia e historiografia, mas pela divulgação no meio acadêmico através de publicações de ampla circulação. · O segundo comentário refere-se à permanência, por ao menos três décadas da noção de ideologia a orientar os estudos sobre a historiografia, o que pode ser compreendido levando em conta a experiência vivida por esses intelectuais, pensadores da história, entre as décadas de 50 e 70, quando a temática do nacional retornou à cena sob novo prisma, suscitando interpretações diversas e exigindo novos instrumentos teóricos. A noção de ideologia permitia relacionar texto e contexto, frequentemente subordinando o primeiro ao segundo. Atendia à necessidade de explicitar os pressupostos que orientam as interpretação produzidas pelos intelectuais em diferentes tempos, além de promover um movimento de auto-crítica, expondo suas próprias orientações. · O terceiro comentário relaciona-se à observação da presença de Antonio Cândido como referência para pensar um novo rumo para o estudo da historiografia nos anos 70. Na década anterior, ao pensar a história da literatura como uma história social, com uma proposta de método, Cândido permitia romper com a abordagem norteada pelo materialismo histórico, que opunha estrutura e superestrura, considerando as manifestações culturais (superestruturais) como reflexos da primeira. O autor deu novas coordenadas para os estudos de história da cultura no Brasil, difundindo e sofisticando noções Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 11 como a de geração, influência e tema, de modo a tratar a literatura como um todo “orgânico”. Afastou-se, assim, da perspectiva tradicional da história das gerações, fundada na cronologia, na sucessão direta de autores e obras. Além disso, considerou o estudo da obra num contexto histórico sem perder de vista a noção da obra literária enquanto realidade própria. · Por fim, um último e breve comentário, a emergência, nos anos 1970, dessa preocupação em desenvolver a história da historiografia parece estar relacionada, ao menos em parte, com uma transformação interna do campo dos estudos históricos no Brasil, que, ao atingirem certa progressão, despertaram maior interesse pela sua própria história, como observou Amaral Lapa em 1977. Cresceu o interesse dos estudiosos a respeito do desenvolvimento do próprio conhecimento que produzem, indicando certo esforço epistemológico. Ao menos em parte, esse esforço pode ser relacionado às mutações suscitadas pela difusão de obras como as de Thomas Kuhn e Michel Foucault, que nos anos 1960 introduziram a descontinuidade na história dos saberes, afirmando que o discurso histórico também possui historicidade e está condicionado por um lugar de produção e por um agente produtor. Cabe lembrar que, hoje, os estudos sobre a escrita da história se encontram em plena expansão, abrindo outros caminhos de reflexão, distintos daqueles que foram propostos pelos autores aqui focalizados. Os novos estudos produzidos ao longo dos anos 1980 e 1990, supostamente, não buscaram dialogar com as perspectivas de história da historiografia aqui brevemente revistas. Os novos estudos buscaram dialogar muito mais com os trabalhos produzidos por pesquisadores de outros centros, especialmente os franceses, que haviam vivido sua própria transformação, uma vez que a reflexão sobre a história da historiografia entre eles foi considerada por muito tempo como objeto de filósofos e teóricos da história. Mas, desde os anos 70, era possível constatar que passou o tempo em que era possível não estranhar a opinião de Lucien Febvre, quando afirmava que o historiador tinha razão ao fazer a história sem meditar sobre seus limites ou sobre as condições da historiografia (FEBVRE, Combates pela história, 1953).
AS INOVAÇÕES DE ANÍSIO TEIXEIRA
NA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO ESCOLAR: OS CASOS DA BAHIA E DO RIO DE JANEIRO
João Augusto de Lima Rocha
"A escola, com efeito, compreende inversão econômica do mais alto vulto... Em suas edificações, constitui um dos mais complexos conjuntos, neles incluindo-se os elementos da residência humana, dos serviços de alimentação e saúde, dos esportes e recreação, da biblioteca e museu, do teatro e auditório, oficinas e depósitos, sem falar no que lhes é privativo, ou sejam as salas de aula e os laboratórios. A arquitetura escolar, por isso mesmo, inclui todos os gêneros de arquitetura. É a escola, em verdade, um lugar para aprender, mas aprender envolve a experiência de viver, e deste modo todas as atividades da vida, desde as do trabalho até as de recreação e, muitas vezes, as da própria casa". (Anísio Teixeira)
A compreensão de Anísio sobre a escola, enquanto espaço destinado à formação integral do indivíduo, vincula-se à concepção professada pelos seguidores do filósofo americano John Dewey, para quem educação é vida, não uma imitação da vida, não simplesmente uma preparação para a vida, mas a própria vida.
Nesse sentido o projeto e a construção escolar deveriam obedecer ao princípio da dignidade, a mesma dignidade da vida, um direito a ser assegurado a todos na democracia. Democracia que ele definia a partir da exigência de que a educação fosse garantida como o primeiro de todos os direitos, em nome da igualdade de oportunidades.
Essa concepção liberal, avançada para a época, que alguns chegavam a chamar de "comunista", deu lugar a que Anísio marcasse sua presença na renovação da educação brasileira, também inovando nos aspectos da concepção e realização de programas de construção escolar.
A rigor, Anísio já começa a inovar nesse campo desde o tempo em que fora Diretor da Instrução, de 1924 a 1929, na Bahia. Para ele era necessário inverter a compreensão de que a nomeação do professor deveria ser a questão central da escola, porque isso jogava para segundo plano o lado pedagógico, a intenção de centrar a educação no aluno. Introduz daí a questão da necessidade de que o prédio da escola seja construído, ao invés de adaptado a partir de imóveis construídos originalmente para outras finalidades.
O conhecimento que Anísio teve, no final da década de 20, da educação norte-americana - educação pública com grande participação das comunidades locais - fez dele um defensor da descentralização aliada à idéia de projetar a sede da escola como um edifício rigorosamente subordinado a um programa arquitetônico em consonância com a cultura local, mas também, com um projeto pedagógico referenciado ao momento mundial de contínuas e cada vez mais rápidas transformações.
A escola teria que ser integral, portanto, a fim de formar quadros aptos, principalmente para a movimentação da indústria crescentemente complexa, e que ao mesmo tempo fossem capazes também de interpretar toda a complexidade engendrada pela velocidade dos novos avanços.
Para Anísio o modelo norte-americano de escola, por exemplo, teria sido o principal responsável pela marcante posição conquistada pelos Estados Unidos no cenário mundial, neste século. Assim o modelo escolar norte-americano deveria ser considerado por qualquer nação que também pretendesse buscar o progresso, pensava ele.
Terminada sua gestão à frente da educação na Bahia, Anísio vai para o Rio de Janeiro, onde em 1931, substitui Fernando de Azevedo na Diretoria da Instrução do então Distrito Federal. De 1931 a 1935 ele implanta um grande programa de construção escolar no qual despontam, entre as inovações, uma que iria se desenvolvendo gradativamente com o tempo, até consagrá-lo, mais tarde, com a criação da Escola-Parque de Salvador, no início da década de 50. Porque, na verdade, a concepção da Escola-Parque da Bahia, e por extensão, de todo o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, seria conseqüência do modelo de escola platoon, trazido por ele de Detroit para ser implantado no Rio de Janeiro, onde construiu uma série de escolas desse tipo cujo projeto caberia ao arquiteto Eneas Silva.
Segundo Hélio Duarte (Escola-Classe, Escola-Parque, uma Experiência Educacional, São Paulo: FAUUSP, 1973), nessa ocasião foram implantadas no Rio de Janeiro, escolas tipoplatoon com 12, 16 e 25 salas de aula. A cada sala correspondiam 40 alunos no turno da manhã (das oito e meia às onze e meia) e o mesmo número no turno da tarde (das doze e meia às três e meia). Seriam dois "pelotões" que se revezavam, tendo cada qual, no respectivo turno oposto, atividades em salas especiais: auditório, ginásio, música, artes plásticas, literatura, biblioteca, ciência, geografia, artes manuais e recreio.
As Fotos de 01 a 06, retiradas do relatório de Atividades do Secretário de Educação do Distrito Federal (1931-1935), dão uma mostra da dignidade arquitetônica das escolas do tipoplatoon construídas durante a gestão de Anísio Teixeira, para o ensino primário. São escolas que, hoje, mesmo reformadas e deslocadas de sua primitiva utilização, estão ainda em pleno funcionamento no Rio de Janeiro.
Hélio Duarte, no seu livro já citado, faz uma avaliação positiva das escolas platoon no Rio de Janeiro: "Temia-se que uma excessiva especialização dos assuntos fosse nociva à unidade indispensável ao curso primário, que fosse demasiado fatigante para o professor e que, finalmente, houvesse muita confusão e desordem no revezamento de atividades. Nada disso aconteceu".
Forçado a afastar-se da direção da Educação do Distrito Federal em 1935, Anísio só volta a atuar na área em 1946 e, em 1947, ao assumir a Secretaria de Educação e Saúde da Bahia, põe em prática, até o final do mandato, em 1951, um ambicioso plano que se inicia com a construção de escolas para as zonas de população dispersa e prédios escolares no interiorado Estado: para a educação primária, para a educação secundária e para a formação de professores, os últimos projetados para as sedes das dez zonas estabelecidas com a finalidade de descentralizar a educação no Estado.
Elabora esses projetos com a colaboração do arquiteto Diógenes Rebouças, pondo-os em prática de forma muito original: escolhia em cada local onde uma escola deveria ser construída, uma comissão de pessoas comprovadamente idôneas, para se responsabilizar pela construção, e fazia o acompanhamento mediante o recurso da fotografia, liberando os recursos para as diversas etapas somente através do relatório fotográfico de equipes que percorriam o Estado realizando a fiscalização mais antiburocrática de que se tem notícia!
Para a zona rural, de população dispersa, planejou a construção de centenas de unidades (quase todas construídas). A unidade constava de uma sala de aula, um recreio coberto e a residência da professora (Foto 7) instalada numa área mínima de 1 hectare, para incentivar as práticas agrícolas.
Para os núcleos urbanos (de 400 até 10.000 habitantes) a proposta começa pela "escola mínima" (Foto 8), com prédio de construção modulada e extensível, que se inicia com uma só sala de aula, constituindo a célula inicial da escola primária, planejada para ser construída em todos os 3000 povoados e arraiais do Estado, dentro da campanha Um teto para cada escola.
PROJETOS DO PERÍODO DE 1931 A 1935
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTR. FEDERAL (RJ)
GESTÃO ANÍSIO TEIXEIRA
Escola tipo "Platoon"
Escola tipo "Platoon"
Pavilhão Central de escola de 25 classes
Sala de Aula
Aspecto do interior
Hall da escola
A expansão imediata da escola mínima é a escola de duas salas de aula, com o prédio já bem mais acabado. Depois vem a escola "nuclear", que já pode ser considerada uma "escola primária". Tem três salas de aula, biblioteca, salas de administração, área coberta de recreio, cantina e depósitos (Fotos 9 e 10).
O "grupo escolar médio", correspondente ao quarto estágio de construção da escola primária, tem seis salas de aula, biblioteca, salas de professores e administração, auditório-ginásio, cantina e área coberta (Foto 11). Finalmente o "grupo escolar completo", última fase da construção da escola primária, com doze salas de aula, inclusive três especiais, salas de professores e de administração, biblioteca, clubes escolares, jardim de infância, ginásio, auditório-teatro e áreas cobertas de recreio (Foto 12).
Esses prédios que, como visto, podiam ser sucessivamente ampliados de uma sala de aula até um grupo escolar completo, tinham uma arquitetura de grande amplitude, podendo neles serem utilizados quaisquer materiais de construção, até mesmo adobes, funcionando as colunas como elementos de sustentação. As salas de aula tinham uma área de 66m e todo o edifício é construído com módulo de 1,25m, obtido mediante o estudo da conveniência de padronização de áreas, esquadrias, etc.
Para o ensino primário em Salvador a solução é diferente: Aí é proposta a escola de dois turnos, em um grupo integrado pelas "escolas-classe" e pela "escola-parque", com um máximo de 4.000 alunos no conjunto. Previa-se, inicialmente que 5% desses alunos seriam internos, correspondendo às crianças abandonadas, mas o único conjunto que chegou a ser construído não adotou essa proposta. Essa solução corresponde ao ponto culminante do desenvolvimento iniciado com a escola do tipo platoon à realidade do Rio de Janeiro, como antes já foi referido.
A idéia desses conjuntos era a de cobrir a totalidade da Capital, sendo a localização de cada um deles estabelecida em consonância com o planejamento urbano, através do qual se previa a expansão populacional e geográfica do município de Salvador. O critério de localização desses conjuntos em Salvador (os Centros Populares de Educação) é assunto do depoimento de Diógenes Rebouças, nesta coletânea.
O único desses conjuntos que chegou a ser concluído, demorando-se, porém, quase 20 anos para isso, foi o originalmente chamado Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, (Fotos 13 a 15), no bairro da Liberdade. Composto por 4 "escolas-classe" e uma "escola-parque", essa obra deu destaque internacional a Anísio Teixeira, não só pela arquitetura e pela construção, mas pelo trabalho pedagógico lá desenvolvido, sob o patrocínio do INEP, dentro da linha de seus Centros Regionais de Pesquisa em Educação, de produzir conhecimentos a respeito de todos os complexos e interligados problemas associados à educação, em cada realidade regional específica. Um desses estudos, por sinal, que avaliou o custo-aluno no Centro Carneiro Ribeiro, revelou que seu valor era mais baixo do que o custo de um aluno de jardim infantil nas escolas particulares de Salvador, naquela época.
Ressalte-se que a questão da universalização da escola pública não se esgotava, segundo Anísio, na arquitetura e na construção escolar, mas incluía, entre tantas outras coisas, a formação dos professores, tarefa para a qual o Centro Popular de Educação teve importância fundamental, ao servir de modelo para a educação de grande parte dos educadores da Bahia, que o utilizavam como referência para sua formação e reciclagem.
No âmbito do 2º grau e da formação de professores, a ação de Anísio, tanto na Capital quanto no interior, foi também de muita importância. Na Capital ele expandiu o ensino secundário e o ensino normal, abrindo seções do tradicional Colégio da Bahia em vários bairros e incentivando os cursos já existentes de formação de professores (vide o artigo de Hildérico Pinheiro, nesta coletânea).
Projetos do Período de 1947 a 1951
Secretaria de Educação e Saúde do Estadoda Bahia
Gestão Anísio Teixeira
Escola para a Zona Rural
Escola "mínima"
Escola Nuclear
Escola Nuclear
Grupo "Escolar Médio"
Grupo "Escolar completo"
Escola Parque - Salvador-BA onde se destaca a amplitude dos espaços arborizados
Vista do pavilhão principal
exposição anual dos trabalhos realizados pelos alunos
No interior, o Estado foi dividido em dez regiões geo-educacionais, sendo prevista a implantação de um Centro Regional de Educação (CRE) na sede de cada uma delas, alguns tendo implantação iniciada ainda em sua gestão. O projeto dos CREs compreendia os seguintes prédios:
Escola de professores; escola secundária; escola primária, anexa à escola de professores; biblioteca; centro cultural, com teatro; edifício de administração; edifício de serviços gerais, com restaurante; praça de esportes e residências de diretor, professores e funcionários.
Convém observar, por fim, que Anísio continuou a exercer sua influência no campo da construção escolar, durante todo o tempo em que atuou a nível federal, de 1951 a 1964, particularmente em Brasília cujo sistema escolar foi nele inspirado, sem falar nos projetos nacionais de construção escolar, através dos quais se espalharam, por todo o país, as várias contribuições originadas de sua larga compreensão do conjunto dos problemas educacionais brasileiros. É certamente um tema para estudo cuidadoso e mais aprofundado.
http://www.bvanisioteixeira.
Padre Antonio Vieira
Por Ricardo Timm de Souza – Filósofo, POA
Não obstante toda sua intensidade e pertinácia, é evidente que o modelo corrente de pusilanimidade e servilismo intelectual não conseguiu esterilizar completamente os espíritos. Houveram certamente incontáveis exemplos de inquietude intelectual, a imensa maioria infelizmente submersa no roldão da história e ainda aguardando sua devida valorização, alguns até sua descoberta; outros, porém permanecem, ou são reencontrados contemporaneamente por uma releitura mais lúcida dos fatos históricos, como legítimos representantes de uma inteligência vigorosa que se manifesta em meios extremamente árduos e testemunha ao futuro sua grandeza. No contexto do presente estudo, e com referência à época e âmbito em foco, destacaremos uma figura dessa estirpe: o Padre Antônio Vieira com suas Cartas e
O Padre Antônio Vieira, nascido em Lisboa em 1608 e falecido em 1697, homem de “Gênio humaníssimo, urbano e cortês, o engenho quase sem igual” e que “punha-se acima dos poderes constituídos em prol de uma organização social mais justa e humana, apresenta-se como um dos mais brilhantes intelectuais lusófonos de todos os tempos.
Em uma época em que contradições, misérias e privilégios eram compreendidos tão-somente de forma ontológica, isto é, de uma forma que, ao existir, definia simultaneamente o único princípio válido de inteligibilidade das realidades em questão, Antônio Vieira ousa transcender as contingências e limitações de uma tal concepção de mundo e traduz as contradições de seu meio e sua época com espantosa lucidez. No Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, por exemplo, Vieira simula a entrada, com sua audiência, em uma casa fidalga portuguesa, repleta de símbolos e alegorias de “fé católica cristinaíssima”, relatando, então o que vê:
Entremos e vamos examinando o que virmos parte por parte. Primeiro que tudo vejo cavalos, fieira e coches, vejo criados de diversos calibres...vejo galas, vejo jóias, vejo baixelas ,,,da janela vejo jardim e ao longe vejo quintas; enfim vejo todo o palácio e também o oratório; mas não vejo a vejo a fé. E por que não aparece a fé nesta casa? Eu o direi ao dono dela. Se os vossos cavalos comem à custa do lavrador...e as rodas e o coche que arrastam são dos pobres oficiais, que andam arrastados sem cobrar um real; como se há-de ver fé na vossa cavalariça? Se o que vestem os lacaios e os pajens...dependem das mesadas do mercador que vos assiste , e no princípio do ano lhe pagais comm esperanças e no fim com desesperações...como se há-de ver fé na vossa família? Se as galas, jóias e as baixelas, ou no Reino, ou fora dele, foram adquiridas com tanta injustiça e crueldade...como se há-de ver nessa falsa riqueza?... Se a Primavera está rindo nos jardins ...e as fontes estão nos olhos da triste viúva e órfãos ...como se há de ver a fé ...nem a sombra dela na vossa casa.?
Vieira penetra na teia simbólica e extrai a hipocrisia que a sustenta; vê além dos símbolos e da ordem das grandezas para destacar o antes e o depois; ressalta as contradições veladas por princípios e fundações ontológicas pretensamente intocáveis e atemporais ao despi-los em sua historicidade , em sua constituição através dos tempos – as galas e baixelas não somente foram adquiridas , mas o foram com injustiça e crueldade; os oratórios são ocos, porque o que quer que pretendessem representar, está velado pela realidade maior da iniquidade efetivamente exercida. Pretensos símbolos de piedade religiosa nada mais são do que indicação de violência e injustiça, porque seu valor não sobrevive sem algo anterior a eles – no caso, a caridade cristã – que o legitimasse. “O Rei está nu!”.
Como aqui, em muitas passagens pode-se observar a eloquência profética de Vieira. No caso da escravidão , denunciou com intensidade, no século XVII, uma situação que perdurou por mais duzentos anos e muitos que a justificavam até mesmo em nome de Deus e da fé... “Na construção de Vieira reforçam-se mutuamente o discurso da sensibilidade , que vê e exprime intensamente a dor do escravo , e o discurso do entendimento, capaz de acusar o caráter iníquo de uma sociedade onde homens criadas pelo mesmo Deus pai e remidos pelo mesmo Deus filho se repartem em senhores e servos. Em suma traduz a realidade enquanto radical e injustiça:
esses homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma Eva ? Estas almas não foram resgatadas com o sangue do mesmo Cristo? Estes corpos não nascem e morrem como os nossos? Não respiram o mesmo ar? Não os cobre o mesmo céu? Não os aquenta o mesmo sol? Que estrela é logo aquela que os domina , tão triste, tão inimiga tão cruel?
Assim, imerso embora nas contradições de seu tempo, não faltou ao Padre Vieira lucidez nem coragem para dizer o que via e sentia; ele transcende a sua época, ao mostrá-la a ela própria, à posteridade que tenta entende-la e ao Brasil como um todo.
----
Referências bibliográficas no original – O Brasil Filosófico , de Ricardo Timm de Souza – Ed. Perspectiva – SP – 2003 p.40-42
MORRER PELO BRASIL – VIVER PARA O BRASIL – 100 anos do Tenentismo
Geniberto Campos
“Não é sem sangue, sem sofrimento e sem sacrifício que se constrói uma grande nação”.
(Da seção de cartas de O Estado de São Paulo, julho de 1924) (1)
“A revolta é o último dos direitos a que deve recorrer um povo livre para salvaguardar os interesses coletivos, mas é também o mais imperioso dos deveres impostos aos verdadeiros cidadãos”.
(Juarez Távora) (1)
1. E assim começou o Tenentismo, um dos mais importantes e duradouros ciclos da história política contemporânea brasileira. Heroísmo, coragem, desprendimento, dedicação à Pátria. Disposição para o sacrifício. Se necessário, morrer nobremente pela causa patriótica.
Caracterizado pelo intervencionismo, o outro nome para revolta. Um recurso sempre disponível ao qual muitas vezes se recorria para salvar a Nação.
Durante pelo menos seis décadas, o tenentismo sobreviveu e mostrou, a cada momento, a sua nobre e heroica face aos brasileiros. E esta face assumia as mais diferentes características.
O ciclo tem o seu início de lutas heroicas e marcantes em 1922, com a “Revolta do Forte de Copacabana”. Que passou à história como “Os 18 do Forte”. Na qual os nomes de jovens e corajosos tenentes – são bem lembrados Siqueira Campos, Juarez Távora e Eduardo Gomes – comprovaram a sua coragem pessoal e seu heroísmo, entrando, definitivamente, para a nossa História.
Em sequência, irrompe em São Paulo, em 1924, agregando vários atores da revolta anterior, o movimento que ficou caracterizado como a “Coluna Prestes”. Por aproximadamente 3 anos a Coluna percorreu o Brasil, cobrindo quase todas as suas regiões. Numa marcha de sacrifício que terminou no estado de Mato Grosso, quando os revoltosos sobreviventes se exilaram na Bolívia. Deixando ali alguns companheiros mortos, sepultados no cemitério de “La Gaiba”, em território boliviano. (Em saudação aos mortos, tombados na Coluna, o revolucionário Moreira Lima, diante de Luis Carlos Prestes, pronuncia uma espécie de sentença que pretendia profética, definitiva: “Tiranos! Os vossos dias estão contados na terra brasileira! ” (1)
Finalmente, em 1930 os tenentes assumiram o poder, no movimento que ficou conhecido como a “Revolução de Trinta”. Na qual teve início uma tumultuada sequência de intervenções “salvacionistas”.
2.A partir daí o ciclo tenentista vai assumindo novas características históricas e políticas. Mas deixando sua marca indelével: a revoltacomo recurso necessário – legitimado pela história – para resolver situações de crise e repor a ordem. Combatendo os “Carcomidos” (os corruptos e incompetentes da época). Sempre em busca do progresso, agora com o nome de desenvolvimento.
Resumindo, os períodos especiais inseridos no século vinte, configuram dois ciclos autoritários, regidos pela influência da ideologia tenentista: o início da Era Vargas (1930/1945) e aRevolução/Golpe de 64 (1964/1985). Com o intervalo democrático de dezenove anos (1945/64), quando, mesmo com o registro de algumas turbulências, foram realizadas eleições livres e diretas, vitoriosos nas urnas os governos Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Este seguido pelo ciclo autoritário dos generais presidentes: Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Figueiredo. E, finalmente, o retorno à Democracia e às normas constitucionais, vigentes desde 1985 até os dias atuais. (Eis um breve – e sumaríssimo – resumo da evolução política contemporânea brasileira).
É possível que o heroico ciclo intervencionista dos tenentes tenha chegado ao fim, após quase um século de permanência entranhado na vida política da nação brasileira. Mas caberiam, no entanto, algumas perguntas singelas: o país adentrou em definitivo na vida democrática plena, ou estariam surgindo novos heróis salvadores da pátria? Qual, enfim, o legado do Tenentismo?
Analisando o legado tenentista: neste longo ciclo dos “tenentes”, iniciado na década de 1920, o país e o mundo passaram por inúmeras transformações. E o Brasil chegou ao século 21 com várias das suas estruturas e instituições renovadas. Com inegáveis contribuições dos longos ciclos autoritários e dos relativamente curtos períodos democráticos. Estes, somados, perfazem um total de menos de cinquenta anos de governos democráticos, no período de aproximadamente um século. Livres da tutela salvacionista (e intervencionista e autoritária) dos incansáveis heróis da pátria.
Difícil ou mesmo impossível avaliar aonde poderíamos ter chegado com governos e instituições vivenciando a calma e a plenitude democráticas. Mas seria justo inserir algumas questões (irrespondíveis?) relacionadas a esse peculiar processo histórico: a quebra repetida da ordem democrática era mesmo necessária para garantir um futuro melhor para o país? O nobre sacrifício dos heróis da pátria conseguiu demonstrar, historicamente, que este sacrifício era mesmo essencial ao nosso desenvolvimento e à construção de uma sociedade civilizada?
São questões aparentemente inócuas. Mas ainda que respondidas com natural viés político – ideológico, poderiam servir, pelo menos, para orientar o nosso porvir, com ou sem Democracia.
(Talvez possa ficar, como sugestão, buscar colher respostas futuras através de escrutínios e consultas populares, em plebiscitos e/ou referendos. Para falar em nome do povo, torna-se essencial ouvi-lo).
Mirando, portanto, o futuro imaginamos que para atingir um definitivo e estável processo civilizatório seria indispensável chegar-se a um consenso, precedido de bem articulada e inteligente “concertacion”, (acordo) onde os fatos pretéritos passariam a constituir verdadeiramente o passado, perene fonte de aprendizado. Dando início à tessitura de um necessário projeto de reconciliação do país, o qual poderia ter sido iniciado há algumas décadas. Seria sonhar muito alto? Nem tanto. Mas onde os estadistas – ou, que seja, políticos e cidadãos com visão histórica e estratégica – dispostos a fazê-lo? Homens e mulheres que saberiam contar o tempo em décadas, não apenas em dias, ou minutos.
E o povo? O povo está aí. Como sempre esteve. Para ser ouvido e consultado, como de obrigação e de direito, em todas as democracias.
1. Millôr Fernandes (1923-2012), um irreverente jornalista e pensador brasileiro, dizia com o seu humor cáustico: “herói é aquele não conseguiu fugir”. (2)
Bertolt Brecht (1898- 1956), cultuado dramaturgo alemão, produziu uma das suas frases mais polêmicas e instigantes: “pobre do país que precisa de heróis”. (2)
Ao longo do tempo, o Brasil (e a América Latina) tornou-se uma espécie de laboratório de experiências políticas, onde os heróis consagrados e eventuais candidatos ao posto desfilavam seu inconformismo com a situação do país. E arrostando elevados riscos e sacrifícios, empunhavam suas armas e partiam para fazer as revoluções transformadoras, mesmo sem o apoio prévio do povo ou, vá lá, das “massas oprimidas”. Derrubando autoridades constituídas e implantando, pela força, um novo projeto de país. No claro e altruísta propósito de criar um novo regime, inventar um novo país.
Curiosamente, este método de mudanças institucionais pelo uso da força e abstraindo o voto, consultas à cidadania e abstraindo as manifestações populares, tornou-se uma espécie de loucura – ou aventura – consentida, e até admirada por muitos. Que sempre imaginaram o Brasil carente de heróis, de luta e de sangue derramado. Pois, na visão deles, não se constrói uma pátria sem tais ingredientes. Vejam-se os exemplos pelo mundo. E entre nós brasileiros, a opinião expressa por um leitor do jornal “O Estado de São Paulo” – citado na epígrafe deste artigo – no ano longínquo de 1924, que falou e disse: “ Não é sem sangue, sem sofrimento e sem sacrifício que se constrói uma grande nação”.
Seria este, em resumo, o fundamento da ideologia tenentista do século passado. E onde estão os tenentes, heroicos salvadores da pátria brasileira? Gozam do merecido repouso dos guerreiros. E deram lugar aos “novos tenentes”. Heróis sem nenhum heroísmo.
Eles agora vestem toga e expressam a sua confusa revolta atropelando a Lei e o Estado de Direito. Tudo em nome da salvação do país. Fazem as suas “marchas” pelos novos campos de batalha: os tribunais da alta e média hierarquia jurídica, correndo mínimos (ou nulos) riscos pessoais. Sem necessidade do uso de armas ou montarias. Falam o que bem entendem. (“Fazem a diferença”). Condenam sem provas em processos criminais. E as suas armas são agora de outra natureza. Mas igualmente mortais e certeiras. Não fazem jorrar sangue. Mas produzem sofrimentos e sacrifícios incalculáveis. E comprometem gravemente a Democracia. Utilizando, impunemente, às vezes de forma pusilânime, o projétil mortal da Injustiça.
Pobre do país que (ainda) precisa de heróis.
Até quando aceitaremos viver na instabilidade, na insegurança jurídica e na permanente ameaça à Democracia?
Como diz o verso da belíssima canção do Bob Dylan:
“ a resposta está soprando no vento”…
REFERÊNCIAS
1. “As Noites das Grandes Fogueiras” – uma história da Coluna Prestes – Meirelles, Domingos – Ed. Record – 2013.
2. Citações feitas de memória, pelo autor.
3. Bob Dylan – “Blowin’g in the wind” – 1963
Cavaleiro da Esperança na avenida
Segunda-feira, 19 de Novembro de 2001, 15:47 | Online
Avalie esta Notícia
Série reúne intelectuais para discutir o País
Antonio Candido abre amanhã Intérpretes do Brasil, da TV Cultura e Arte, debatendo as origens e as transformações do mundo caipira
http://www.estadao.com.br/
Há algo de admirável na fala de
Antonio Candido e Antonio Risério. Não é só a erudição desses
estudiosos, a segurança com que eles falam sobre assuntos
diversos. É a serenidade com que se expressam. Numa época em que
as pessoas tentam impor suas idéias no grito, esses mestres dão
uma admirável lição de civilidade na série Intérpretes do
Brasil. É uma criação do Ministério da Cultura especialmente
formatada para a TV. Vai ao ar a partir de amanhã na TV
Cultura e Arte. Os programas de 20 minutos serão exibidos,
semanalmente, às terças-feiras, às 22 horas, com reprise nas
quartas e quintas, às 18 horas e 12 horas, respectivamente.
A série de 11 programas começa amanhã com a exibição de
Os Caipiras. É conduzido pela narrativa de Antonio Candido
Mello e Souza, professor de Teoria Literária na Universidade de
São Paulo. Logo no começo, quando a imagem de Antonio Candido
bate na tela, um letreiro informa data de nascimento e sua
qualificação profissional. É só. O programa, não apenas esse,
mas a série toda, não aborda a biografia do intelectual, por
mais respeitável que ele seja, nem pretende esgotar os assuntos
em questão. "O que a série se propõe é a instigar e sugerir",
informa Isa Ferraz, idealizadora e diretora da série produzida
por Zita Carvalhosa.
Por que os intérpretes do Brasil? Não é uma série sobre
cantores, como você pode pensar, mas uma interpretação do Brasil
e de sua cultura feita por intelectuais com atuação em diversas
áreas de especialidade. Antonio Candido fala amanhã sobre o
mundo caipira. Na semana que vem, Judith Cortesão investiga a
relação entre Portugal e Brasil, colonizador e colonizado. No
dia 4, Antonio Risério fala do sebastianismo medieval que ainda
sobrevive entre os sertanejos. O programa se chama,
sugestivamente, Viva o Sertão.
Para o secretário José Álvaro Moisés, do Audiovisual, a
série de 11 programas quer levar o público "a perguntar-se quem
somos nós, os brasileiros, e que País é esse, o Brasil." Moisés
não é só secretário do Audiovisual. Também é diretor da TV
Cultura e Arte, criada com o objetivo de promover a cultura do
País. Atualmente, 68 operadoras ligadas à TVA, à NeoTV e à Net,
além de operadoras independentes, distribuem a programação. A TV
Cultura e Arte não fica permanentemente no ar. É transmitida de
segunda a sexta, das 12 horas às 14 horas, das 18 horas às 20
horas e das 22 horas à meia-noite. Aos sábados e domingos, das
12 horas às 15 horas, das 17 horas às 20 horas e das 21 horas à
meia-noite. A programação também está, à noite, na DirecTV, na
Sky e na TecSat. E, se você quiser mais informações, pode
consultar o endereço eletrônico: tvculturaearte@minc.gov.br.
Zita Carvalhosa esclarece que Intérpretres do Brasil
é conseqüência de outra série, O Povo Brasileiro, também
idealizada e dirigida por Isa Ferraz. As entrevistas com grandes
intelectuais brasileiros, para aquela série, ficaram tão boas (e
foram tão pouco usadas) que Isa e ela formataram a nova série
para aproveitar as "sobras". Nada melhor que o mergulho no mundo
caipira proposto por Antonio Candido para abrir a programação.
Ele começa com uma ressalva: emprega-se, hoje, a definição de
"caipira" para qualquer indivíduo sem traquejo social, dotado de
cultura tosca ou sem cultura nenhuma. Não é essa conotação do
caipirismo que lhe interessa. O caipira em discussão é o
habitante do mundo rural, especialmente nas áreas de São Paulo,
Minas, Goiás, Mato Grosso e parte do Paraná, com afinidades no
Rio e no Espírito Santo. Produto da miscigenação do português
com o índio e com contribuição do elemento africano, o mundo
caipira interessa a Antonio Candido por haver sobrevivido às
pressões da sociedade de consumo e também por trafegar entre o
campo e a cidade.
Antonio Candido analisa o tipo de vida do caipira, a sua
cultura, as transformações pelas quais ela passou. As imagens do
programa foram feitas em São Paulo e Minas. Ilustram os
comentários do especialista. A propósito, cabe uma observação.
No recente encontro para discutir o documentário, promovido pelo
canal GNT no Rio - o Brasil Documenta -, um dos temas em
pauta foi a presença do narrador nos documentários. Cada vez os
documentários recorrem menos a essa figura, o narrador, o
especialista. Uma exceção foi Casa Grande & Senzala, de
Nelson Pereira dos Santos, baseado na obra de Gilberto Freyre.
Outra é essa série de documentários. Ainda bem: Antonio Candido
é um grande intérprete do Brasil.
Intérpretes do Brasil. Terça, às 22 horas, com reprise
nas quartas e quintas, às 12 e às 18 horas. TV Cultura e Arte.
Intérpretes do Brasil (DVD)Vários (veja lista completa) Versátil Filmes Esgotado Avise-me quando Produto sob encomenda junto aos nossos fornecedores |
SINOPSE
DETALHES DO PRODUTO
http://livraria.folha.com.br/
A Versátil, em parceria com a SuperFilmes e a Texto & Imagem, apresenta, neste DVD duplo, Intérpretes do Brasil, de Isa Grinspum Ferraz, uma série de quinze entrevistas com grandes intelectuais brasileiros sobre a cultura, a religião e os diferentes grupos sociais de nosso país. Dos mesmos criadores do premiado O Povo Brasileiro.
DISCO I
Notas sobre o Brasil, por Darcy Ribeiro
Saberes, Manuela Carneiro da Cunha
Pé na Estrada, por Paulo Vanzolini
Portugal-Brasil, por Judith Cortesão
O Sonho Português, por Roberto Pinho
Vontade de Beleza, por Washington Novaes
Mistura e Invenção, Hermano Vianna
DISCO II
Os Vários Brasis, por Aziz Ab'Saber
Os Caipiras, por Antonio Candido
Viva o Sertão, por Antonio Risério
Leituras do Cotidiano, por Roberto Da Matta
O Candomblé do Brasil, por Mãe Stella
Presença Africana, por Carlos Serrano
Mar de Escravos, por Luiz Felipe de Alencastro
Negro de Corpo e Alma, por Emanoel Araújo
Ano de produção: 2001, 2002
ASSUNTOS RELACIONADOS
Clóvis Moura: marxismo e questão racial
http://marxismo21.org/clovis-
Nesta página, marxismo21 publica um dossiê sobre Clóvis Moura (1925-2003), escritor e ativo intelectual-militante comunista que se destacou pelos estudos sobre a questão racial e a luta e a resistência do negro no Brasil. Neste dossiê, divulgamos vários artigos e livros de Clóvis Moura e trabalhos sobre sua obra, assim como vídeos e áudios que procuram revelar suas contribuições para a história e para o pensamento social brasileiros.
Somos gratos a Érika Mesquita (IFAC) pela elaboração do texto de apresentação e a outros valiosos colaboradores que se envolveram na construção deste extenso dossiê: Augusto Buonicore, José Carlos Ruy, Mário Augusto Medeiros da Silva, Mário Maestri, Renata Gonçalves e Soraya Moura.
Editoria
*******
Clóvis Moura: por uma sociologia da práxis negra
Érika Mesquita
Revisitar a obra de Clóvis Moura é repensar a história social do Brasil. É com um sentimento saudoso e de enorme gratidão que inicio uma sucinta apresentação de sua obra, construída ao longo de sua trajetória, quer sobre estudos sobre o negro da qual trata esse dossiê ou como exímio poeta. Clóvis Moura, em nossas conversas, sempre ressaltava a importância de se transformar o conhecimento livresco em arma para revolução, e essa acepção perpassa sua obra na categoria de análise basilar que é a práxis negra.
Como outros intérpretes contemporâneos do Brasil, Clóvis Moura lançou mão da análise marxista, mas ao contrário de outros autores, ele buscou se aprofundar sobre um assunto repleto de subterfúgios, que era a luta dos escravos contra o cativeiro. Moura estabeleceu, através da análise dos quilombos e das numerosas insurreições escravas, uma nova interpretação da formação da sociedade brasileira.
Observou ele que a sociedade brasileira se formou através de uma contradição fundamental, senhores versus escravos, e em sendo as demais contradições decorrentes dessa, pautadas por extrema violência, aspecto central do sistema escravista. Clóvis Moura remete ao pensamento marxista quando relaciona o negro como o sujeito histórico da sua própria transformação e quando observa que as relações de produção têm como base o racismo como elemento estrutural e estruturante no Brasil. Portanto, da mesma forma que Marx entendia a classe operária como sujeito da revolução, e esta descoberta foi feita a partir da experiência com os movimentos sociais mais avançados de sua época, Clóvis coloca no negro o sujeito revolucionário e protagonista de sua auto-emancipação dentro de uma práxis histórica negra.
Dessa forma, Clóvis conclui que todos os movimentos que desejam mudança social são movimentos políticos apesar do fato dos seus agentes coletivos não terem total consciência disso. Logo, esse fenômeno se apresenta pelo nível de consciência social de cada um e as propostas subsequentes para a mudança projetada, mas todos se enquadram (com maior ou menor nível de consciência social) na proposta da transformação revolucionária (ou não) da sociedade.
Como já mencionado, a noção de práxis é a categoria-chave para pensar uma tradução do marxismo europeu para um, pode-se dizer, marxismo enegrecido. É a práxis – considerada como ação de rebeldia e resistência ao escravismo – que confere ao negro o papel de sujeito de sua própria história. Para Moura, o exemplo desse fenômeno máximo do negro como sujeito é Palmares que se colocou, simultaneamente, como uma síntese entre república e monarquia: República, pois cada quilombo que integrava Palmares tinha seu representante, e este decidia de forma autônoma, ou seja, conjuntamente com o seu povo, como solucionar problemas incidentes em seu reduto, e monarquia, porque possuíam um rei com toda distinção hierárquica-social, muitas vezes não só social como também religiosa e que em tempos de guerra exercia poderes absolutos. Era dessa formaum modelo singular de governar o povo. ler mais
*******
Fundo DEOPS/SP:
Livros:
A encruzilhada dos orixás: problemas e dilemas do negro brasileiro
As injustiças de Clio: o negro na historiografia brasileira
Brasil, raízes do protesto negro
Dialética racial do Brasil negro
Dicionário da escravidão negra no Brasil
Introdução ao pensamento de Euclides da Cunha
O preconceito de cor na literatura de cordel: tentativa de análise sociológica
Os quilombos e a rebelião negra
Os quilombos na dinâmica social do Brasil
Quilombos: resistência ao escravismo
Sociologia do negro brasileiro
Sociologia política da guerra camponesa de Canudos
Artigos:
Atritos entre a história, o conhecimento e o poder
Cem anos da abolição do escravismo no Brasil
Devoremos a esfinge antes que ela nos decifre
Escravismo, colonialismo, imperialismo e racismo
Estratégia do imobilismo social contra o negro no mercado de trabalho
Florestan Fernandes e o negro – uma interpretação política
Graciliano Ramos e o Partido Comunista
Lila Ripoll (co-autoria com José Carlos Ruy)
Lima Barreto e a militância literária
Nascimento, paixão e ressureição de “Casa Grande & Senzala”
O racismo como arma ideológica de dominação
O significado político da guerra de Canudos
Os quilombos e a luta de classes no Brasil
Particularidades do racismo brasileiro
População e miscigenação no Brasil
Sacco e Vanzetti – um crime que gerou protestos no Brasil
Trajetória da abolição em São Paulo: do quilombismo racial à conciliação
Resenhas:
A escravidão na ótica do escravo
A generosa luta da guerrilha do Araguaia
Prefácio:
Prefácio do livro A imprensa negra paulista (1915-1963), de Miriam Nicolau Ferrara
Entrevistas:
A história do trabalho no Brasil ainda não foi escrita (com José Carlos Ruy)
Memória – entrevista com Clóvis Moura (1981) – Revista Movimento (UNE)
Sociólogo critica “cinismo étnico” no país (com ANotícia)
Poemas:
Trabalhos sobre Clóvis Moura:
Alessandro Moura de Amorim. MNU representa Zumbi (1970-2005): cultura histórica, movimento negro e ensino de história
Ana Boff de Godoy. Os dilemas da negritude
Augusto Buonicore. O pensamento radical de Clóvis Moura
Célia Regina Tokarski, Domingos Leite Lima Filho, Ivo Pereira de Queiroz, Mariana Prohmann. O sujeito negro e a educação tecnológica: potencialidades a partir de aproximações conceituais de Clovis Moura e Andrew Feenberg
Christian Carlos Rodrigues Ribeiro. Considerações iniciais sobre a produção histórico-sociológica de Clóvis Moura
Danilo Ramos Silva. Clóvis Moura e a sua rebelião (Resenha de Rebeliões da Senzala)
Dennis de Oliveira. Uma análise marxista das relações raciais
Diego Ricardo Pacheco. Clóvis Moura e Florestan Fernandes: O protesto escravo na derrocada do sistema escravista nas obras Rebeliões da senzala e brancos e negros em São Paulo
Diorge Alceno Konrad. Clóvis Moura: 5 anos sem o “pensador quilombola”
Diorge Alceno Konrad. Na senzala a resistência, no quilombo a liberdade: a obra de Clóvis Moura
Encarte especial da Revista Princípios (textos de Augusto Buonicore, Clóvis Moura, Martiniano J. Silva, José Carlos Ruy, Soraya Moura e Edson França)
Érika Mesquita. Clóvis Moura (1925-2003)
Érika Mesquita. Clóvis Moura e a sociologia da práxis
Érika Mesquita. Clóvis Moura: uma visão crítica da história social brasileira
Fábio Nogueira de Oliveira. Clóvis Moura e a sociologia da práxis negra
Fábio Nogueira de Oliveira. Modernidade, política e práxis negra no pensamento de Clóvis Moura
GT Clóvis Moura. Quem foi Clóvis Moura?
Gustavo Orsolon de Souza. Clóvis Moura e o livro Rebeliões da Senzala: um breve panorama sobre o debate da resistência escrava
Gustavo Orsolon de Souza. “Rebeliões da senzala”: diálogos, memória e legado de um intelectual brasileiro.
João Baptista Jorge Pereira. O último legado de Clóvis Moura
José Carlos Ruy. Clóvis Moura investigava o passado histórico para melhor compreender as lutas do presente
José Carlos Ruy. Um intelectual marxista engajado e generoso
José Carlos Ruy. Um clássico sobre a luta de classes no Brasil
José Maria Vieira de Andrade. Cidadania e questões raciais na produção intelectual de Clóvis Moura, na segunda metade do século XX
José Maria Vieira de Andrade. Clovis Moura, engajamento, escrita e crítica literária
Karin Sant’Anna Kössling. As lutas anti-racistas de afro-descendentes sob vigilância do DEOPS/SP (1964-1983)
Márcio Farias. Pensamento social e relações raciais no brasil: convergências e divergências nas obras de Clóvis Moura e Octavio Ianni
Márcio Farias. Classe e raça no pensamento de Clóvis Moura
Mário Maestri. Brasil: A visão germinal de Clóvis Moura
Mário Maestri. Dez anos sem Clóvis Moura
Mário Maestri. Silêncio, Marginalização, Superação e Restauração. O Cativo Negro na Historiografia Brasileira
Talita dos Santos Molina. Clóvis Moura. Vida intelectual e arquivo pessoal (1925-2003)
Walber Monteiro. Clóvis Moura e sua visão sobre o negro na dinâmica da luta de classes no Brasil
Weber Lopes Góes e Renato Pereira Correia. Clóvis Moura: delineamentos gerais para a superação do racismo à brasileira
Vídeos:
Dialética radical do negro brasileiro – debate
O pensamento radical de Clóvis Moura – debate
Vida e obra de Clóvis Moura (parte 1)
Vida e obra de Clóvis Moura (parte 2)
Áudio:
Clóvis Moura: um pensador das raízes da opressão no Brasil (por Soraya Moura)
O Satânico Dr. Go:
Golbery e um Projeto de Desenvolvimento e Dependência para o Brasil
http://www.espacoacademico.
Resumo: Este artigo aborda aspectos da biografia e do pensamento do general Golbery do Couto e Silva (1927-1911), personagem-chave em eventos da história do País desde os anos 1950. Mostramos como sua atuação prática é coerente com seu pensamento, exposto principalmente em Planejamento estratégico, de 1955, e Geopolítica do Brasil, de 1981. Suas idéias baseiam-se, de um lado, numa concepção instrumental da liberdade (a manutenção de um nível mínimo de liberdade é importante para a ordem) e de negociações com a oposição; e, de outro, numa articulação subordinada com os Estados Unidos para levar o Brasil à condição de grande potência. Segurança e desenvolvimento, ou ordem e progresso, não por coincidência também eram o lema da ditadura militar. Entender o pensamento de Golbery é fundamental para compreender as características e conseqüências desta.
Golbery do Couto e SilvaInterlocutor respeitado por líderes como D. Paulo Arns, Júlio de Mesquita Neto e Ulysses Guimarães. Odiado pela linha-dura e radicalmente anticomunista e antidemocrático. Nacionalista e defensor da industrialização subordinada ao estrangeiro. Pensador autodidata, eclético, de estilo rocambolesco e árido, que não dispensava consultas a pais-de-santo. Em uma palavra: controvertido. Este é o perfil de Golbery do Couto e Silva, homem do poder, mas que preferia os subterrâneos aos holofotes.
Nascido em agosto de 1911, sua participação ativa na história se iniciou em 1952, quando ingressou na ESG, dando início a uma relação estreita e profícua. Em 1954 redigiu o Memorial dos Coronéis, estímulo à demissão do ministro do Trabalho, Jango, e o Manifesto dos Generais, contra o próprio presidente Vargas. Em 1955, foi um dos articuladores da “novembrada”, movimento que visava a impedir a posse do presidente eleito JK e seu vice, Jango, o que o levou à prisão.
Nomeado para o Conselho de Segurança Nacional do governo Jânio Quadros, foi surpreendido pela renúncia do presidente e movimentou-se amplamente pelo impedimento da posse do vice Jango. Foi dele a idéia de oferecer a Goulart a Presidência sob regime parlamentarista, solução de compromisso finalmente aceita. Já na reserva, passou a liderar o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes), e ligou-se ao Instituto Brasileiro de Ação Democrática (Ibad) e ao Movimento Anticomunista na intensa conspiração contra o governo.
Com o sucesso do golpe de 1964, foi nomeado por Castelo Branco chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), com status de ministro. Juntamente com Geisel, tinha grande influência sobre o presidente, mas caiu no ostracismo durante o predomínio da linha-dura, que chegou ao poder com Costa e Silva, e foi trabalhar na filial brasileira da multinacional Dow Chemical em 1969.
Retornou ao poder em 1974, na Chefia do Gabinete Civil de Geisel. Na condução da transição transada, cujo ritmo queria aumentar, realizou muitos contatos com membros da Igreja Católica e outras lideranças. Para ele, a “distensão política” deveria ter ocorrido ainda no momento de auge do autoproclamado “milagre brasileiro”, diminuindo as resistências da direita e agradando controladamente à esquerda.
Mesmo com as promessas de distensão, o governo Geisel foi palco de graves violações aos direitos humanos, censura e arbitrariedades. Era, em parte, obra da linha-dura, que resistia a qualquer proposta de abertura e criava artificialmente um clima de conspirações comunistas. Mas o grupo no poder não tinha muita convicção na democracia: em 1977, diante da rejeição do anteprojeto do governo, de reforma do Poder Judiciário, o Congresso foi fechado por 14 dias e baixado o célebre Pacote de Abril, mudando no meio do jogo as regras eleitorais e buscando garantir o controle do processo de auto-reforma.
Golbery aconselhava a “distribuir pauladas à esquerda e à direita”, mas também a demonstrar boa vontade para com ambos, como em 1978, quando ocorreu a revogação do AI-5, o restabelecimento do habeas-corpus para crimes políticos, a anistia aos cassados 10 anos antes. Acreditava que inimigos deveriam ser enfraquecidos e monitorados, nunca aniquilados, para não fortalecer demais um outro lado nem criar mártires. Guiou-se por essa visão ao conduzir a distensão.
Em 1979, foi reconfirmado no Gabinete Civil pelo novo presidente, João Figueiredo. Sua permanência seria curta: em 1981, divergindo da atuação em relação ao recrudescimento do terrorismo de direita, saiu do governo e ingressou na diretoria do Banco Cidade. Até sua morte, em 1987, aos 76 anos, manteve-se afastado da vida pública. Se bem que “pública” não é o melhor termo para definir sua atuação prática e sua ideologia. Estava a serviço da burguesia brasileira, devotado à busca de uma ideologia voltada a responder conservadoramente aos problemas da realidade nacional.
A quase integralidade da sua teoria baseava-se na questão primária do medo advindo da insegurança da vida humana. Preso a uma angústia existencial, não surpreende que o homem que retrava buscasse a todo custo a segurança que o mundo não lhe oferecia. Assim, explicação hobbesiana, acabou por engendrar uma entidade à qual, em troca de proteção, alienou parte de sua autonomia e de sua liberdade individuais, o Estado.
Para Golbery, nas esferas interna e externa, os intérpretes e paladinos dos interesses nacionais eram os Estados. Este seria um árbitro imparcial, capacitado a decidir com sabedoria salomônica as perigosas divergências que ocorressem no interior do grupo. Também no nível internacional, acreditava, cada um dos Estados criados pelo “raciocínio lógico e escorreito” dos homens busca atingir determinadas aspirações, por vezes contrapostas ou idênticas às de outros povos, o que os leva à luta para fazer valer seus próprios interesses.
Naquela conjuntura de guerra total – a sufocante guerra fria volta e meia se materializava –, os perigos haviam crescido exponencialmente. Falhara a busca de segurança pela criação do Estado e o responsável por isso era o liberalismo, ultrapassado e nocivo, que pregava o Estado abúlico e indefeso. Por isso, para Golbery, tendia a se repetir o escambo liberdade/segurança, agora em condições muito mais perigosas, em face do “antagonismo vital” entre comunismo e capitalismo. Nascia o superleviatã, o organismo político multinacional exigido pelo panorama de guerra total.
Note-se que Golbery buscava transferir a guerra hobbesiana de todos contra todos do âmbito individual para o do Estado – criado justamente para trazer a harmonia. Ao mesmo tempo, apontar essa origem queria transmitir a idéia de que o Estado eliminara os conflitos e diferenças sociais mais graves e representava os interesses de toda uma sociedade – em vez de classes antagônicas, o povo ou, como ele preferia, a nação. O general estava ideologicamente impedido de trabalhar com a idéia de nação dividida, elidindo as divisões sociais em função de uma visão homogeneizante. Por isso o Estado aparecia em seus escritos como um ente abstrato, a-histórico, a quem toda a sociedade serviria.
O nacionalismo também era conceito-base no seu pensamento. Muitas vezes confundida com o Estado, a nação só podia existir em segurança, integrada e em função de aspirações comuns. A segurança nacional estaria garantida quando se barrassem os antagonismos a estes objetivos nacionais. Fortemente influenciado pelo organicismo, Golbery percebia a sociedade como um organismo regido por leis análogas às da natureza, do que decorria que tudo que a fortalecesse era visto como positivo e natural, enquanto perturbações à ordem seriam patológicas. Aperfeiçoar, não transformar, tinha como corolário a radical desconsideração de qualquer forma alternativa de organização social e a abertura para tachar de inimigos internos todos os que abraçassem causas diferenciadas.
Odiava o comunismo materialista, oriental e internacionalista, que se valia traiçoeiramente do nacionalismo das massas para promover os interesses soviéticos. Ao nacionalismo da esquerda ele contrapunha o nacionalismo verdadeiro, maduro, realista e crítico, distanciado da “corruptora histeria demagógica” e cujo campo promissor era a América Latina.
Por outro lado, mesmo repudiando o liberalismo Golbery não defendia o “totalitarismo” de tipo soviético, que teria avançado para além do recomendável na condução da vida de cada indivíduo. A oposição entre liberalismo e “totalitarismo” (ou seja, o comunismo) não se dava, pois, em termos de amplitude da ação estatal, mas de método de controle social.
Para ele, rejeitar o liberalismo não significava abdicar também da essencial liberdade humana, valor inestimável para o Ocidente. No fundamental, contudo, a liberdade não podia ser anulada porque é essencial para a manutenção da ordem e do progresso. Segundo a lei dos rendimentos decrescentes, segurança, liberdade e desenvolvimento mantêm entre si relações estreitas e interdependentes. Os três têm de ser minimamente garantidos, do que depende o equilíbrio do todo e o desenvolvimento de cada um. Por isso o sistema totalitário soviético estaria fadado ao fracasso: o sacrifício da liberdade em nome da segurança, abaixo de certo nível mínimo, tornava-se contraproducente.
Ainda nos anos 50, pondo-se entre o liberalismo inativo e o totalitarismo opressor, propunha como “terceira via” a democracia participativa e o planejamento democrático, instrumentos para transformar o potencial nacional em poder efetivo. Comparava um possível processo de industrialização autônomo à história do Barão de Münchhausen, que teria alçado da areia movediça a si mesmo e ao cavalo que montava puxando-se por um fio de cabelo. A saída: industrialização pelo empuxo externo.
Reputava inevitável o recurso à poupança externa para levar adiante o processo de desenvolvimento nacional num prazo razoável e com maior probabilidade de sucesso. Sua ilusão necessária era empregar capitais externos para tornar o Brasil uma grande potência.
Entendia que o nacionalismo sadio existente em toda a América Latina abolira antigos receios quanto aos Estados Unidos, gerando ressentimentos contrários: o reclamo por ajuda. Entristecia-o opelo fato de os EUA não lerem nas imutáveis massas continentais o destino grandioso do Brasil, que deveriam ajudar a construir. Afinal, o País tinha toda uma série de trunfos, dos quais ressaltava o promontório nordestino, de valor estratégico inestimável para a defesa continental. Além do mais, a soberania brasileira seria ameaçada por ambições colonizadoras, mas pela sua importância geopolítica para o mundo comunista, que pretenderia daqui armar um ataque fulminante contra os EUA, o que mais nos aproximava deles.
O general reiterava a disposição do País de utilizar essa vantagem em prol dos interesses americanos e da defesa do ocidente contra o imperialismo comunista. Desta forma, a soberania nacional poderia ser objeto de escambo, desde que fosse uma barganha leal: por exemplo, em troca de um subimperialismo regional.
Convocava as nações centrais do mundo capitalista: subtrair os países subdesenvolvidos do âmbito de influência do comunismo insidioso seria oferecer-lhes uma alternativa à estagnação, de um lado, e ao totalitarismo, de outro. Era preciso, dizia, mostrar a vitalidade e a criatividade da democracia na resolução do drama da miséria.
Uma experiência deste tipo só poderia alcançar a devida repercussão se realizada na América Latina – e como a profundidade da intervenção deveria ser proporcional às responsabilidades e compromissos assumidos, no Brasil, representante desta América Latina e dos subdesenvolvidos. Forte, poderoso, estratégico, o País teria importância ímpar para as “imperiosas necessidades de defesa do Ocidente” e poderia se tornar locus de uma sorte de Plano Marshall latino-americano, em cujo espelho as nações subdesenvolvidas de todo o mundo pudessem se mirar e que redundasse em um aumento do desenvolvimento continental.
Não deixa de ser ingênua a pregação pelo controle político do capital e a crença no desenvolvimento subordinado como o caminho para o Brasil-potência. Mas estas foram, grosso modo, as bases sobre as quais se assentou a política econômica da ditadura, não obstante as diferenças específicas com o pensamento de Golbery. As conseqüências desta opção marcaram definitivamente a história brasileira.
Referências bibliográficas:
ASSUNCÃO, Vânia Noeli Ferreira de. O satânico Dr. Go: a ideologia bonapartista de Golbery do Couto e Silva. (1999) Dissertação (mestrado) apresentada à PUC-SP. Disponível em: < http://www.verinotio.org/
COUTO E SILVA, Golbery. Conjuntura política nacional: o poder executivo & Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1981.
GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. O Sacerdote e o Feiticeiro. São Paulo, Cia das Letras, 2003.
MELLO, Leonel I. A. “Golbery revisitado: da democracia tutelada à abertura controlada”. In: MOISÉS; ALBUQUERQUE. Dilemas da consolidação da democracia. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989.
SCHILLING, Paulo. O expansionismo brasileiro: a geopolítica do general Golbery e a diplomacia do Itamaraty. São Paulo, Global, 1981.
http://www.espacoacademico.
O Declínio do Brasil-Nação
Esta é a ironia da história: o Brasil nasce no século XVI como província do colonialismo e ingressa no século XXI como província do globalismo. Depois de uma longa e errática história, através do mercantilismo, colonialismo e imperialismo, ingressa no globalismo como modesto subsistema da economia global. A despeito dos surtos de nacionalismo e das realizações propriamente nacionais, como ocorre principalmente na época do populismo, isto é, do projeto e realizações do capitalismo nacional, ingressa no século XXI como simples província do capitalismo global; revelando-se um caso de dependência perfeita.
Mas vamos por partes. O assunto tem grande importância prática e teórica. Vale a pena refletir criticamente sobre o que está ocorrendo no Brasil, quando se verifica um novo surto de globalização do capitalismo.
O que caracteriza a encruzilhada em que se encontra o Brasil na transição do século XX ao XXI é o abandono e o desmonte do projeto nacional , com as suas implicações político-econômicas e sócio-culturais, e a implantação de um projeto de capitalismo transnacional , com as suas implicações político-econômicas e sócio-culturais. Está em curso a transição de uma nação em província , com a transformação do aparelho estatal em aparelho administrativo de uma província do capitalismo global. Mais uma vez, verifica-se que o Estado pode transformar-se em aparelho administrativo das classes dominantes; neste caso classes dominantes em escala mundial, para as quais os governantes nacionais se revelam simples funcionários.
A encruzilhada aparece como conjuntura critica, coleção de impasses, eleição de perspectivas. Também aparece como uma conjuntura de inquietações e interrogações, antes do que perspectivas e convicções, no que se refere às condições e aos horizontes dos diferentes setores sociais. Aí, indivíduos e coletividades, classes e grupos sociais, partidos políticos e movimentos sociais, sindicatos e correntes de opinião pública, situam-se, movem-se, desesperam-se ou formulam perspectivas. É como se houvesse uma estranha coincidência: a encruzilhada em que se encontra o Brasil parece ser a mesma em que se encontram outros países, todos inseridos na crise que assinala a transição do século XX ao século XXI. Na verdade, essa é uma ruptura histórica de amplas proporções, práticas e teóricas, na qual se encontram os povos e as nações, em escala mundial; todos metidos em um novo surto de globalização do capitalismo.
É possível demonstrar que o modelo de capitalismo transnacional instalou-se por etapas. Nos anos 1964-85 a ditadura militar, consciente ou inconscientemente, destroçou lideranças e organizações políticas comprometidas com o modelo de capitalismo nacional. Nos anos 1985-94 os diversos governos adotaram medidas econômico-financeiras de cunho neoliberal. E desde 1994 o governo empenha-se totalmente na concretização das instituições e diretrizes econômico-financeiras destinadas a completar a instalação do projeto de capitalismo transnacionalizado, segundo as diretrizes teóricas, práticas e ideológicas do neoliberalismo.
Esta é a questão central, se queremos esclarecer quais são os nexos que constituem a encruzilhada na qual o Brasil se encontra na transição do século XX ao XXI: desmonta-se o projeto de capitalismo nacional e instala-se o projeto de capitalismo transnacional. Esse o significado principal da “Reforma do Estado”, compreendendo a criação do “Estado mínimo”, isto é, desregulação, privatização, abertura de mercados, favorecimento de fusões e aquisições de empresas nacionais por transnacionais. Muito simbolicamente o BNDES, que se havia criado de forma a servir à política de industrialização substitutiva de importações, nos moldes do projeto de capitalismo nacional, é reorientado de forma a favorecer a transnacionalização, ou seja, ao desmonte do projeto de capitalismo nacional. Simultaneamente, intensifica-se a privatização dos sistemas de ensino e de saúde, ao mesmo tempo em que se redefinem as relações de trabalho e as condições de funcionamento da previdência, de maneira a favorecer a transformação dessas esferas da “questão social” em espaços de aplicação lucrativa do capital privado, no qual predominam as empresas, corporações e conglomerados trans-nacionais.
Vale a pena examinar alguns aspectos práticos e teóricos do modelo de capitalismo transnacionalizado, também denominado eufemisticamente de “mercado emergente” ou de “industrialização orientada para a exportação”. Esse modelo tem sido apresentado em termos de “Reforma do Estado”, destinada a reinserir ou inserir mais amplamente o Brasil na economia globalizada.
A reforma do Estado, nos termos em que está sendo realizada, seguindo fielmente as diretrizes do Consenso de Washington, isto é, do neo-liberalismo, implica uma redefinição drástica das relações entre o Estado e a Sociedade, e não apenas com a Economia; mesmo porque ambas se constituem simultânea e reciprocamente com os seus ingredientes políticos e culturais. Este é o processo que se acha em curso: o Estado está sendo dissociado da Sociedade; suas relações estão sendo redefinidas; altera-se e rompe-se o metabolismo que se havia desenvolvido entre a Sociedade e o Estado na vigência do projeto de capitalismo nacional.
Desde que se intensificam e generalizam as implicações institucionais, econômicas, sociais, políticas e culturais da Reforma do Estado, ou seja, do desmonte do projeto de capitalismo nacional, com a crescente abertura da economia à transnacionalização, logo se acentuam processos tais como os seguintes.
Primeiro, dissociação crescente entre as linhas principais de atuação do Estado e as tendências predominantes na Sociedade, reconhecendo-se que esta pode ser vista como um complexo de classes e grupos sociais dominantes e subalternos; lembrando-se que os subalternos são a grande maioria do povo.
Cria-se, desenvolve-se e aprofunda-se uma singular dissociação entre o Estado e a Sociedade. Em outras palavras, as diretrizes econômico-financeiras, políticas e culturais prevalecentes no âmbito do Estado são cada vez mais evidentemente alheias às necessidades econômico-financeiras, políticas e culturais da maior parte da Sociedade civil. O povo, enquanto um conjunto de classes e grupos sociais subalternos, é esquecido pelos dirigentes, já que estes estão empenhados em “modernizar”, “racionalizar” ou “dinamizar” as instituições nacionais de forma a intensificar a “inserção” da “emergente” economia na dinâmica do capitalismo mundial. Os governantes, em conformidade com as diretrizes e injunções das estruturas mundiais de poder, isto é, corporações transnacionais, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD) e Organização Mundial do Comércio (OMC), entre outras, empenham-se em “reformar” o Estado e o conjunto das instituições nacionais, com o objetivo de acentuar a acomodação do “mercado emergente” com o mercado mundial.
Uma das conseqüências mais imediatas, evidentes e generalizadas do desenvolvimento intensivo e extensivo do capitalismo global é o crescente enfraquecimento ou mesmo evidente dissolução do tecido social . Formas de sociabilidade que pareciam estabelecidas, entram em crise, perdem vigência, tornam-se anacrônicas ou mesmo dissolvem-se. Em lugar do partido político, do sindicato, do movimento social e da corrente de opinião pública, coloca-se a mídia como um insólito, mas presente, eficaz e ubíquo “príncipe eletrônico”. Muito do que os indivíduos e as coletividades pensam, sentem, imaginam ou fazem relaciona-se direta e indiretamente com a poderosa e ubíqua indústria cultural desenvolvida em âmbito local, nacional, regional e mundial, indústria essa organizada em poderosas empresas, corporações e conglomerados eletrônicos. Em lugar do espaço público, enquanto lugar privilegiado da política, colocam-se os programas de auditório, os eventos da cultura mundial de massa, as competições, osshows , tudo isso crescentemente transnacional.
Em muitos casos, os shopping centers expressam, simbolizam e revelam-se sucedâneos de espaços públicos. Nesses casos, os indivíduos e as coletividades são induzidos a comportar-se de tal modo que o consumismo aparece como uma figuração de cidadania . São muitas as evidências de que as formas de sociabilidade que se conheciam estão sendo drástica e generalizadamente modificadas. Está em curso a expansão das formas de sociabilidade determinadas pelo mercado, o consumismo, a organização sistêmica das estruturas mundiais de poder, a dinâmica empresarial, a lógica do capital, a razão instrumental.
Segundo, a Sociedade civil transforma-se em uma nebulosa em busca de redefinição, já que os partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, correntes de opinião pública, mídia e igrejas que articulam a Sociedade civil são desafiados a dialogar com um governo e aparelho estatal comprometidos apenas ou principalmente com matéria econômico-financeira; sem esquecer o monopólio da violência, por suas organizações policiais, militares e de informação, em geral alheias e adversas aos sentimentos e aos interesses das classes e grupos sociais subalternos. Isto significa que a Sociedade civil está desafiada a rearticular-se sob outras e novas formas, criando o recriando instituições, organizações e reivindicações em condições de expressar diferentes possibilidades de entendimento e emancipação.
É óbvio que amplos setores da Sociedade civil, precisamente os subalternos, ou seja, os que não têm acesso às estruturas “nacionais” e transnacionais de poder, esses setores são levados a um verdadeiro choque: desnorteiam-se e desagregam-se. É como se a Sociedade civil em pouco tempo se tornasse acéfala. Em lugar do metabolismo mais ou menos efetivo que se desenvolvia com o projeto nacional, agora instala-se a dissociação, ou desencontro, devido às diretrizes assumidas pelos governantes, diretrizes essas alheias ou mesmo em contraposição às inquietações e reivindicações da Sociedade civil.
Esse é o clima em que se cria uma situação particularmente problemática para os setores sociais subalternos: precisam reestruturar-se em novos moldes, desenvolver uma nova consciência das suas condições e perspectivas, recriar meios e modos de atuar politicamente; sem saber se ainda lhes restam possibilidades de construir hegemonias alternativas. Desde que o Estado se torna principalmente um aparelho administrativo das classes e grupos, ou blocos de poder, dominantes em escala mundial; desde que as instituições nacionais são reformadas em conformidade com as estruturas mundiais de poder; desde que classes e grupos sociais dominantes já não revelam quaisquer compromissos com a nação, a Sociedade civil, o povo; desde tudo isso, quais poderiam ser as condições de construção de hegemonias alternativas?
Terceiro, dadas as prioridades estabelecidas com as diretrizes neoliberais, ditadas principalmente por FMI, BIRD, OMC e as corporações transnacionais, o Estado transforma-se em um aparelho administrativo alheio à Sociedade, alheio às tendências predominantes no âmbito das classes e grupos sociais que compõem a maioria do povo. Essa é a realidade: o Estado transforma-se em mero aparelho administrativo dos blocos de poder transnacionais. Esse o contexto em que as “elites” governantes aparecem como estranhas e simplesmente administrativas, impondo-se à grande maioria do povo; uma coleção de conquistadores e colonizadores, em geral servidos por intelectuais, cientistas sociais e outros profissionais com todas as características de “brazilianistas nativos”.
Quarto, esta é uma conseqüência mais ou menos evidente: a economia brasileira transforma-se em mera província do capitalismo mundial . Todas as principais decisões que se adotam em âmbito governamental, com sérias implicações em âmbito da vida cotidiana de indivíduos e coletividades, são ditadas principalmente pelas exigências da transnacionalização. Subsistem a sociedade nacional e o Estado, a cultura e a língua, a história e as tradições, os santos e os heróis, os monumentos e as ruínas, mas modificados, deslocados, muitas vezes folclorizados ou emblemas de nostalgias. A parte principal do solo do Estado-nação transnacionaliza-se, torna-se pasto das corporações transnacionais.
Quinto, ainda, este é um fato novo e fundamental, com diversas e profundas implicações nas relações Estado e Sociedade civil: o novo ciclo de globalização do capitalismo solapa as bases econômicas e políticas da soberania e atinge inclusive as suas bases sociais e culturais. A soberania, como instituto jurídico-político nuclear do Estado-nação perde vigência, ou trans-forma-se em uma ficção da retórica política e dos ordenamentos jurídicos, mas sem condições de vigência efetiva na definição de algum projeto nacional, na formulação de diretrizes político-econômicas e sócio-culturais relativas ao nacional; no estabelecimento das condições e possibilidades de tradução das inquietações e reivindicações de setores sociais subalternos em compromissos e diretrizes de governo, das políticas que se adotam no âmbito do poder estatal. É tal a envergadura da transformação qualitativa do Estado-nação, devido às injunções do globalismo, que os governantes já não conseguem mais se apresentar como estadistas; parecem muito mais funcionários dóceis traduzindo para a língua “nativa” o que se dita no idioma das corporações transnacionais e das organizações multilaterais; sendo que alguns parecem figurações de um teatro mundial de títeres.
Diante dessa nova e profunda crise de hegemonia, com suas implicações em diferentes setores da sociedade nacional e comprometendo pela base o Estado-nação, criam-se vários problemas fundamentais, por suas implicações práticas e teóricas.
A sociedade nacional se vê impossibilitada de por em prática qualquer projeto nacional que dependa da vigência efetiva do princípio jurídico-político da soberania nacional. Ao adotar o projeto de capitalismo transnacional, desenvolve-se não só a transnacionalização mas também a alienação de centros decisórios. A despeito da vigência dos aparelhos estatais, dos partidos políticos e sindicatos, bem como da preservação de signos, símbolos e emblemas nacionais, o Estado-nação se torna uma entidade de outro tipo, sem algumas das suas bases econômicas e jurídico-políticas, o que contamina toda a sociedade, ainda que em diferentes gradações; torna-se um aparelho administrativo obrigado a acomodar as condições e exigências da transnacionalização crescente da economia, compreendendo a ampla “liberação” das forças produtivas, esquecendo as exigências de setores sociais subalternos.
Esta é uma lição importante, quando se trata de entender como se realiza a transição do projeto de capitalismo nacional para o projeto de província do capitalismo global: As “elites” dominantes, compreendendo empresariais, militares, intelectuais e do alto clero revelam-se com escasso ou nulo compromisso com a nação, o povo, a sociedade. Organizam-se e movem-se como “elites” enraizadas no poder político-econômico conferido pelos monopólios, trustes, cartéis, corporações e conglomerados transnacionais; algo que vem do imperialismo e impregna amplamente o globalismo. Em sua maioria, os membros dessas “elites”, isto é, classes e grupos sociais dominantes, ou blocos de poder, organizam-se e comportam-se como conquistadores, colonizadores, desfrutadores. Estão inclinados a associar-se com os monopólios, trustes, cartéis, corporações, conglomerados; e inclinados a considerar o país, a sociedade nacional e o povo como território de negócios, pastagem de lucro, ganhos.
Tanto é assim, que definem as fusões e as aquisições de empresas nacionais promovidas pelas transnacionais como “modernização”, “inserção no mercado mundial”, “entrada no primeiro mundo”. Esquecem o agravamento das desigualdades sociais, o desemprego estrutural, a pauperização, a lumpenização. Esquecem a evidente e acentuada dissolução do tecido social , a perda de perspectivas por parte de grandes setores do povo.Parecem utilizar a generalização da violência e do medo como técnicas de criminalização da Sociedade civil , o que ajuda a manter e fortalecer os aparelhos de repressão e de intimidação generalizada de amplos setores sociais; precisamente dos setores empenhados em construir formas alternativas de hegemonia.
Daí o difícil e problemático retorno da questão nacional , o desafio de recriar a Sociedade civil e o Estado, ou levar a Sociedade civil a “educar duramente o Estado”. Trata-se de reavaliar ampla e radicalmente as condições sob as quais se realiza a transição do modelo de capitalismo nacional para o de capitalismo transnacionalizado, reconhecendo-se que o “ciclo” de globalização do capitalismo em curso nesta época cria outras, novas e difíceis condições para a organização e dinâmica do Estado-nação, compreendendo o contraponto nacionalismo e regionalismo, no âmbito do globalismo; compreendendo alianças e ações de setores, grupos e classes subalternos em âmbito transnacional.
Em se tratando de encruzilhada, tendo-se em conta o nacional e o mundial, ou nacionalismo e globalismo, cabe reconhecer que os dilemas com os quais se defronta a sociedade brasileira são semelhantes aos que enfrentam, já enfrentaram ou irão enfrentar outros países. Sob vários aspectos, pode-se afirmar que o que está ocorrendo no Brasil é não só semelhante ao que ocorre em outros, mas exemplar; uma espécie de experimento dos dilemas que se criam com o novo ciclo de globalização do capitalismo em curso na transição do século XX ao XXI; um experimento exemplar de dependência perfeita.
Acontece que os processos e as estruturas político-econômicos mundiais, compreendendo as corporações transnacionais e o FMI, o BIRD e a OMC, entre outras organizações e estruturas de poder, com freqüência atropelam a capacidade decisória de governos e setores sociais nacionais; atropelam soberanias nacionais; criam sérios obstáculos à construção de hegemonias alternativas; satanizam movimentos sociais e correntes de opinião pública com os quais se propõem alternativas destinadas a reduzir e eliminar os efeitos perversos da globalização do capitalismo.
Diante dessa situação, realmente nova e difícil, cabe aos amplos setores sociais nacionais mais prejudicados pela globalização pelo alto reconhecer que precisam mobilizar-se também em escala global, desde baixo, compreendendo as classes e os grupos sociais, ou seja, os setores sociais subalternos. Além das reivindicações locais, nacionais e regionais, cabe reconhecer que há reivindicações que são comuns a amplos setores sociais das diferentes sociedades nacionais, da Sociedade civil mundial em formação. Nesse novo mapa da história, nesse novo palco de lutas sociais denominado “mundialização”, “transnacionalização”, “globalização”, ou mesmo “planetarização”, abrem-se espaços para um novo e difícil “internacionalismo” ou, mais propriamente, uma globalização desde baixo, na qual estão engajados indivíduos e coletividades, classes sociais e grupos sociais, partidos políticos e sindicatos, movimentos sociais e correntes de opinião pública, expressando outras e novas formas de hegemonia.
Este é o dilema: trata-se de globalizar as organizações, reivindicações e formas de lutas dos setores sociais subalternos. Diante da crescente globalização das organizações e decisões dos setores sociais dominantes, dos blocos de poder político-econômico predominantes em escala mundial, não resta aos setores subalternos senão se organizarem, desenvolvendo novas formas de inteligência do que são as relações, os processos e as estruturas que se criam com a globalização; podendo assim formular outras e novas formas de reivindicação e luta em escala mundial. Todas as reivindicações locais, nacionais e regionais, que continuam fundamentais para indivíduos e coletividades, têm sempre alguma ou muita implicação global. As fábricas, os escritórios, os meios de comunicação, os centros decisórios, tudo o que diz respeito ao globalismo está disperso em diferentes países, continentes, ilhas e arquipélagos dispersos no novo mapa do mundo; disperso, mas altamente organizado, em geral altamente organizado e centralizado em cidades globais. Sendo assim, o adequado conhecimento dos processos e das estruturas que constituem e movem o capitalismo global pode ser um primeiro momento da consciência crítica sobre o que e como fazer para bloquear e eventualmente desmontar o tipo de globalização que sataniza a maior parte da humanidade.
_______________________
[*] Sociólogo e professor emérito da Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Autor, entre outras obras, de A idéia de Brasil moderno (Brasiliense), O labirinto latinoamericano (Vozes), Teori
Este artigo encontra-se em http://resistir.info
Em "Imagens do Estado Novo: 1937-1945", o mais recente documentário de Eduardo Escorel, vemos quase quatro horas de imagens impressionantes, e na maior parte oficiais, criadas como propaganda do regime totalitário de Getúlio Vargas.
Resumo PÁGINAS DE HISTÓRIA DO BRASIL: UM ESTUDO DOS LIVROS ESCOLARES DE MANOEL BOMFIM E OLAVO BILAC E AFRÂNIO PEIXOTO
Gisele dos Santos Oliveira Universidade do Estado do Rio de Janeiro giselefloquinho@yahoo.com.br
http://sbhe.org.br/novo/
Este trabalho analisa dois livros de História do Brasil destinado às escolas, sendo um de Manoel Bonfim e Olavo Bilac (Através do Brasil, 1910) e, outro, de Afrânio Peixoto (Minha Terra e minha Gente, 1916). Consideramos esses livros como arquivos, nos termos da proposta metodológica de Foucault que postula que arquivos são todas as sobrevivências material e simbólica constituídas pelas sociedades em determinada época que restaram como existência daquele passado, passível de serem examinadas por pesquisadores em outros presentes. O livro de Manoel Bomfim e Olavo Bilac impresso pela primeira vez em 1910 narra uma aventura vivida por personagens e a ser revivida pelos leitores. O foco de interesse nesse estudo não se incide sobre a aventura, mas a utilidade que os autores prescrevem para o livro. Entre tais prescrições, apontam críticas contundentes à prática do ensino escolar por meio de livros, deixando claro que se filiam a “certa” pedagogia moderna, que propõe encontrar-se na criança algumas peculiaridades que precisam ser desenvolvidas, respeitando o seu tempo e sua maneira de aprender. Ao criticar um dado modelo de ensino que chamam “enciclopedista”, afirmam que a enciclopédia para o aluno é o professor, pois este detém o conhecimento e o método que possibilitaria a aprendizagem infantil. O trabalho de Afrânio Peixoto tem sua primeira publicação em 1916, parecendo ter como perspectiva apresentar algumas figuras revestidas de cunho histórico e heroico na formação do Brasil. O investimento narrativo foi tomar o uso de personagens históricos como exemplo em diferentes épocas da história nacional, pouco importando o regime político em vigor. O autor deixa ver em sua escrita não ser partidário de posição nacionalista extremada, procurando articular o modelo americano de educação à prática pedagógica brasileira, se afastando da tradição francesa utilizada por Manoel Bomfim e Olavo Bilac. Considera a pedagogia americana ponto central para o desenvolvimento intelectual e prático da nação. Em Bomfim e Bilac pertencer ao Brasil passa pela experiência de conhecer o sertão e sua potencialidade, os heróis da aventura são as próprias crianças, personagens e seus leitores. Nesse sentido, ser brasileiro consiste em estar articulado aos interesses de progresso industrial e ao que deveria ser considerado nacional, como é o caso do Rio São Francisco. Em Afrânio, por sua vez, o que adquire relevo é a dimensão continental, pois a preocupação se desloca do Brasil para a América. Para ele, os povos americanos, em suas diferenças, precisavam conhecer a experiência americana, sobretudo a norte-americana, exemplo de desenvolvimento, civilização e de educação. Afinal, que história pátria ensinar? Nesse arquivo plural o que aparece são narrativas concorrentes, uma apontando para o próprio do Brasil e outra apontando para aquilo em que o Brasil poderia se tornar.
Palavras chave: Modernidade, Historiografia da Educação, Livro Didático
Introdução Este artigo faz parte da pesquisa de mestrado em História da Educação no Brasil, está sendo desenvolvido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seu recorte temporal se encontra entre 1896 e 1920, porem em virtude da tentativa de entender certos movimentos referentes à História da Educação Brasileira poderemos proceder a deslocamentos que possibilitem alargar esta demarcação temporal, tanto para anos anteriores quanto para períodos posteriores aos informados acima, tendo em vista que discussão acerca da produção de livros no Brasil não se encontra datada dentro do limite temporal estabelecido por esta pesquisa. Nosso foco de interesse são os livros de leitura produzidos para a educação infantil por Manoel Bomfim1 e Olavo Bilac2 (Através do Brasil, 1910) e Afrânio Peixoto3 (Minha Terra e Minha Gente, 1916). Estes materiais impressos representam para nós arquivos, segundo a proposta metodológica de Foucault, que entende arquivo como toda sobrevivência material e simbólica de tempos pretéritos, carregados de informações que nos fazem apesar da distancia entre o passado e o presente, compreender a discursos através de práticas de investigações históricas que nos permitem entender e encaminhar os interesses diversos, porem conviventes, existentes em todas as sociedades, possíveis de serem analisados em outros presentes. Aproximar-nos-emos do trabalho de Lajolo e Zilberman4 , em que tratam da produção de livros didáticos no Brasil, algo possível somente após a chegada da corte em 1808, já que até então era vetado à colônia produzir qualquer tipo de material impresso, bem como a circulação de outras obras consideradas perniciosas a segurança e controle exercidos pela metrópole portuguesa nas terras de alem mar situadas na América, fosse esses escritos provenientes de Portugal ou fora de suas fronteiras. Utilizar-nos-emos de alguns memorialistas e suas participações em disputas pela produção de livros didáticos e por seus métodos de aprendizagem de leitura e escrita comentados pelas autoras que, muito nos elucidaram sobre a temática que aqui tratamos. Lajolo e Zilberman, também discutem os aspectos econômicos presentes em sociedades capitalistas, entendendo-os como o principal foco de interesse das elites letradas em criar gráficas e matérias impressos para obter grandes lucros no mercado destinado a materiais escolares. Porém não desacreditando dessa possibilidade, preferimos pensar na existência da experiência e a insatisfação dos autores de livros com o lugar que ocuparam, enquanto alunos e, naquele momento com o lugar que ocupavam no interior da instrução pública expressa por eles de forma negativa. Lajolo e Zilberman apresentam as produções didáticas trazidas do reino como sendo colocadas em posição superior às produzidas no Brasil, bem como os seus escritores com seus métodos e certezas de que eram capazes de alfabetizar rapidamente e com sucesso as crianças do Brasil, algo que posteriormente não era verificado pelos relatórios referentes ao ensino na época. Essa nossa observação não significa que discordamos que a produção e comercio de material impresso escolar, não tenha sido um grande alvo de um mercado em expansão, formado após a autorização de estabelecimento de matérias gráficos no tempo histórico por nós recortado. Mas apontar para outros interesses que emergiam a partir da nova configuração que a modernidade didática impressa produzia no interior das relações sociais. Já que formar público leitor era também contribuir para o desenvolvimento de mercados consumidores ávidos por leitura a nova modalidade cultural nas diferentes províncias. Mas também possibilitava destaque e reconhecimento qualitativo para os intelectuais nacionais, ou seja, status social. Manoel Bomfim e Olavo Bilac, Afrânio Peixoto, bem como outros autores participaram ativamente desse ambiente da “Belle Époque” do Distrito Federal, como discute Mallmann em sua dissertação defendida em 20115 , participam, cada um a sua maneira da transformação do ambiente cultural pela via escolar na capital da República, o instrumento de transformação utilizado é a escrita de livros, o trabalho como professores, a proximidade do governo, principalmente quando ocupam cargo de Diretor da Instrução Pública e tem a possibilidade de materializar suas ideias referentes aos métodos de aprendizagem a serem utilizados pelos professores na tarefa de alfabetizar o maior número possível de crianças, um trabalho difícil agravado pelo longo período de parcos investimentos na instrução pública da época. Faremos, então, um estudo comparativo entre as diferentes preocupações dos autores dos dois livros destinado à infância escolar (Através do Brasil 1910) e (Minha terá Terra e Minha Gente 1916), e sua importância para a introdução do Brasil no campo das nações civilizadas, mesmo que esta nação ainda fosse vista com preconceito de inferioridade pelos intelectuais europeus, e muitas vezes brasileiros. Bomfim e Bilac 4 se preocupam não em contar uma História do Brasil, mas em fazer que os estud
se preocupam não em contar uma História do Brasil, mas em fazer que os estudantes através de uma estória de aventura se identifiquem como brasileiros a parir do sertão que não se destaca da cidade, mas juntos formam uma única nação. Afrânio Peixoto, também nacionalista prefere perceber o Brasil como participante da América, portanto possuidor de algumas singularidades com seus vizinhos, mesmo com os americanos do norte, pois estes funcionam como um exemplo a ser seguido. O livro de Peixoto é um livro de narrativa histórica e heroica que, diferente dos dois primeiros autores, este busca a origem histórica de um Brasil que possa ser glorioso. Manoel Bomfim e Olavo Bilac: a reedição do livro de leitura para crianças Trabalhamos neste artigo com a produção de Manoel Bomfim e Olavo Bilac que foi reeditada e, organizado pela professora Marisa Lajolo, professora titular de teoria e literatura da Unicamp, contou com o apoio do CNPq e da FAPESP junto ao projeto intitulado Memória da Leitura. Ao final do livro encontramos a descrição de como foi possibilitado a confecção da obra no século passado. Esta obra foi composta pelo estúdio O.L.M. em Agaramond, teve seus filmes gerados no bureau 34 e foi impressa pela geográfica em off-set sobre papel pólen soft da Companhia Suzano para a editora Schwarcz em abril de 2000. Este relato nos remete a dificuldade encontrada na atualidade de reproduzir um trabalho do início do século passado que precisa ser preservado em sua primeira materialidade, como documento referente a História da Educação Brasileira. Essas praticas deixam a ver uma rede de pertencimentos, de esforços e a dedicação de alguns intelectuais ao criar uma memória para o Brasil como um país de leitores, mesmo que em pequena escala e esses estiveram preocupados, em ver transformada a realidade de um povo que durante pelo menos 300 anos ficou a margem de políticas publicas de educação, e que em praticamente cem anos esteve buscando instruir com a leitura e a escrita um quantitativo maior de pessoas que se reconhecesse como alfabetizadas.
Ao final do livro temos uma bibliografia atualizada, até a época da reimpressão do trabalho de Bilac e Bomfim que pode nos levar a ver parte dos trabalhos que foram feitos sobre os autores e sua articulação ao campo educacional. O livro faz parte de uma Coleção intitulada Retratos do Brasil, sendo a décima sétima e última reimpressa até aquele presente. Fizeram parte do conselho editorial Antonio Candido, João Moreira Sales, Lilia Moritz Schuarcz e Maria Emília Bender. Na folha de rosto, no alto da página vem impresso o nome dos autores Olavo Bilac e Manoel Bomfim, ordenação dos escritores diferente da escolhida por nós, que temos sempre nos referido a Bomfim como primeiro autor, seguido por Bilac. Logo abaixo aparece em letras pequenas a destinação do trabalho “Prática da Língua Portuguesa”, em itálico em letras maiores o nome do livro Através do Brasil, logo abaixo vem escrito: narrativa. Percebemos com isso o campo disciplinar ao qual a reimpressão do livro está articulada. O que nos deixa ver que um mesmo trabalho pode ser visto e revisto por diferentes leituras servindo a diferentes campos do saber, algo que provavelmente foi impensado por seus autores à época de sua publicação. Isso, como dissemos em nosso trabalho anterior, apresentado no VI CBHE, o torna um Documento Monumento, e um indicativo da importância que lhe tem sido conferida pela atualidade, no sentido de preservação de sua Memória e de sua História dentro dos limites de uma disciplina.·. Na parte destinada a catalogação da obra encontramos descrito o projeto gráfico da capa do livro e, em tom verde esfumaçado temos a imagem da Cachoeira de Paulo Afonso, óleo sobre tela de E.F. Schute, 1850, Pernambuco. Essa ilustração difere bastante da que foi utilizada na 2ª e 4ª edição, que tinha na capa ilustrado uma imagem do espaço urbano em que pessoas se encontravam6 . São oitenta e dois capítulos de aventura, compostos de três a quatro páginas; Antes temos a introdução, a cronologia de Olavo Bilac e a cronologia de Manoel Bomfim. Compondo parte da estória temos algumas páginas dedicadas a Advertência e explicação. Finalizando há o vocabulário e a bibliografia dos dois autores, totalizando quatrocentas e vinte e quatro páginas impressas somadas a estas, temos também as duas orelhas do livro que trazem alguns dados sobre a obra e a organizadora. Afrânio Peixoto: Minha Terra e Minha Gente 6 O livro traz à capa no alto o nome do autor destacados po
O livro traz à capa no alto o nome do autor destacados por dois traços sublinhados, as palavras que compõe o título do livro tem as primeiras letras em maiúsculas. Logo abaixo existe um mapa da América, tendo nomeadas as nações que fazem parte do continente americano do sul, onde ocorreram as diferentes colonizações Ibéricas, dando destaque ao mapa do Brasil que se encontra pintado, se constituído, enquanto representação da Bandeira Nacional Brasileira, à direita abaixo do Brasil simbólico está escrito “Esta é a ditosa pátria minha amada”, depois desta frase, em letras maiores, vem o nome Camões. Essa escolha deixa clara a sua filiação a origem portuguesa da pátria e a sua formação literária. Autor e livro estão ligados a Livraria Francisco Alves – Rio de Janeiro – S. Paulo – Belo Horizonte, o nome das cidades aparecem em letras menores. Existe também a identificação de outras duas livrarias: Ailaud e Bertrand, ao final a localização dessas ultimas aparecem citadas as cidades de Paris – Lisboa – 1916 (ano de publicação). Após a capa, vem a informação Typ. Aillaud, Alves &C.ª – Lisboa. Na segunda página vem novamente o nome do autor e obra, como referido anteriormente, logo após o do título do livro uma nova frase: “Eu desta Gloria só fico contente que minha terra amei e a minha gente”. Abaixo desta vem o nome – Ferreira. Antecipando o que pretende com esse trabalho Afrânio Peixoto deixa um destaque, que poderíamos chamar de introdução, mas de tão curto nos causa dúvidas: Os brasileiros oscilam, ordinariamente, entre um desenganado pessimismo e um otimismo ridículo... ...Pareceu, pois ao autor, a novidade útil, escrever para as crianças de sua terra um livro sincero, sem reservas nem veemências, no qual procurasse sobre os problemas essenciais da nossa nacionalidade dizer-lhes verdades necessárias. A educação cívica há de ser feita com o conhecimento da causa, as razões do patriotismo, buscadas nas origens e nas tradições, continuadas na história da formação nacional... O índice apresenta três capítulos: o primeiro As Origens, assim como todos os outros três capítulos se subdivide em cinco pontos, que possuem entre dez e quinze páginas impressas. O segundo capitulo: A Formação Nacional; o terceiro capitulo: Da emancipação política para a economia. O livro chega ao final com duzentas e trinta páginas impressas.··
Manoel Bomfim e Olavo Bilac, Afrânio Peixoto: estória e história para a formação de crianças leitoras na Capital da República Ao nos aproximarmos de Lajolo e Zilberman vimos responder a pergunta que muito nos intrigava a respeito da forma como foi escrito (Através do Brasil 1910), em que os autores alem de trazerem a proposta de um livro de leitura para crianças tinham também a preocupação de instruir os mestres para essa tarefa. Muitas respostas fizeram parte de nossas possibilidades, mas sempre ficava alguma lacuna. Até que ao estudar, os depoimentos escritos, produzidos por alguns escritores brasileiros no final do século XIX e princípio do século XX e reescritos pelas autoras no século passado, levou-nos a perceber semelhanças entre esses intelectuais e os três que ora trabalhamos. Arriscamos dizer que eles foram os primeiros alunos das escolas instaladas nos momentos políticos da colônia que envolve a chagada da família real portuguesa ao Brasil e posteriormente nos governos dos dois impérios. Esses autores tecem críticas ácidas a esses lugares de instrução e alguns objetos da cultura material escolar que fizeram parte de suas experiências históricas, como, a presença, sempre ameaçadora da palmatória. Também se referem da língua portuguesa às leituras difíceis de serem compreendidas em virtude de a gramática ser a mesma que era praticada em Portugal, que pouco tinha a ver com o português utilizado no Brasil. A partir disso, traçam comparações entre o prazer da leitura encontrado em algumas obras e o enfado causado pela leitura dos clássicos, entendidos pelas autoridades escolares como necessário ao bom aprender da leitura, porem estes livros eram repugnados pela maioria dos alunos. Os estudantes apesar dessas experiências negativas aprendiam a ler, e exerciam essa prática, através de livros proibidos que liam dentro dos muros da escola ou fora dela, de forma clandestina, que segundo os mesmos foram importantes para sua formação de gosto pela leitura e por aquele mundo de aventura distante dos deles. A partir desses relatos entendemos que esses alunos quando adultos foram tomados pelo desejo de reformar a escola, a leitura e os materiais didáticos envolvidos com a atividade de ensinar a aprender a ler e escrever. Vejamos o que nos trás Graciliano Ramos: Foi por esse tempo que me infligiram Camões no manuscrito. Sim senhor: Camões em medonhos caracteres borrados – e manuscritos. Aos sete
anos no interior do Nordeste, ignorante da minha língua, fui compelido a adivinhar em língua estranha, as filhas do Mondego, a linda Inês, as armas e os barões assinalados. (LAJOLO. ZILBERMAN. 1999, p. 204) 7 A presença de Camões e dos clássicos portugueses marca a aprendizagem dos escritores, que relembram ora positiva, ora negativamente a influência sofrida. Assim, as restrições que escritores portugueses inspiravam a alguns autores brasileiros em virtude de suas manobras pela conquista da gorda fatia do ralo mercado disponível para o livro didático, somam-se as carrancudas e não poucas vezes literalmente dolorosas lembranças dos primeiros contatos com as armas e os barões assinalados... Mas talvez a literatura portuguesa pagasse as contas de uma monotonia que não era dela e sim da escola brasileira do século XIX... sua maciça presença na sala de aula como que ocupa (Indevidamente?) o lugar que os primeiros historiadores de nossa literatura tinham sonhado reservar para as letras nacionais. (LAJOLO. ZILBERMAN. 1999, p. 206) Com relação à citação acima podemos dizer com certeza que os autores Bomfim e Bilac, e Peixoto têm reconhecimento positivo sobre a aprendizagem que receberam na escola, através dos estudos de formação de leitores a partir da leitura de Camões e outros Clássicos da literatura portuguesa. Bomfim deixa isso bem claro em A América Latina Males de Origem (1903): O progresso geral continua; agora, é a ciência, a filosofia, o estudo direto da natureza, e, enquanto outros povos mantêm participando do progresso científico e artístico do século, a península declina. No correr do século XVII e do XVIII, a Ibéria que havia dado ao mundo Cervantes, Camões, Murílo, Lopes de Veja, Ribera... desaparece... degenera; não se vê um só nome espanhol ou português entre os homens que fundam a cultura moderna e dominam a natureza, ou aqueles que refazem a filosofia racionalista, que iluminara as gentes na conquista da justiça e da liberdade... (BOMFIM, 2005, p. 61) E em Peixoto sua filiação aos literários portugueses fica clara nas epígrafes que introduzem seu livro, Minha terra e Minha Gente (1916), uma frase retirada de Camões “Esta é a ditosa pátria minha amada” e outra de Ferreira “Eu desta Gloria só fico
contente que minha terra amei e a minha gente”. É perceptível também em sua escrita sua filiação histórica a história como mestra da vida e o que espera que seu trabalho venha acrescentar na educação dos pequenos brasileiros: O que nos cumpre hoje é preparar, hoje, o Brasil de amanhã. Educar o brasileiro de agora para lhe dar uma consciência de si e, portanto, dar a todos uma consciência nacional. Mostrar-lhes suas origens de espírito e civilização para que as preze as saiba honrar; as suas origens mesológicas e etnográficas para que saiba conhecer e aperfeiçoar. Contar-lhe a sua história, ou a moralidade da sua história, para que do passado algum bem possa colher e aplicar, com proveito no presente e prevenção no futuro. Modelar-lhes a ênfase, desiludir-lhes as utopias, corrigirem os desdém das realidades práticas, para que não sejam discursadores vãos, poetas e escrivinhadores visionários, parasitas das classes improdutivas que vivem do orçamento e tornam difícil a vida dos que trabalham. (PEIXOTO, 1916, p. 228-229) Em Bomfim e Bilac o foco de interesse se coloca em contar uma estória de aventura que crie nas crianças o desejo da leitura, de viver cada momento, com os personagens, como se fizessem parte daquela história, aprendendo assim uma “história” do Brasil sob os passos do livro de leitura e, do auxilio do professor, pelas diretrizes que traça para o livro com certeza não era um trabalho de literatura, porque tinha objetivos bastante definidos e de acordo com a autoridade pedagógica 8 da escola e do professor: ...Quando a pedagogia recomenda que as classes primárias elementares não tenham outro livro além do de leitura, não quer dizer com isso que nesse livro único se incluam todas as noções e conhecimentos que a criança deve adquirir. (BOMFIM. BILAC. 2000, p. 44) ...Alem de servir de oportunidade para que o professor possa realizar suas lições, o livro de leitura deve conter em si mesmo uma grande lição... Estamos certos de que a criança, com a sua simples leitura, já lucrará alguma coisa: aprenderá a conhecer um pouco o Brasil; terá uma visão, a um tempo geral e concreta, da vida brasileira. (BOMFIM. BILAC. 2000, p. 46)
Com a instalação do regime republicano os intelectuais envolvidos com as propostas de instrução e de criação de material didático pensam estar diante de um grande momento histórico capaz de em curto prazo resolver a situação critica da educação no Distrito Federal e também no país como um todo. “O novo regime adota medidas educacionais auspiciosas, criando em 1890 a Secretaria de Estado dos negócios da Instrução pública”, (Lajolo. Zilberman, 1999, p. 154), porem essa medida pouco auxilia na veiculação dos projetos educacionais da intelectualidade que agia nas escolas como professores de crianças ou como professores de professores. A rede de docentes, não só no Rio de Janeiro estava insatisfeita com o mal desenvolvimento de seu trabalho. Eles acreditavam plenamente que o desenvolvimento da leitura e escrita era o “carro chefe” na atividade de ensino e aprendizagem, mas esta estaria prejudicada, pela falta de investimentos esperados, o que fazia com que se continuasse em uso as antigas cartilhas e materiais didáticos desatualizados, geralmente vindos de Portugal que aquele momento era o maior concorrente na produção e veiculação de livros destinados a escola no Brasil. O discurso nacionalista se pautou na maioria das vezes nas representações de diferenças nem sempre tão claras com relação ao uso de livros de leitura que viessem a instruir as crianças, de forma que realmente suprisse a carência da aprendizagem almejada, já que esta se fazia mais pela falta de material didático para todos do que de alguma deformidade séria quanto ao material usado. Caricatura e Educação na modernidade do Rio de Janeiro Depois de apresentar os dois livros em sua forma e discursos de seus autores para o uso adequado do material que produziam, nos cabe proceder a leitura dos aspectos nacionalistas presentes nos dois trabalhos, o primeiro, (Através do Brasil 1910) situa os limites de um programa de educação para o conhecimento do nacional, enquanto algo particular que, toca toda nação em seus vasto território. E o segundo (Minha Terra e Minha Gente 1916), se propõe alargar essa nacionalidade para as diferentes nações que compõe o Continente Americano, já iniciando tal tarefa quando apresenta na capa do livro um mapa da América Ibérica. Nenhuma menção a cidade do
Rio de Janeiro, ou a Distrito federal como lugar de produção cultural característico de sua modernidade em particular, já que buscam criar e conservar para o Brasil a sua unidade. Os Impressos produzidos são modelos de pedagogias modernas, buscam ser material de formação social e cultural da infância. Em Bomfim e Bilac, a estória da aventura se concentra no sertão e não na vivencia cotidiana das crianças no ambiente citadino. E em Peixoto se dá a construção histórica e heroica da nação Brasil partindo de uma origem e indo ao encontro do progresso econômico liberal. E neste caso tanto Bomfim e Bilac, como Peixoto parecem usar de estratégias parecidas para se protegerem dos discursos e das críticas que nascem na rua, nos becos, nos cafés da sociabilidade carioca. Qual o perigo existente no Rio de Janeiro que os levava a buscar em outras histórias as diferentes maneiras de instruir as crianças da modernidade da capital da República? Que lugar ocupava a modernidade carioca na produção do conhecimento sobre a sociedade? Esses impressos não importando muito quem eram seus autores criavam opinião e podiam entre a comunidade letrada criar verdades contrárias ao discurso de ordem buscado pelo Estado ao mesmo tempo no plano econômico concorriam ainda mais com os outros materiais colocados a venda no mercado editorial. Ao ler o trabalho de Veloso (1996), pude enriquecer o questionamento sobre a vontade instrução dos autores de livros referente ao público infantil e a formação de professores e as dificuldades para lidar com o novo alunado moderno e com os impressos caricaturistas daquela época que sempre apareciam como um incomodo. Os intelectuais da modernidade carioca estavam, em sua maioria, envolvidos com produção artísticas e literárias que criticavam a República. Seus lugares de sociabilidade eram os cafés, a rua espaço aberto em que criavam e recriavam a imagem da cidade, da ciência das autoridades de forma divertida e caricatural. Ocupavam um lugar de reconhecimento cultural marginalizado, embora suas críticas pudessem ser vistas e refletidas pela população que acompanhava a impressa da época. “É patente nesses autores a ideia de pensar a cidade e, por extensão, o próprio país através de suas ruas”. Essas se apresentam como espaço pleno de significado, gerador de formas culturais inéditas, revelando uma população que se mantinha desconhecida aos olhos da república modernizadora. O Submundo, a marginalidade, a boemia e as ruas constituem espaços expressivos para se
pensar a modernidade brasileira, notadamente a do Rio, onde a exclusão social seria vivenciada de forma mais aguda. (VELLOSO,1996, 29) Os intelectuais ligados a instrução pública, partidários da pedagogia moderna buscam exatamente a saída desse cenário desregrado para um lugar de normas, de apresentação da representação de uma sociedade civilizada. O livro escolar vem contar outra história que não está nas ruas, mais partem dos laboratórios científicos, em que criações e pensamentos construídos nos séculos XVII e XVIII, são relidos reelaborados para compor o progresso anunciado no século XIX. Nesse sentido tanto Bomfim e Bilac, como também Peixoto se aproximam da máquina governamental para por em prática seus projetos de instrução pública que só podem se tornar reais se financiados pelos governos que se sentem também incomodados com a instrução e aprendizagem que partem dessa intelectualidade de rua, lugar de desordem que precisa ser reformado. Não por acaso é no momento da reforma da cidade que os intelectuais médicos, se aproximam do campo da educação aparecem como grandes colaboradores do estado nessa tarefa de higienizar a cidade. A caricatura criada para esse momento é bastante elucidativa da guerra aberta nos discursos intelectuais. As obras públicas de remodelação e saneamento do Rio de Janeiro são acompanhadas com desconfiança, ironia e tiradas de humor. Na época, são inúmeras as caricaturas em que se criticam as medidas de higiene decretadas por Oswaldo Cruz. Ironizando o caráter autoritário da medida que determinava a vacinação obrigatória, Kalixto veste Oswaldo Cruz com roupagem absolutista de Luis XIV. Substituindo o cetro real pela vassoura e a espada pela seringa, o caricaturista põe na boca do personagem a seguinte fala “Le Tas c’est moi!” (O Malho, 19-3-1904) Era preciso que medidas de segurança fossem tomadas para reverter esse gosto pela caricatura da vida nacional, principalmente quando se trata de ridicularizar a ciência em sua vertente mais importante a época para o aquele país: a questão da higiene e do controle de doenças graves que muito vitimizavam sociedade. Parece sugestivo que os envolvidos com as questões de produção didáticas para a escola e para a infância foram homens que pertenciam as ciências médicas ou tiveram vinculo próximo com ela, como é o caso de Manoel Bomfim e Afrânio Peixoto, que eram médicos e Olavo Bilac que era filho de médico, cursou algum tempo Medicina,
desistindo desta, forma-se em Direito e investe na produção de impressos escolares, na literatura e na imprensa popular, através de atividades jornalísticas da época, atuando também na política da Instrução Pública o que certamente favoreceu a nossos autores a publicação e uso de seus livros impressos, nas escolas do Distrito Federal. Considerações Este trabalho apresentou uma pequena reflexão sobre a confecção e impressão de livros didáticos no Brasil a partir da leitura de dois trabalhos destinados a educação escolar da infância no distrito federal entre os anos de 1910 e 1916, embora nosso recorte temporal seja desde 1896 até 1920. Isso se deu porque os autores envolvidos Manoel Bomfim e Olavo Bilac, bem como Afrânio Peixoto tiveram participação no ambiente letrado vinculado a Instrução Pública no Distrito Federal dentro desse limite temporal por nós recortado. Importância deste material para a História da Educação no Brasil e em particular no Rio de Janeiro, demonstrar sua inserção no campo da produção de cultura Material escolar, tendo o livro didático como um importante arquivo dos interesses particulares e de Estado para a confecção desse material que todos nós conhecemos, durante longos anos de escolarização e que sabemos não tem sido sempre o mesmo. Para nossa formação seu destaque se dá na medida em que nos permitiu uma aproximação mais detida, ainda que apresente falhas, do que seja um livro em sua formatação diagramação e interesses envolvidos através dos discursos que carregam. Foi bastante útil perceber como dois livros, aparentemente tão distante tiveram pontos de encontro e sucesso muito próximos em virtude da complementação que um pareceu fornecer ao outro. Através de suas filiações que sem o estudo e a pesquisa não seria possível perceber. Esses investimentos nos faz muito crescer e desejar que venham as novas etapas da vida e da pesquisa e da aprendizagem objeto sempre almejado em direção do desconhecido que esses arquivos podem nos possibilitar enxergar. Algumas questões continuaram em suspenso por falta de tempo e espaço para fomentar a discussão. Não foi discutido como previsto a questão da importância da
filiação de Afrânio Peixoto a America do Norte, em particular os Estados Unidos, que pareceu fazer parte de seu texto. Isso parece a primeira vista um ponto fraco do trabalho, mas olhando com outros olhos, é possível que possamos em outro momento apresentar alguma reflexão que preencha esse vazio deixado neste artigo.
Referencias AGUIAR, Ronaldo Conde. O Rebelde Esquecido: tempo, vida e obra de Manoel Bomfim. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. BOURDIEU, Pierre. PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução: elementos para uma teoria do sistema do ensino. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. FOUCAULT. Michel. Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. LAJOLO, Marisa. (org) Através do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. ____________. ZILBERMAN, Regina. Livros didáticos, escolas, leituras. In: A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 1999. MALLMANN, Marcela Cockell. Manoel Bomfim: um intelectual polêmico e engajado na Belle Époque tropical (1898-1914). 2011. 130 f. Dissertação (Mestrado em Educação)-Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2011. VELLOSO, Monica Pimenta. Modernismo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996.
CRISTOVAM BUARQUE
Aqui as duas partes da entrevista de Roberto D´Ávilla com Cristovam Buarque. Tem coisas excelentes aqui, especialmente quando ele conta como nasceu o Bolsa Família ou fala da educação: "Falta capacidade de escandalizar o Brasil com a falta da educação."
Parte 1: https://www.youtube.com/
Parte 2: https://www.youtube.com/
GN Roberto D'ávila 2016-04-20 Cristovam Buarque - Parte 1
GN Roberto Davila 2016-04-20 Cristovam Buarque - Parte 1
Você está aqui: Página Inicial Sociedade A realidade política brasileira
A realidade política brasileira
O Brasil foi constituído a partir de uma fraca noção de identidade pública e sob a batuta de interesses privados muito fortes. É um estado forte demais para conceder favores e fraco demais para estabelecer os limites entre o público e o privado.
publicado 01/06/2011 10h11, última modificação 01/06/2011 11h10
http://www.cartacapital.com.
Por Leonardo Avritzer
O Centro de Referencia do Interesse Público (CRIP) reúne um conjunto de professores da Universidade Federal de Minas Gerais das áreas de ciência política, filosofia e história que partilham um diagnóstico sobre a realidade política brasileira. Na nossa opinião, o Brasil foi constituído a partir de uma fraca noção de identidade pública e sob a batuta de interesses privados muito fortes. O nosso estado é um estado forte demais para conceder favores e fraco demais para estabelecer com clareza os limites entre o público e o privado, especialmente para os poderosos. Fenômenos como o que assistimos na semana passada, de um ministro da Casa Civil afirmar que fez aquilo que todos fazem, isso é, negociou informações e acesso privilegiado ao estado com grandes grupos econômicos, são parte do dia a dia da política brasileira. É verdade que a opinião pública se indigna com razão a cada um destes episódios, mas a verdade é que a sua raiz reside em aspectos quase estruturais da cultura brasileira. Uma incapacidade de construir uma noção forte daquilo que é público na política.
O CRIP pretende tratar acadêmica e politicamente dos fenômenos da corrupção e da organização da Justiça no Brasil. No que diz respeito à corrupção, temos aplicado anualmente, desde 2008, pesquisas de opinião sobre o problema, tentando produzir medidas de longo prazo e comparativas sobre o fenômeno, algo que inexiste hoje no país. Ao longo destas pesquisas, três resultados importantes foram revelados: o primeiro deles é que a população brasileira na sua esmagadora maioria (73%) acha a corrupção um fenômeno grave ou muito grave; o segundo é que a população não acredita que a corrupção aumentou durante os últimos anos – que ocorreu foi que ela passou a ser mais investigada, especialmente pelas operações da Polícia Federal; e em terceiro lugar, a população identifica corretamente que a instituição que mais abriga a corrupção é o Poder Legislativo, com os Legislativos municipais capitaneando o processo.
Vale a pena comentar alguns destes resultados. De fato, a população brasileira aumentou a sua atenção e a sua rejeição à questão da corrupção nos últimos anos. No entanto, têm faltado à população os meios para melhorar a qualidade do sistema político brasileiro. Estes podem vir ou através de iniciativas da sociedade civil ou através de mudanças na legislação e aprimoramentos institucionais que impliquem em melhorias no controle da corrupção. Dentre as diferentes iniciativas que são possíveis, uma se destaca devido à sua origem na sociedade civil: a proposta da lei da ficha limpa. É sabido que o Brasil tem uma das concepções mais estapafúrdias do mundo acerca da presunção da inocência pela via do assim chamado “transitado e julgado”. Até recentemente, a condenação de um político em três instâncias do Poder Judiciário não tinha absolutamente nenhuma conseqüência em relação às suas ações, ou seja, ele continuava livre e podia ser candidato. A Justiça não produzia praticamente nenhum efeito em relação às ações dos políticos, especialmente em relação àqueles que se habilitam ao foro especial. A ficha limpa veio com a intenção de modificar este estado de coisas. Ela propôs a impossibilidade de concorrer a um mandato depois de uma primeira condenação em segunda instância.
A importância desta lei não pode ser subestimada quando cruzamos com a percepção da população sobre a corrupção. A percepção da população, corretamente, é que a corrupção tem maior incidência no Poder Legislativo. Os problemas tratados pela ficha limpa restringem as candidaturas principalmente a este Poder. Esse pode ser um bom início para uma agenda que interessa aos membros do Centro do Interesse Publico e que estaremos discutindo neste Fórum que é: quais modificações podem fazer com o sistema político brasileiro se torne menos corrupto? Sabemos que algumas mudanças podem ajudar como é o caso da mudança nas regras de financiamento de campanha. Mas não temos ilusões. É preciso mudar a maneira como o Judiciário brasileiro funciona para que a corrupção no país diminua. Esse é o segundo tema que pretendemos tratar neste fórum.
A questão do papel do Judiciário na sociedade brasileira é bastante complexa. Até 1988, era o mais fraco dos três Poderes e o que menos se afirmava frente ao Executivo. Depois de 1988, o judiciário recuperou fortemente suas prerrogativas, ao mesmo tempo que o Congresso Nacional continuou a perder as suas. Hoje há um forte processo de judicialização no país firmemente calcado no artigo 102 da Constituição e sua regulamentação posterior, que ampliou fortemente os atores que podem arguir a inconstitucionalidade, incluindo desde a OAB, aos partidos e associações de classe. Assim, ocorreu um forte aumentou do conjunto de questões que chegam ao STF para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Ao mesmo tempo, a Constituição não alterou fortemente a estrutura de privilégios e recursos que, como sabemos, entrava o Judiciário brasileiro. Pelo contrário, o uso recorrente do Judiciário por certo atores, especialmente pelo próprio Estado e grandes atores econômicos torna a Justiça brasileira muito lenta e permite a impunidade, que é hoje uma das grandes preocupações da sociedade brasileira. Sabemos que em janeiro de 2011 o estoque de ações no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo alcançava a marca de 18 milhões de processos, entre os quais 10 milhões ligados à execuções fiscais municipais, uma grande parte delas de baixo valor. A incapacidade do Poder Judiciário de responder aos reclamos da sociedade contra a impunidade, em particular, contra a impunidade daqueles que cometem crimes contra o erário público, é hoje uma das maiores ameaças à legitimidade das instituições políticas no país.
Vale a pena analisar algumas iniciativas que podem ter um impacto positivo, tanto no combate à corrupção quanto na impunidade geral que graça em relação aos membros do sistema político. Trata-se da lei da ficha limpa e da assim chamada “emenda Peluso”. Em ambos os casos, trata-se de revisar fortemente a ideia do transitado em julgado brasileiro de maneira que condenações de segunda instância tenham de fato efeito e penas comecem a ser cumpridas. No caso da ficha limpa, vale a pena perceber que ela expressa uma tentativa da sociedade civil brasileira, através do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral de intervir no processo político de modo. Neste caso, trata-se não apenas de romper com uma tradição de impunidade que, no caso do sistema político é mais ampla, devido à lentidão adicional causada pelos forus especiais, como também de qualificar uma dimensão mais republicana do Estado. O critério para alguém ser candidato e servir ao poder público deve estar além da simples dúvida processual a qual cabe um recurso. Há no “ser candidato” ou no “ser membro do sistema político” uma dimensão de responsabilidade com o dever público que a lei precisa contemplar. No caso da emenda Peluso, a questão mais importante é fazer com que um padrão mínimo de igualdade penetre no funcionamento do sistema de justiça no Brasil impedindo que aqueles que têm acesso a bons advogados possam se manter indefinidamente em liberdade, independente da culpa. O caso Pimenta Neves, finalmente resolvido recentemente, é o melhor exemplo da utilização do sistema de Justiça com o objetivo da impunidade.
O membros do CRIP, Centro de Referência do Interesse Público, irão no fórum, que ora instalamos em parceria com a Carta Capital, tratar destas questões a partir de perspectivas plurais, envolvendo a ciência política, a filosofia, a história e os estudos sobre cultura. A cada semana um dos membros do CRIP e ou parceiros que têm trabalhado conosco nas nossas principais publicações – Reforma Política no Brasil e Corrupção: Ensaios e Crítica – irão ocupar o fórum para tratar de um destes problemas levantados acima na perspectiva do Interesse Público. Acreditamos que o fórum constitui um excelente momento para o estabelecimento desta parceria que pretende aprofundar temas que frequentemente são abordados pela imprensa, mas não são aprofundados. Estes artigos terão como objetivo aprofundar o debate público sobre os temas do controle da corrupção e do acesso ao Judiciário. Sendo assim eles pretendem reforçar uma tradição de jornalismo independente e bem informado que tem sido a marca da revista “Carta Capital”.
Editora Unesp
"Emília Viotti da Costa foi uma pioneira na compreensão da história colonial brasileira, principalmente na compreensão da república e do pensamento autoritário do Brasil." Confira a homenagem de Marilena Chaui à historiadora.
http://ow.ly/9RvQ300qvhI
Marilena Chaui presta homenagem à Emília Viotti da Costa
Mário de Andrade visita Adorno
Por Henry Burnett
Dossiê CULTURA BRASILEIRA
HTTP://WWW.REVISTATROPICO.COM.
Convergências e divergências entre o poeta e o filósofo a respeito da indústria cultural e da música popular
O titulo desse texto joga com um dado pouco mencionado quando estudamos a música popular brasileira sob o foco da filosofia da música de Theodor Adorno: a posição contemporânea ocupada por ele e Mário de Andrade.
Causa estranhamento que ainda não se tenha escrito um estudo de fôlego sobre eles, já que refletiram sobre música a partir de uma mesma preocupação, mais exposta em Adorno e um pouco mais nuançada em Mário: a hegemonia do capitalismo. Basta pensar que suas análises musicais partem justamente da música popular veiculada através dos discos e das rádios comerciais1. A despeito dessa proximidade inequívoca, eles permanecem isolados e desconectados. Embora existam muitos pontos de contato, gostaria de tomar apenas um em especial aqui, e ainda assim apenas como o resumo de um estudo mais aprofundado que está em curso: o olhar que ambos lançaram sobre a música popular.
Para que se possa pensar sobre os caminhos atuais da música popular no Brasil, os ensaios de Adorno ainda permanecem incontornáveis e fundamentais, ainda que, de um certo ponto de vista, se possa considerá-los limitados para dar conta do sentido mais profundo que a canção popular atingiu no seio da cultura nacional – o estilo adquiriu entre nós um nível lítero-musical jamais presenciado ou imaginado pelo alemão. Mas Adorno dedicou especial atenção à música em muitos de seus textos, livros e conferências, pois sempre acreditou que ela deveria ser discutida dentro dos círculos da filosofia e da sociologia acadêmica; por isso ele nos é imprescindível.
Mário de Andrade, por sua vez, desenvolveu importantes análises a respeito da música brasileira num momento paralelo à própria formação de uma musicalidade nacional. Suas análises, ainda hoje, são de extrema importância para quem se debruça sobre a história e a teoria da arte musical popular e erudita, ainda que sua visão a respeito da então nascente música comercial possa ser criticada em muitos pontos, como pelo nacionalismo por vezes exacerbado com que lidou com os domínios do folclore, imaginando ser possível quase domesticá-lo para fazer dele a fonte das criações eruditas. Ao aproximá-los, tentaremos mostrar que, de modos diversos, ambos estiveram preocupados com os destinos da música popular, ainda que tenham chegado a lugares completamente diferentes.
A música popular para Adorno
Quando Adorno escreve o prefácio ao livro Filosofia da nova música, de 1948, ele mesmo destaca o ensaio “O Fetichismo na música e a regressão da audição”, de 1938, como um momento determinante de seus estudos sobre a música2. Sua intenção no texto de 38 era apontar as modificações que a percepção musical sofria no interior da indústria cultural, alterações que teriam atingido não só o gosto como a própria faculdade de audição dos ouvintes modernos.
Esse texto, junto com outro do mesmo período, “Sobre música popular” (escrito com a colaboração de George Simpson, com quem Adorno trabalhou no The Princeton Radio Research Project, uma pesquisa sobre os fenômenos musicais das emissões radiofônicas nos Estados Unidos, na qual tomou parte convidado pelo pesquisador Paul Lazarsfeld3) serve de base para este comentário.
Sempre que Adorno escreve mais diretamente sobre música e indústria cultural, faz questão de marcar uma diferença entre a música popular e a chamada música clássica, que ele chama de “séria” (“serious music”). Tal posição, não significa uma parcialidade sua em proveito de uma música erudita que seria hierarquicamente superior à popular, antes parece ter sido gerada pela uniformização dos estilos veiculados nas rádios comerciais, que ele conhecia desde antes do exílio, ainda na Alemanha. E mais do que isso: o conceito de popular utilizado por Adorno, parece vinculado de forma muito estreita ao funcionamento e à especificidade do mercado norte-americano.
A bem da verdade, o que Adorno chama de popular não tem um correspondente similar no Brasil, como afirma Rodrigo Duarte: “Registra-se aqui uma confusão, que não é normalmente feita por Adorno nos textos em alemão, entre ‘música de massa’ e ‘música popular’. Para um norte-americano parece quase impossível fazer essa distinção, já que a autocompreensão dos EUA como uma cultura própria, independente da européia, se dá às vésperas da consolidação dos monopólios culturais. No Brasil, ainda podemos, felizmente, diferenciar -pelo menos em termos parciais- a cultura popular mais enraizada, daquela totalmente fabricada para o consumo, ainda que tenha raízes supostamente populares”4.
A representação mais clara desse processo de decadência da música popular para Adorno era o jazz. Num pequeno texto chamado “A indústria cultural” ele tenciona um pouco mais essa distinção: “A indústria cultural é a integração deliberada, a partir do alto, de seus consumidores. Ela força a união dos domínios, separados há milênios, da arte superior e da arte inferior. Com prejuízo para ambos. A arte superior se vê frustrada de sua seriedade pela especulação sobre o efeito; a inferior perde, através de sua domesticação civilizadora, o elemento de natureza resistente e rude, que lhe era inerente enquanto o controle social não era total”5.
Esses primeiros movimentos servem para indicar alguns pontos de contato entre a abordagem de Adorno do contexto norte-americano e a ligação disso com a canção popular do Brasil. O que aproxima, às vezes estreitamente, a perspectiva de Adorno da nossa é a abrangência global e, quase sempre, atual de suas observações. Vejamos: “Se perguntarmos a alguém se ‘gosta’ de uma música de sucesso lançada no mercado, não conseguiremos furtar-nos à suspeita de que o gostar e o não gostar já não correspondem ao estado real, ainda que a pessoa interrogada se exprima em termos de gostar e não gostar. Ao invés do valor da própria coisa, o critério de julgamento é o fato de a canção de sucesso ser conhecida de todos; gostar de um disco de sucesso é quase exatamente o mesmo que reconhecê-lo”6.
No artigo já citado de Iray Carone, encontramos o seguinte: “O negócio da música envolvia, como uma complexa indústria, os editores dos ‘sheets’ ou partituras com arranjos instrumentais e letras do sistema Tin Pan Alley, os donos de orquestras e arranjadores, as gravadoras de discos, os cantores famosos e suas editoras privadas, os ‘pluggers’ (promotores comerciais de músicas), os ‘disc jockeys’ e a prática da ‘payola’ (suborno usado pelas gravadoras para a divulgação intensiva de músicas na programação radiofônica) das emissoras, os interesses da máquina de produção de filmes sonoros de Hollywood etc.”7.
O cenário norte-americano que Adorno tinha diante de si não parece servir como parâmetro para um entendimento adequado do que se passou por aqui na mesma época. O resultado dos processos culturais específicos do Brasil não pode se posto à luz das análises de Adorno desconsiderando questões pontuais; uma entre tantas delas, o fato de que aqui não se produz música séria na mesma proporção que a popular por carências musicais, mas que o cancioneiro popular é hegemônico por conta de um imperativo histórico.
O que está aqui, digamos, para além de Adorno, é o papel diferenciado que as canções populares ocupam no Brasil, seu poder de emancipação, enquanto agente político que foi em momentos chave da história recente do Brasil, já distanciam nosso cenário daquele vislumbrado por ele. Mas isso Adorno não podia saber.
Quando ele reflete sobre o jazz, parece vê-lo apenas como fruto daquele processo de padronização, o que parece restritivo, mesmo que pensemos apenas no contexto americano. Ele não atribui, ou não pôde atribuir, quase nenhuma importância ao cancioneiro popular e nem ao jazz produzidos na América. Em alguns momentos, é muito difícil dialogar com Adorno nesse quesito, como diante de uma afirmação dessa natureza: “Seria igualmente cômodo ocultar a separação e a ruptura entre as duas esferas e supor uma continuidade, que permitiria à formação progressiva passar sem perigo do jazz e das canções de sucesso aos genuínos valores da cultura”8.
Creio que nós, que invocamos Adorno buscando nele um antídoto contra a opressão atual exercida pela indústria sobre o cancioneiro popular do Brasil, nos sentimos órfãos.
Mario de Andrade e um projeto de Brasil
Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De sopetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.
Não vê que me lembrei lá no norte, meu Deus!
/muito longe de mim,
Na escuridão ativa da noite que caiu,
Um homem pálido, magro de cabelo escorrendo nos olhos
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.
Esse homem é brasileiro que nem eu...
(Mário de Andrade, “Descobrimento”, de “Dois Poemas Acreanos”)
O poema, de certa forma, mostra que Mário caminhou na contramão de Adorno quando estudou e tentou caracterizar a música popular em geral. Ele já sugere no poema que o Brasil é muito maior que a cidade de São Paulo -e, portanto, maior que o louvor da sofisticação trazida com o capital e os ideais de progresso sem freios- e que o essencial para qualquer projeto de país, já naquele momento, passava pelo entendimento de nosso não-lugar, isto é, de nossa condição multicultural: “Cabe lembrar mais uma vez aquilo do que é feita a música brasileira. Embora chegada no povo a uma expressão original e étnica, ela provêm de fontes estranhas: a ameríndia em porcentagem pequena; a africana em porcentagem bem maior; a portuguesa em porcentagem vasta (...). Além dessas influências já digeridas temos que contar as atuais. Principalmente as americanas do jazz e do tango argentino. Os processos do jazz estão se infiltrando no maxixe. Em recorte infelizmente não sei de que jornal guardo um ‘samba macumbeiro, Aruê de Changô’ de João da Gente que é documento curioso por isso. E tanto mais curioso que os processos polifônicos e rítmicos de jazz que estão nele não prejudicam em nada o caráter da peça. É uma maxixe legítimo. De certo os antepassados coincidem...”9.
Como se vê, desde muito cedo, Mário não estava alheio aos fenômenos de massa e compreendia com lucidez onde e como esses fenômenos agiam sobre a música popular do Brasil. Suas observações, fruto de grande erudição e das viagens que ele empreendeu e organizou país afora, mostram que, desde as origens, nossa música foi alimentada por uma teia de influências de grande complexidade. Essa aproximação da canção popular com o jazz, por exemplo, muitas décadas antes que se desse o mesmo vínculo através da bossa nova, mostra que já havia uma tendência comercial na produção popular, mas que essa ligação entre entretenimento e boa música ainda não era uma relação excludente.
Com isso, se quer confirmar, com Adorno, que o modo de produção capitalista foi avassalador, mas que, contra ele, a arte musical no Brasil não foi abatida como, eventualmente, se deu nos EUA, se acatamos sua análise sem restrições críticas. Mas como é quase consensual, a despeito das diferenças entre o jazz e os ritmos brasileiros na primeira metade do século XX, Adorno não parece ter enxergado devidamente a importância e o significado histórico do gênero nos EUA.
A resistência de Adorno ao jazz pode ser interpretada de várias formas. Em 2003 foi publicado o livro de Christian Bèthume, “Adorno et le jazz - analyse d’um dèni esthétique”. Na resenha do livro, Iray Carone fornece uma hipótese interessante: “Adorno começou a escrever sobre o jazz na Alemanha, onde conheceu o ‘jazz craze’ da República de Weimar: uma verdadeira onda de jazz de segunda mão, uma música de dança, porque os alemães não tinham condições econômicas para lá trazer os seus criadores norte-americanos e tampouco importar os seus discos. Por causa dessa particularidade histórica, o que circulava na Alemanha sob a etiqueta ‘jazz’ era apenas um sucedâneo redutor, uma música de salão, feita de cadências militares e reminiscências folclóricas”10.
1 - De Mário de Andrade, um bom exemplo pode ser encontrado na edição de sua discografia comentada: Toni, Flávia Camargo (Org.). “A Música Popular Brasileira na Vitrola de Mário de Andrade”. São Paulo: Sesc São Paulo/ Senac São Paulo, 2004. De Adorno, podemos citar, por exemplo, sua pesquisa no “The Princeton Radio Research Project”, que comentarei mais adiante.
2 - Adorno, Theodor. "Philosophie der neuen Musik”. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003, pág. 9.
3 - Sobre o envolvimento de Adorno nesse projeto de pesquisa sobre o rádio nos EUA, ver o artigo de Iray Carone. “Adorno e a música no ar: the princeton radio research project”. Em: “Tecnologia, Cultura e Formação... Ainda Auschwitz”. São Paulo: Cortez Editora, 2003.
4 - Rodrigo Duarte. “Teoria Crítica da Indústria Cultural”. Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 192.
5 - Adorno, Theodor. “A Indústria Cultural”. Em: “Adorno”. São Paulo: Ed. Ática, 1986, págs. 92-3.
6 - Adorno, Theodor. “O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição”. Em: “Benjamin, Habermas, Horkheimer, Adorno”. São Paulo: Abril Cultural, pág. 165.
7 - Carone, Iray. “Adorno e a Música no Ar: The Princeton Radio Research Project”. In: “Tecnologia, Cultura e Formação... Ainda Auschwitz”. São Paulo: Cortez Editora, 2003, págs. 82-3.
8 - “O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição”, pág. 169.
9 - Andrade, Mário de. “Ensaio Sobre a Música Brasileira”. São Paulo: Ed. Martins, 1962, pág. 25.
10 - Iray Carone. “A obsessão pelo jazz”. São Paulo: caderno “Mais”, “Folha de S. Paulo”, 2003.
MPB E FILOSOFIA
Hugo Allan Matos[1]
Neste último semestre concentrei minha reflexão além de meu tcc[2] em temas que versam sobre filosofia brasileira.Sobretudo, no assunto: há filosofia e filósofos brasileiros? Agora, inspirado nas aulas e reflexões geradas na disciplina de mesmo nome, tendo como objetivo comentar os 4 textos indicados em uma aula intitulada como:conversas com filósofos brasileiros, tentarei compartilhar um pouco do resultado desta reflexão “semestral”.
Antes de abordar o tema filosofia brasileira, penso ser primordial dizer o que penso ser a filosofia. Filosofia, ao meu ver[3] é uma forma de vida, de existência, que têm por meio o conhecimento (teórico-práxico) e fim a prática cotidiana. Ou seja, filosofia é um modo de existência que tem por mediação o conhecimento – histórico e atual, teórico e prático[4] - e têm seu fim único de transformar a realidade para melhor, visando a reprodução de vida e a denúncia de morte. Sim, pode parecer maniqueísta ou outras coisas, mas não vejo outra definição legítima que contrarie esta dada por mim acima. Pois, a finalidade última de qualquer Ser é a vida, é viver. Nunca soube de alguém que quisesse morrer, até nas experiências bem próximas de suicídio que tive contato, ocorreram pela privação de vida digna e portanto, não por vontade de morte. O Ser humano é ser para a vida, para a existência. Isso parece muito óbvio, mas penso que tratar do óbvio seja uma das funções da filosofia, pois ultimamente esta e outras afirmações tão óbvias, não são consensuais ou comuns.
Dada esta definição de filosofia como meio[5] de transformação social, desejo exemplificar algumas implicações que já percebo quanto à atitude filosófica. Historicamente não conheço um só filósofo que foi ileso em seu pensar, que não sofreu criticas, perseguições e muitas vezes fora morto por causa de sua filosofia. Quanto mais fora do sistema vigente – e contraditórias a ele – eram suas afirmações, maior parece que fora o que chamarei aqui de suarecompensa filosófica. Sócrates bebeu a sicuta, Cristo fora crucificado, muitos medievais morreram, alguns modernos tiveram privações sociais e até de saúde[6] e ainda hoje: o descaso, falta de reconhecimento, perseguições e críticas…
Assim, posso começar a rumar para o assunto central desta reflexão: diante desta definição de filosofia e de filósofo, o que seria uma filosofia brasileira? A filosofia é universal. Ou seja, se dá do particular para o universal. E se o particular é em âmbito local, sempre partindo da experiência concreta, pessoal do filósofo, o universal último da filosofia é o fim que enunciamos como visar a reprodução[7] da vida e a denúncia da morte.
E quando falo de uma filosofia brasileira, estou falando de uma filosofia autêntica que trate da reprodução da vida e denúncia da morte no – ou a partir do – Brasil. Ora, muitas vezes esta afirmação que já deve ter sido realizada por outros, pode gerar espanto, mas a filosofia, ao meu ver, sempre foi assim. O que faziam os tidos como clássicos:Platão, Sócrates, Aristóteles, e todos os que vieram antes deles, inclusive os egípcios, mesopotâmios, etc…? Ainda que não possa chamar o conhecimento existente antes do grego de filosofia – mesmo este tendo contribuído enquanto pré-história necessária para o tal nascimento dela – e depois foi cruelmente negado e esquecido na história do ocidente – mas, desde então, passando pela Grécia, mundo antigo, medieval, modernidade e ainda hoje, o que têm feito a filosofia autêntica se não a utilização do conhecimento teórico-prático para transformar a sociedade para “melhor”? E aqui entro nesta discussão qualitativa e subjetiva do termo melhor. Melhorar a sociedade, no que tange melhora da qualidade de vida nas relações dos sujeitos enquanto indivíduos, enquanto sociedade que interagem consigo, entre sí e com a natureza.
Se ainda não deixei claro, penso que uma filosofia autenticamente brasileira deve ser antes de tudo ética. Porque sua elaboração estará mediada pela tradição filosófica eurocêntrica e a baixa auto-estima intelectual brasileira que está acostumada com a idéia de que os brasileiros não possuem asas metafísicas. E se assim realmente for, este problema passa a ser um problemão porque nos remete a estas duas questões concomitantes:
O que a tradição eurocêntrica representa para o Brasil? Em uma só palavra: opressão! Sim, pois nos destituíram do que éramos, da nossa cultura, de nosso ser[8] e quiseram e querem nos impor o que devemos ser, desde nossa língua até nossa religião. Roubaram e roubam nossas riquezas e nos mantêm escravos de sua cultura.
O segundo problema, ao meu ver, é bem pior. Existe uma classe intelectual no Brasil, que hoje ainda é a classe hegemônica, que acha que não temos capacidade de pensarmos por nós mesmos, respondendo aos nossos problemas e dedicam suas vidas intelectuais à repetição desta tradição opressora, legitimando e perpetuando a opressão em nosso meio. E como esta classe é a que está à frente das grandes universidades do país, nos jornais e na midiogarquia[9] em geral, as tentativas de pensamentos autenticamente brasileiros são encobertos, rejeitados, etc.
Portanto, uma filosofia brasileira, penso eu, deve dar conta destes dois momentos: negativo e positivo, eticamente. Negativo enquanto negação da identidade eurocêntrica imposta a nós e assimilada em geral. E positiva enquanto propositora de caminhos que melhorem a reprodução da vida dos brasileiros em suas diversas dimensões. Desta forma, o diálogo com a tradição eurocêntrica enquanto pré-história de uma filosofia brasileira é mais positivo que negativo, pois são séculos de conhecimento e portanto de instrumento teórico-práxico. Contudo, para o momento positivo desta filosofia brasileira, esta pré-história pouco têm a contribuir, pois se a Europa se constituiu a partir da negação do anterior constituindo-se enquanto único ser possível subsumindo o Outro[10] enquanto objeto, nós, nos constituímos sendo este Outro, oprimido, aniquilado e subsumido por eles. Agora que estamos conseguindo ao menos gritar que somos tanto quanto eles, não podemos ignorar nossa constituição e “querer dar o troco” simplesmente ignorando-os. Pois repetiríamos parte do erro ontológico que eles cometeram: dizer que nós somos e eles não. O contrário, podemos dizer-lhes: vocês erraram e nós poderemos errar em outras coisas, mas não nisso. Permitindo assim, a alteridade[11] em nossa filosofia, ou seja, acredito que o diálogo com a tradição filosófica eurocêntrica de forma ética seria reconhecer os avanços positivos que houveram e tentar avançar a partir deles na resolução de nossos problemas. A filosofia dusseliana da libertação faz isso de forma esplêndida em âmbito Latino Americano e penso que é um ótimo ponto de partida para pensar uma filosofia brasileira.
Desta forma, o texto do padre Vaz[12] é positivo no sentido de mostrar o posicionamento do intelectual, comointelectual orgânico[13], que apesar de engajado, não está vinculado a partidos ou ideologias específicas, é livre, mas nunca neutro, pois não existe neutralidade possível. Já no texto de Wilson Martins[14] gostei de algumas coisas, como por exemplo da diferenciação de filosofia no Brasil e Filosofia do Brasil, todavia, não me ficou bem claro sua definição se é que pretendeu uma, de filosofia. Já sobre a Marilena Chauí, comentando sua entrevista à revista Caros Amigos em novembro de 2005, revista número 104, mostra claramente o oposto do padre Vaz que ainda que seja um filosofar é inautêntico por estar claramente vinculado e à serviço de uma instituição: o partido dos trabalhadores, só pra citar, totalmente diferente da postura que têm Frei Beto, que apesar de auxiliar e até ter ocupado um cargo “no partido”, não deixou-se aprisionar a ele hoje é um dos maiores críticos deste. Finalizando esta reflexão, o texto do Olavo de Carvalho[15], sobretudo em sua definição do que é filosofia me provocou bastante. Mas, penso que ele radicaliza muito e de certa forma dogmatiza[16] quando diz que não há um filósofo na academia. Primeiro que é uma generalização apressada e esse é um princípio básico muito útil a nós. Depois que partindo de nossa definição de filosofia, a academia, assim como a educação – mesmo neste sistema que está aí – são dois ótimos veículos para o “ensino” – ou prática - da filosofia. No fim, concordamos que hoje, deve haver mais filósofos fora da academia que nela. E pra não deixar esta brecha sem comentar: uma filosofia brasileira pode sim, ser ensinada, sobretudo e principalmente com a atitude filosófica dos filósofos que a ensinam.
[1] Estudante de filosofia na UMESP, autor do blog HTTP://reflexaoaltera.
[2] Que tem como tema uma introdução à Filosofia da Libertação de Enrique Dussel
[3] Esta é a definição que cheguei até hoje, com 27 anos, pode ser que não seja a mesma pra sempre, pois acho que como todos os outros conceitos, não existe um só que necessariamente permaneça o mesmo sempre.
[4] Conhecimento prático pode ser o relato de um povo, modo de viver de alguém, cultura, estética, etc.
[5] Que traz implícita o filósofo que se doa por opção e/ou vocação a realizá-la.
[6] Não só física, mas mental também
[7] Reprodução enquanto melhorar e ampliar a vida, o que implica sinteticamente na relação entre os sujeitos e deles com a natureza.
[8] Indígena-agricultor, religioso, etc…
[9] Mídia hegemônica que pertence à oligarquia brasileira
[10] O Outro enquanto diferente do que os Europeus são. Ainda hoje é assim que o eurocentro se mant6em enquanto “centro do mundo”, apesar de estar em crise e decadência.
[11] Neste sentido, uma filosofia brasileira deve ser áltera: não dogmática, analética, que não emita verdades.
[12] http://www.padrevaz.hpg.ig.
[13] Ao menos esta é a interpretação que faço do intelectual orgânico de Brecht
[14] http://www.secrel.com.br/
[15] http://www.olavodecarvalho.
[16] Acho que nenhum dogma soa bem na filosofia
http://www.consciencia.org/
Edição crítica celebra 80 anos de "Raízes do Brasil"
SYLVIA COLOMBO ilustração LUCAS ARRUDA
07/08/2016 = ACESSO 08 AGOSTO 2016
RESUMO Edição crítica de 80 anos de "Raízes do Brasil" expõe mudanças feitas por Sérgio Buarque de Holanda na obra e permite ampliar debate sobre ela. Clássico da historiografia tem entusiastas, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e críticos, como o cientista social Jessé Souza.
"Era no mínimo estranho que um livro tido como um dos principais da historiografia brasileira não tivesse sua história esmiuçada", diz à Folha o professor de literatura da Universidade de Princeton Pedro Meira Monteiro.
O pesquisador organizou, com a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, professora da USP e também da universidade norte-americana, a edição crítica de "Raízes do Brasil" [Companhia das Letras, 520 págs., R$ 94,90, R$ 44,90 em e-book], de Sérgio Buarque de Holanda (1902-82), lançada agora em comemoração aos 80 anos da publicação original da obra.
O volume, que traz nova introdução e novos posfácios à obra, será lançado em São Paulo com evento nesta segunda-feira (8), às 19h, no teatro Eva Herz, da Livraria Cultura (av. Paulista, 2.073, tel. 11-3170-4033). O lançamento do volume inaugura as comemorações de 30 anos da Companhia das Letras.
A edição traz o texto atual de "Raízes do Brasil", ou seja, a última edição que o historiador aprovou em vida, publicada em 1969, mas também mostra as alterações pelas quais passou através das quatro edições que a precederam. O comovente caderno de imagens –veja galeria– é um exemplo. Expõe o modo como o autor insere, corta e retifica títulos e trechos inteiros do texto, em algumas partes com rabiscos ou apontamentos à mão, noutras batendo à máquina parágrafos colados nas páginas em que deveriam ser inseridos.
"As mudanças que Sérgio Buarque fez não foram nada cosméticas, ele foi realizando uma varredura no livro. É um livro vivo, consideravelmente alterado por três décadas", diz Schwarcz.
A alteração mais marcante se dá entre a edição original, de 1936, e a segunda, de 1948.
"Quando foi publicado, 'Raízes' continha uma dose importante de desconfiança em relação às grandes teses liberais", explicam, na introdução, os organizadores. Essa desconfiança fundamentava-se no contexto histórico que a região vivia. Sérgio Buarque sentia um "desconforto" com os "caudilhismos" latino-americanos e não acreditava que uma visão mais impessoal da política pudesse derrotar o personalismo que então predominava na América Latina.
Essa visão, porém, alterou-se profundamente no cenário da segunda edição do livro, em 1948, quando o autor, nas palavras de Monteiro, "exorciza a desconfiança que tinha do pacto liberal da década de 30". "E a razão é clara, já não se podia mais manter o texto daquela forma num contexto pós-Segunda Guerra."
As mudanças dessa versão mostram que Sérgio Buarque não quis deixar nenhum indício que justificasse uma acusação de que fosse um "antiliberal". "Raízes", a partir de então, penderia de forma decidida, e radical, para o lado da democracia.
DEBATE AMPLIADO
Essa é uma das novas discussões que a edição crítica propõe, ampliando o debate sobre a obra, que nos últimos anos se reduziu ao que Sérgio Buarque, afinal, teria querido dizer ao conceber o brasileiro como "homem cordial".
Primeira edição de "Raízes do Brasil" (1936)
1 de 3
Divulgação
AnteriorPróxima
·
·
·
O conceito rendeu uma polêmica que se prolongou por décadas, mas que pode ser resumida assim: na edição original, o historiador paulistano justificava que a cordialidade, como herança de nosso passado rural e ibérico, significaria a prevalência da importância das relações pessoais e afetivas sobre os modos mais impessoais de regras de funcionamento da sociedade. Dessa forma, favorecia o surgimento dos compadrios e da força do "pistolão". Sugeria que, à medida que o país se urbanizasse, o "homem cordial" morreria.
Foi então que o poeta Cassiano Ricardo abriu fogo contra a ideia, interpretando a cordialidade como uma "técnica da bondade", relacionando-a a uma ideia de polidez.
Sérgio Buarque respondeu, em carta incorporada às edições seguintes, a partir da terceira (1956). Explicou que a cordialidade tinha tanto a ver com a bondade como com a inimizade e que o homem cordial era o contrário do homem polido, por ser avesso a rituais públicos e por cultivar grande intimidade na atividade política.
Diante da seriedade que a contenda tomou, não se imaginaria que o historiador a enfrentaria com tal bom humor, tentando baixar seu nível de estridência: "Confesso sem vergonha, e também sem vanglória, que não me sinto muito à vontade em esgrimas literárias". E acrescentava: "Não me agarro com unhas e dentes à expressão cordial, que mereceu objeções. Se dela me apropriei foi à falta de melhor".
Para Monteiro, falta ainda fazer uma genealogia da questão da cordialidade a partir de um ponto de vista latino-americano. Ele lembra que o próprio Sérgio Buarque usou a expressão lida na correspondência entre Ribeiro Couto e o mexicano Alfonso Reyes (1889-1959), mas que já havia sido identificada em outros escritos. O nicaraguense Rubén Darío (1867-1916), por exemplo, havia se referido ao "homem cordial" latino-americano, em artigo para o jornal argentino "La Nación", ao comentar as repercussões da tomada de Cuba e Porto Rico por parte dos EUA em 1898.
"Entendo que existam críticos da cordialidade que dizem que é uma generalização, mas, como se vê, é uma generalização feita há muito tempo e que segue presente. E as generalizações, ainda que sejam de certo modo uma ficção, têm a função de criar um parâmetro para iluminar a realidade", diz Monteiro.
RADICALISMOS
A edição traz ainda o famoso prefácio de Antonio Candido, incorporado à quinta edição, em 1969, e escrito dois anos antes. Para Schwarcz, o autor de "Formação da Literatura Brasileira" estava "delineando nessa época sua interpretação sobre a importância dos 'radicalismos' na produção intelectual brasileira".
"O termo vinha de raiz e supunha que, mais do que um pensamento conservador, essa era uma forma de os intelectuais nacionais assumirem sempre soluções de compromisso, tendo o Estado para mediar os conflitos. E foi assim que ele definiu o livro de Sérgio Buarque, transformando esse prefácio em um capítulo essencial do livro."
"Raízes" foi publicado inicialmente pela José Olympio, dentro da coleção Documentos Brasileiros, dirigida por Gilberto Freyre (1900-87). Passou para a Companhia das Letras em 1995 e, desde então, vendeu mais de 250 mil exemplares. No fim da vida, Sérgio Buarque chegou a lamentar que "Raízes" ficasse conhecido como sua principal obra, em vez de trabalhos de fases mais maduras, como "Visão do Paraíso" e "História Geral da Civilização Brasileira".
Para Schwarcz, uma explicação possível viria do fato de que "'Raízes' ainda nos assombra, assim como assombrou seu autor, porque vemos até hoje essas ideias de algum modo vivas na nossa sociedade" –"por exemplo no modo como a esfera pública é vista como uma extensão da privacidade e das relações de intimidade".
SYLVIA COLOMBO, 44, é repórter especial da Folha.
Weber e a interpretação do Brasil
http://www.acessa.com/gramsci/
O nível de maturidade de uma universidade, especialmente em uma situação periférica como a nossa, pode ser indicado pela sua capacidade de apropriar-se do pensamento clássico, e, de modo ainda mais seguro, quando a interpelação aos fundadores de uma certa tradição disciplinar não se limita às traduções, mas pretende, por esforço próprio, estabelecer o sentido da sua obra, tal como neste "Seminário Internacional Max Weber". Entre nós, assiste-se a um movimento desse tipo, valendo o registro de que a universidade americana deve muito da sua significação, em particular na área de humanas, à dedicação com que se empenhou nessa direção a partir dos anos 30. Neste seminário, operamos a tentativa de apropriação de um clássico, processo em que, como inevitável, ele como que nasce outra vez, vindo à luz a partir de perguntas e de inquietações sobre a nossa realidade, importando, no caso, a recepção que concedemos a ele no nosso contexto cultural.
Marx e Weber, dos pensadores clássicos das ciências sociais, não somente estão entre os três autores mais citados nas dissertações de mestrado e nas teses de doutorado da disciplina (Melo, 1997), como também se constituem na principal referência da grande controvérsia que anima a literatura sobre a interpretação do Brasil. Contudo, tem predominado, até aqui, um tipo de recepção a eles que enfatiza aspectos parciais das suas teorias, selecionados em função das diferentes motivações dos autores brasileiros que os mobilizam para suas explicações do país. Assim, quanto a Marx, a apropriação que se faz do seu trabalho varia, como se sabe, em função das opções temáticas dos seus intérpretes: a valorização do tema da vontade política como recurso de superação da disjuntiva atraso/moderno, tendo motivado — principalmente nos círculos extra-universitários — uma leitura que privilegiou os seus textos políticos, que contemplavam a possibilidade de saltos revolucionários, dando curso a um marxismo cujo paradigma é a Rússia, enquanto a preferência pela análise do processo de imposição do capitalismo no Brasil, como na grande reflexão social paulista, conduziu a uma maior aproximação com o modelo de O capital com base no paradigma inglês.
O "nosso" Weber tem conhecido uma fortuna similar, uma vez que tem sido convocado pela literatura, predominantemente, para explicar o atraso da sociedade brasileira, com o que se tem limitado a irradiação da sua influência a uma sociologia da modernização. Daí que a mobilização desse autor, pela perspectiva do atraso, se faça associar ao diagnóstico que reivindica a rupturacomo passo necessário para a conclusão dos processos de mudança social que levam ao moderno — no caso, com o patrimonialismo ibérico, cuja forma de Estado confinaria com o despotismo oriental. Tem-se, então, que uma obra radicalmente inscrita na cultura política do Ocidente, com seus valores universalistas, impasses e promessas de realização, seja descortinada pelo ângulo do Oriente e dos caminhos possíveis para a sua modernização. Assim é que o "nosso" Weber incide bem menos na inquirição das patologias da modernidade do que nas formas patológicas de acesso ao moderno.
Weber, como Marx, tem sido, desde os anos 50, quando a ciência social brasileira recuperou a linha ensaística dos pioneiros na interpretação do Brasil, como a de Euclides da Cunha, Silvio Romero, Oliveira Vianna, Caio Prado Jr., Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Hollanda, uma das principais marcações teóricas da produção que se voltou para o objetivo de explicar a singularidade da nossa formação social. Decerto que grande parte da controvérsia, no campo das explicações que concorrem entre si, está vinculada às diferentes concepções intrínsecas aos sistemas de Marx e Weber, sobretudo as que se manifestam no campo axiológico, com as óbvias repercussões que daí derivam para a análise do comportamento do ator social e dos condicionantes exercidos sobre ele pelas estruturas sociais. A remissão, contudo, à obra desses autores nem sempre contempla o que há de efetivamente diverso entre eles, abdicando das nuanças e da complexidade das suas construções teóricas originais a fim de demarcar oposições, freqüentemente idiossincráticas. Assim, por exemplo, com as relações entre o Estado e a sociedade civil, em que a "nossa" leitura dominante de Weber radicaliza a autonomização da primeira dimensão diante da segunda, enquanto atribui a Marx, em que pese a sua argumentação em O 18 brumário e em outros momentos densos da sua obra, uma concepção na qual desaparecem inteiramente os temas da autonomia da política quanto aos interesses e do Estado quanto à sociedade civil, que vão ser, para citar apenas um autor, o leitmotiv da sociologia política de um pensador marxista do porte de Antonio Gramsci.
O Weber da versão hoje hegemônica nas ciências sociais e na opinião pública sobre a interpretação do Brasil, tem sido aquele dos que apontam o nosso atraso como resultante de um vício de origem, em razão do tipo de colonização a que fomos sujeitos, a chamada herança do patrimonialismo ibérico, cujas estruturas teriam sido ainda mais reforçadas com o transplante, no começo do século XIX, do Estado português no solo americano. Desse legado, continuamente reiterado ao longo do tempo, adviria a marca de uma certa forma de Estado duramente autônomo em relação à sociedade civil, que, ao abafar o mundo dos interesses privados e inibir a livre iniciativa, teria comprometido a história das instituições com concepções organicistas da vida social e levado à afirmação da racionalidade burocrática em detrimento da racional-legal. Ainda segundo essa versão, a ausência do feudalismo na experiência ibérica, inclusive no Brasil, aproximaria a forma patrimonial do nosso Estado à tradição política do Oriente, onde não se observariam fronteiras nítidas a demarcar as atividades das esferas pública e privada. Raimundo Faoro, no seu clássico Os donos do poder, além de avizinhar o iberismo do despotismo oriental, retomando o argumento de Tavares Bastos e Sarmiento, liberais ibero-americanos do século XIX, sugere a necessidade, motivado pelo seu estudo de caso, de se proceder à revisão da tese de Weber, que vincula a emergência do espírito capitalista à ética calvinista, em favor da que sustenta que "somente os países revolvidos pelo feudalismo" teriam chegado a adotar o sistema capitalista, integrando nele a sociedade e o Estado" (Faoro, 1975, vol. 1:22).
Não seríamos propriamente um caso ocidental, uma vez que, aqui, o Estado, por anteceder aos grupos de interesses, mais do que autônomo em face da sociedade civil, estaria empenhado na realização de objetivos próprios aos seus dirigentes, enquanto a administração pública, vista como um bem em si mesmo, é convertida em um patrimônio a ser explorado por eles. Inscritos no Oriente político — Simon Schwartzman, ao conceituar patrimonialismo, categoria central do seu influente Bases do autoritarismo brasileiro, não somente cita o Marx do modo de produção asiático, como também o clássico de K. Wittfogel sobre as sociedades hidráulicas do despotismo oriental (Schwartzman, 1982:43) —, conheceríamos um sistema político de cooptação sobreposto ao de representação, uma sociedade estamental igualmente sobreposta à estrutura de classes, o primado do Direito Administrativo sobre o Direito Civil, a forma de domínio patrimonial-burocrática e o indivíduo como um ser desprovido de iniciativa e sem direitos diante do Estado.
Tal versão, hegemônica na controvérsia sobre a explicação do Brasil, procura contrapor a dimensão da física dos interesses à metafísica brasileira, historicamente centrada na idéia de uma comunhão entre o Estado e a nação, investido aquele da representação em geral da sociedade e do papel de intérprete das suas expectativas de realização, e sobretudo na noção de que o interesse do particular, para ter a sua legitimidade plenamente reconhecida, deva se mostrar compatível com o da comunidade nacional. O capitalismo brasileiro, originário dessa metafísica, seria, pois, politicamente orientado, uma modalidade patológica de acesso ao moderno, implicando uma modernização sem prévia ruptura com o passado patrimonial, o qual, ademais, continuamente se reproduziria, na medida em que as elites identificadas com ele deteriam o controle político do processo de mudança social. O Estado neopatrimonial, ao restringir a livre manifestação dos interesses, e ao dificultar, com suas práticas de cooptação, a sua agregação em termos sindicais e, principalmente políticos, favoreceria, assim, a preservação das desigualdades sociais crônicas ao país.
Romper com esse Oriente político significaria, de um lado, uma reforma política que abrisse o Estado à diversidade dos interesses manifestos na sociedade civil, impondo a prevalência do sistema de representação, e, de outro, a emancipação desses interesses de qualquer razão de tipo tutelar. A identificação do caráter quase asiático do Estado brasileiro como obstáculo à liberdade e a padrões igualitários de convivência social, argumento que tem como ponto de partida a sua radical autonomia diante da sociedade civil e o que seria a separação dramática entre seus fins políticos e a esfera dos interesses privados, leva, então, à sugestão de que a reforma do Estado deve estar dirigida à sua abertura a essa esfera, realizando o seu papel democrático na administração e composição dos diferentes e contraditórios interesses socialmente explicitados. Somente a física dos interesses pode remover a velha tradiçãometafísica brasileira, que estaria comprometida com a noção de uma sociedade hierárquica e desigual.
A ruptura, pois, como em Tavares Bastos no século passado, deveria se aplicar no plano da institucionalidade política, especialmente no que diz respeito à forma do Estado, uma vez que, ao se conceder plena liberdade aos interesses, eles tendem a produzir uma dinâmica benfazeja que traz consigo maior igualdade social. O patrimonialismo é marca do Estado, e não da sociedade, e, por isso mesmo, nessa versão interpretativa, ela não comparece como dimensão analítica, em particular na sua questão agrária: o argumento cinge-se ao institucional, a reforma na política contém em germe a possibilidade da boa sociedade. A leitura do tema do patrimonialismo em Weber, à medida que se volta para o paradigma do Oriente clássico, onde não se conheceu o direito à propriedade individual, direito que, desde os gregos, nasce com o Ocidente, é, então, prisioneira do ângulo das instituições políticas, crucialmente do Estado, e é daí que provém a sua ênfase na reforma política e não na reforma social. Desse eixo explicativo deriva uma das principais controvérsias da literatura, opondo, de um lado, os que advogam, desde Tavares Bastos aos constituintes de 1891 e aos adeptos de hoje da reforma política como base prévia para a modernização do país, que o país legal deva mudar o país real, e, de outro, os que invertem o sentido dessa proposição.
Na interpretação que privilegia o fenômeno do patrimonialismo pela forma do Estado, contudo, o que haveria de oriental na política tenderia a ser deslocado pela afirmação dos interesses, o estado de São Paulo, com a expansão da agroexportação cafeeira, um primeiro esboço do Ocidente sobre o qual deveria se assentar a arquitetura institucional da democracia representativa, removendo-se a pesada carga de um Estado parasitário a fim de dar passagem aos interesses e à sua livre agregação. Nesse sentido, conta-se a saga de infortúnios da democracia brasileira a partir das derrotas políticas de São Paulo, que o teriam privado de universalizar o seu paradigma ocidental. Nessa versão, portanto, a chamada revolução de 1930 teria retomado o velho fio ibérico de precedência do Estado sobre a sociedade civil, a era Vargas entendida como contínua ao ciclo dominado pelo eixo Pombal—D. Pedro II, uma projeção do Império, uma vez que expressaria as mesmas "vigas mestras da estrutura" ao traduzirem a realidade patrimonialista na ordem estatal centralizada (Faoro, 1975, vol. 2:725). Afora o interregno de hegemonia de São Paulo — 1889-1930 — ou mesmo de influência deste Estado — 1934-1937 —, a força da tradição e o peso das estruturas do Estado induzem a uma determinação, a "todos superior, condutora e não passivamente moldada", que leva o quadro administrativo a dominar a cúpula. E, assim, "em 1945, o ditador já não temia mais a hegemonia paulista, só possível na base de núcleos econômicos não dependentes, como fora a lavoura cafeeira", trazendo os seus interesses para a malha do Estado, lugar patrimonial de extração de riqueza e de distribuição de prebendas, a esta altura vinculando, cartorialmente, o parque industrial paulista à sua administração (idem).
A revolução de 1930 consistiria, pois, em um retorno às raízes patrimoniais, obedecendo ao movimento oculto das estruturas, e não em uma invenção com que os dirigentes da ordem burguesa, diante da crise de legitimidade da Primeira República, teriam ampliado o alcance da universalização do Estado, impondo-lhe maior autonomia quanto à esfera dos interesses — no caso, os dominantes em São Paulo —, a fim de permitir a incorporação ao sistema da ordem dos personagens emergentes da vida urbana, como militares, empresários, operários e intelectuais. O que teria sido o feliz interregno 1889-1930, quando os interesses encontraram representação na política e conformaram o Estado, no contexto institucional da Carta americana de 1891 e do sistema de dominação formalmente racional-legal dela derivado, foi, como sabido, o momento republicano em que a esfera pública foi apropriada pela esfera privada e em que se solidarizou aquele sistema de dominação com a ordem patrimonial pela via do sistema político do coronelismo.
O interesse, como instância isolada — como já fora percebido nas lições clássicas do radicalismo filosófico inglês, em Hegel, Tocqueville, para não falar de Marx —, conduzia ao particularismo na forma do Estado, e, nas condições retardatárias da sociedade brasileira, onde predominava o estatuto da dependência pessoal, tendia a se combinar com as formas de mando oligárquicas e a sociabilidade de tipo hierárquico que prevaleciam no país. O primado do interesse, na Primeira República, assim, não se confronta com as formas de dominação tradicionais, antes as subordina, convertendo o atraso, tal como na exemplar demonstração de Victor Nunes Leal em seus estudos sobre o coronelismo, em uma vantagem para o moderno que estaria representado pela economia dominante em São Paulo, sob a direção de um patriciado com origem na propriedade fundiária e orientado por valores de mercado — a Prússia paulista será uma invenção da Primeira República.
Pelo ângulo do Oriente, isto é, considerando o patrimonialismo como um fenômeno de Estado, essa versão weberiana sobre a interpretação do Brasil, mais do que identificar o atraso como próprio à instância do político, tenderá a ocultar as relações patrimoniais que instituem o tecido da sociabilidade, perdendo de vista, na linguagem da controvérsia do pensamento social brasileiro, "o país real", especialmente o mundo agrário, as relações de dependência pessoal que aí se estabelecem e de como o seu paradigma paulista, longe de representar uma linha de oposição entre atraso e moderno, representação e cooptação, ordem racional-legal e patrimonialismo, na verdade, aponta para uma composição ambígua dessas polaridades, imprimindo à matriz do interesse a marca de um particularismo privatista antípoda à formação da cultura cívica.
Na outra ponta da recepção de Weber, transita-se da perspectiva das instituições políticas para a da sociologia, com centralidade na questão agrária e no patrimonialismo de base societal, e, principalmente, do Oriente para o Ocidente, de cuja história e processo de desenvolvimento o Brasil seria um resultado e parte integrante, embora incluído nele como um caso retardatário e ambíguo, uma vez que combinaria em si a forma moderna do Estado de arquitetura liberal com o instituto da escravidão e com a organização social de tipo patrimonial. Weber, nessa chave, deixa de ser mobilizado como uma referência que se contraponha a Marx na questão da autonomia do Estado e do político em geral, recolhendo-se dele a marcação teórica para a análise da sociedade "senhorial escravocrata" e a sua organização estamental, enquanto em Marx se vão procurar os conceitos que permitam explicar a inscrição do país no sistema do capitalismo mundial e a transição para uma "ordem social competitiva" fundada em uma estrutura de classes moderna.
Daí se vê, por conseguinte, a heterogeneidade na recepção brasileira de Weber, que estaria presente tanto na versão interpretativa dos que identificam os elementos quase asiáticos que teriam presidido a formação do Estado nacional, em razão do transplante do patrimonialismo de Estado português, como a raiz dos nossos males, como na dos que, como Florestan Fernandes, Maria Silvia de Carvalho Franco e José Murilo de Carvalho, à medida que entendem, nas palavras do primeiro, "o Estado [...] como a única entidade que podia ser manipulável desde o início [...] com vistas à sua progressiva adaptação à filosofia política do liberalismo" (Fernandes, 1975:35), ou, nas da segunda, para quem a "organização administrativa desse período [década de 1830] fundava-se formalmente no princípio burocrático de obediência a um poder público abstratamente definido, legitimado e expresso por normas racionalmente criadas e legalmente estatuídas" (Franco, 1969:116), ou, ainda, nas do último, ao sustentar que a burocracia imperial não teria se constituído em um estamento (Carvalho, 1980:129), provocando, com isso, o deslocamento da inquirição sobre a causa do nosso atraso para o terreno das relações sociais e do impacto da natureza patrimonial delas sobre um Estado, em sua concepção original, de extração moderna.
Nessa interpretação, cujo eixo se encontra na caracterização do compromisso que se estabeleceu, a partir da Independência, entre a ordem racional-legal e a patrimonial, entre o liberalismo da forma do político e as estruturas econômicas herdadas da Colônia, entre o atrasoe o moderno, compreendido o primeiro como racional ao capitalismo, entre a representação e a cooptação, o problema da ruptura não deveria estar referido ao Estado, mas sim às relações sociais de padrão patrimonial, fazendo com que "toda a conduta dos personagens [venha] entrelaçada com a concessão de mercês, expondo a vigência do princípio de dominação pessoal, base pouco propícia para a orientação racional da ação" (Franco, 1969:27). Sob esse ângulo, a ruptura põe-se no registro da longa duração, sendo o resultado de transformações moleculares nas relações tradicionais, historicamente responsáveis pela contenção da afirmação da sociedade de classes entre nós, caracterizando a revolução burguesa no país como dominada pelo andamento passivo, e, como tal, melhor representada conceitualmente pelo tema da transição, no caso, o da transição da ordem senhorial escravocrata para a ordem social competitiva.
O processo de diferenciação dos interesses entre colônia e metrópole, de onde surgira o espírito nativista e a adesão ao liberalismo dos homens que realizaram a Independência, teria importado uma forma particular de internalização da ideologia liberal, em que ela viria a expressar mais os anseios "de emancipação dos estamentos senhoriais da 'tutela colonial'" do que os de "emancipação nacional" (Fernandes, 1975:36). Concretizada, porém, a Independência, na análise de Florestan Fernandes, esse movimento se inverte, com a conversão do liberalismo em uma força dinamizadora da sociedade civil nascida da Independência, "uma esfera na qual se afirma e dentro da qual preenche sua função típica de transcender e negar a ordem existente" (idem:39). Transcendência e negação que, na passagem da sociedade colonial à sociedade nacional, iriam exigir processos históricos de longa duração, no curso dos quais se produziriam, pelo papel da ideologia e das instituições liberais na "revolução encapuzada" da Independência, contínuas transformações moleculares em que se opera, na expressão daquele autor, o sepultamento do passado (idem:46). A intensa floração mercantil que se segue à ruptura com o pacto colonial, a nacionalização do comércio exportador, alterando as funções econômicas do senhor rural, assim como a própria diferenciação social daí resultante, com a criação de novas ocupações qualificadas e o estímulo às profissões liberais, teriam induzido, então, que uma "parte da sociedade global" viesse a se destacar "das estruturas tradicionais preexistentes", passando a constituir o seu "setor livre", "única esfera na qual a livre competição podia alcançar alguma vigência". Sob essa lógica, tem início, apesar das condições "socioeconômicas adversas (por causa da persistência da escravidão e do patrimonialismo), uma área na qual o 'sistema competitivo' pode coexistir e chocar-se com o 'sistema estamental'" (idem:48, ênfases no original).
A transição, pois, da ordem senhorial-escravocrata para a ordem social competitiva cumpre o andamento das revoluções passivas, lida na chave weberiana dos tipos de dominação e das modalidades expressivas de ação que cada um deles comporta, implicando um processo progressivo de realização do moderno em que, por meio da diferenciação societal — basicamente, pela aparição e afirmação de novos papéis sociais de desempenho incompatível com a ordem tradicional —, o sistema de orientação racional da ação tende a se generalizar, tornando-se, por fim, hegemônico. No entanto, em razão da natureza passiva do caminho que o viabiliza como dominante, o sistema de orientação racional da ação pode coexistir com a ordem patrimonial, criando para a burguesia a possibilidade de extrair vantagem tanto do modernocomo do atraso: "[a burguesia] se compromete, por igual, com tudo que lhe fosse vantajoso: e, para ela, era vantajoso tirar proveito dos tempos desiguais e da heterogeneidade da sociedade brasileira, mobilizando as vantagens que decorriam tanto do atraso quanto do adiantamento das populações" (idem:204, ênfases no original). Assim, se o Estado nacional nasce "bastante moderno", apto à "modernização ulterior de suas funções econômicas, sociais e culturais", matriz efetiva da expansão do liberalismo no país (idem:38), desde a sua origem ele mantém a marca de uma convivência com uma ordem antitética à sua, que, longe de ser impeditiva de sua afirmação, torna-a possível, sobretudo por consistir na base econômica a partir da qual ele vai poder operar a sua forma de inscrição no capitalismo mundial.
A trajetória de São Paulo, especialmente a partir do momento em que a agroexportação do café veio a se basear no trabalho livre, seria paradigmática de como a afirmação da esfera dos interesses e o sistema de orientação racional do homo œconomicus não teriam sido suficientes para a imposição da ordem social competitiva, importando, pois, em um novo cenário, a reiteração da ambigüidade constitutiva à formação brasileira: de um lado, o "cálculo exato" dohomo œconomicus da cultura capitalista do café e dos tipos sociais emergentes com a expansão dos negócios e da industrialização; de outro, no plano da política, a preservação do estilo senhorial, a extração do consentimento e o exercício da coerção por métodos e formas patrimoniais. A ordem competitiva, se prevalece na economia, não irá produzir os agentes sociais vocacionados para uma racionalização do seu mundo, distantes "de uma filosofia política [...] que possa conduzir ao capitalismo como estilo de vida". Como instância isolada, o interesse e os agentes sociais que melhor o representam, mesmo na sua forte manifestação paulista, ficam confinados ao horizonte da esfera privada, "convertendo-se ao liberalismo das elites tradicionais, [incorporando-se], de fato, aos círculos conservadores e [passando] a compartilhar formas de liderança e de dominação políticas variavelmente conflitantes ou inconsistentes com a consolidação da ordem social competitiva [...]" (idem:146, ênfases no original). O interessemoderno, em sua forma já especificamente capitalista, ao abdicar do programa de radicalização do liberalismo, nasce, além de comprometido com as práticas de extrair vantagens do atraso — como realizar, no mundo agrário, a produção de excedente a partir de relações de dependência pessoal —, associado a técnicas de controle social que dissimulem a existência da estrutura de classes e impeçam a sua livre explicitação.
O fracasso das elites econômicas de São Paulo, no momento da transição para o trabalho livre e quando se firma o primado das relações especificamente capitalistas, em realizar "por cima" a universalização da agenda da ordem social competitiva, em nome do cumprimento do programa liberal-radical de difundir o capitalismo como estilo de vida, teria como conseqüência destiná-la a uma construção "por baixo", cuja orientação estivesse voltada a derruir o padrão de heteronomia social prevalecente na sociedade brasileira, suposto da organização patrimonial. Tal construção, por isso mesmo, deveria ter como ponto de partida a afirmação dos interesses dos indivíduos expostos ao estatuto da dependência pessoal ou de cidadania precária do ponto de vista político e social. O nó górdio a ser cortado, a fim de se encontrar passagem para a ordem social competitiva, não estaria, então, no Estado nem no interesse em geral, mas sim em um certo tipo de interesse, que, ao ser livremente manifestado, fosse dotado da propriedade de conformar identidades autônomas, instância nova sem a qual não se poderia romper efetivamente com o legado da herança patrimonial.
Nesse novo caminho para a inquirição do caráter do patrimonialismo brasileiro, do qual resulta a troca de foco do Estado para a sociedade, a percepção da política e do Estado deveria ter o exclusivo agrário como ponto de partida, dado que somente aí se poderia surpreender, no contexto puro da dominação senhorial, a trama da sociabilidade que envolveria os indivíduos submetidos à situação de dependência pessoal, condição para se desvendar o modo particular de articulação entre a dimensão do público e a do privado e a do Estado com a sociedade, pondo-se a nu as conexões internas, vigentes na modelagem da ordem burguesa no país, entre o plano do racional-legal e o do patrimonial. Com essa perspectiva sociológica, que procura combinar analiticamente os micro e os macrofundamentos responsáveis pela formação do Estado, se joga uma nova luz sobre a dimensão do interesse, que deixa de ser percebido como o lugar da inovação e de resistência ao patrimonialismo, e sim da conservação do status quo.
Maria Silvia de Carvalho Franco, no seu clássico Homens livres na ordem escravocrata, ao utilizar o argumento de Weber sobre a singularidade da organização burocrática estatal no Ocidente moderno, demonstra empiricamente como, aqui, nas condições de escassez de recursos que pudesse suportar a ação do Estado, o processo de expropriação do servidor público dos meios materiais da administração teria sido apenas formal, na medida em que, na realidade, boa parte desses meios era financiada com recursos privados. Foi a pobreza da agência estatal, e não a sua natureza pretensamente quase oriental, que teria dado como resultado não desejado a fusão entre o público e o privado, permitindo, assim, que o exercício do poder originário do cargo público pudesse ser traduzido na busca de fins estritamente particulares (Franco, 1969:cap. III). Investigando as condições de funcionamento, no século passado, das Câmaras Municipais do Vale do Paraíba, a autora exprime, de modo exemplar, a versão weberiana que inscreve o patrimonialismo brasileiro como de caráter societal e de raiz agrária:
[...] na base do desenvolvimento da burocracia na administração pública, está um caráter essencial: o processo de expropriação do servidor público dos meios materiais da administração, separando-se com nitidez os recursos oficiais dos bens privados dos funcionários. Pelo que já ficou exposto, vê-se como esse processo de expropriação, no Brasil do século XIX, foi sustado pelo insuperável estado de penúria a que estavam sujeitos os órgãos públicos. Embora mantidos os gastos sempre dentro do imprescindível à preservação dos bens e à continuidade dos serviços do Estado, mesmo para esse mínimo, os recursos oficiais eram escassos, compensando-se essa falta pelas incursões aos bolsos dos cidadãos e das autoridades. E o resultado disto foi que, em lugar do funcionário público tornar-se cada vez mais um executivo que apenas gere os meios da administração, manteve-se preservada a situação em que ele detinha sua propriedade. Isto significa, evidentemente, que ele os podia controlar autonomamente, pois ele os possuía. Seu era o dinheiro com que pagava as obras; seu, o escravo cujos serviços cedia; sua, a casa onde exercia as funções públicas (idem:126, ênfases no original).
Distante, pois, da interpretação que caracteriza o Estado como uma instância radicalmente autônoma da sociedade, como na literatura que o compreende como patrimonial e responsável pelo atraso, a versão que identifica o patrimonialismo brasileiro como fenômeno societal, o percebe, em chave oposta: a imagem do Estado tutelar não passaria de uma simples aparência a dissimular a sua natureza efetiva de Estado instrumento. Embora moderno, na medida em que sua burocracia administrativa estaria referida aos princípios da ordem racional-legal, as suas ações seriam "corrigidas" no plano da vida local — os "pequenos reinos" dos senhores de terras —, sendo permanentemente "negado enquanto entidade autônoma e dotada de competência para agir segundo seus próprios fins", a vida privada prolongando-se para dentro da vida pública, "mantendo, também nesta, a dominação pessoal" (idem:135, 138 e 230).
O elemento retardatário teria a sua origem na sociedade civil, a partir da estruturação do modo de propriedade e das relações de trabalho nela prevalecentes, e não no Estado, impondo a este uma fórmula bifronte, combinando ambiguamente a dominação racional-legal com a tradicional, e àquela um amorfismo que lhe teria impedido de conhecer, quando da passagem para o trabalho livre, uma estrutura de classes de tipo capitalista, o poder pessoal interditando ao seu objeto — o "homem pobre" — a percepção de si como detentor de direitos e interesses próprios, e ao seu sujeito — os grupos dominantes — a identificação dos seus objetivos econômicos comuns a fim de agirem com unidade (idem:231). Dessa forma, para que a matriz do interesse viesse a produzir seres sociais dotados de autonomia e de identidade social definida, importaria, de um lado, erradicar as formas de patrimonialismo societal preservadas no processo de modernização da sociedade brasileira, e, de outro, por um fim na tradicional capacidade da esfera privada de invadir a esfera pública, convertendo-a em um instrumento seu.
O diagnóstico formulado por essa interpretação se fazia singularizar, entre outros motivos, pela compreensão de que atraso e moderno não se achavam, devido à forma de desenvolvimento desigual do capitalismo brasileiro, em contraposição agonística, mas combinados, levando à acomodação princípios antitéticos que se fundiriam de modo heteróclito no Estado, como acima se procurou explicar. Com esse argumento de fundo, o processo de modernização capitalista, com base em uma industrialização politicamente induzida, tal como teve curso a partir de 1930, intensificando-se nas duas décadas seguintes, vai ser entendido como uma confirmação, já em um contexto especificamente capitalista, do compósito em termos de princípios e de sistema da ordem que teria presidido a nossa formação, uma vez que ele se cumpriria sem liberar a manifestação da estrutura de classes e sem deslocar as elites tradicionais do interior do Estado.
O nacional-desenvolvimentismo consistiria na nova práxis burguesa por meio da qual se garantiria continuidade a essa velha solução brasileira, compatibilizando os ideais de modernização econômica das novas elites com a preservação do domínio das oligarquias tradicionais — que ainda reteriam grande parte da população do campo sob o estatuto da dependência pessoal. Por definição, de sustentação pluriclassista, o regime nacional-
É sobre esse assentamento conceitual que a chamada teoria do populismo, com uma influência weberiana mais velada do que explícita — também inspirada, em seus inícios, pela obra do importante sociólogo ítalo-argentino, Gino Germani [1] —, vai encontrar a sua base para a explicação do Brasil, na qual, ao contrário do eixo analítico que a inspira, além de se perder a fina conexão entre atraso e moderno, presente em Fernandes e Franco, a ênfase no macroestrutural vai ceder lugar ao tema da subjetividade, dimensão estratégica onde se radicaria a vontade do ator moderno, sem cuja vigorosa manifestação não se afastariam os constrangimentos estruturais que impediriam a construção de uma identidade autônoma de classe do operariado brasileiro moderno [2].
A teoria do populismo vai se tornar, a partir dos anos 60, particularmente depois do golpe militar de 1964, a linguagem comum dos que entendiam que a miséria brasileira se devia ao fato de a racionalidade ocidental estar, aqui, submersa e condicionada à ordem privada de estilo patrimonial, que se faria preservar nas coalizões pluriclassistas entre elites modernas e tradicionais e o sindicalismo jurisdicionado pela estrutura corporativa. O sindicalismo, como lugar de identificação e de agregação de interesses dos trabalhadores, seria a instância privilegiada de onde se poderia impor a ruptura com a forma heteróclita de Estado, cuja função manifesta consistiria em resguardar, no curso do processo de modernização, a conservação da tradição e os modos de controle social de caráter extra-econômico sobre a força de trabalho, isto é, não especificamente capitalistas.
O populismo resultaria da manipulação das massas trabalhadoras, em sua maioria com origem no mundo rural, mediatizada pela ação carismática de um líder, as quais seriam incorporadas ao sistema da ordem pelo duplo caminho de acesso aos direitos sociais e pelo uso de cursos simbólicos de integração, com o que se procurava levá-las à abdicação da autonomia enquanto classe e à perda de distinção dos seus interesses em favor dos interesses da coalizão de elites à testa do Estado. O carisma, no caso, não se comportaria como uma ação propiciatória ao encantamento do mundo e como um fiat do novo, cumprindo o seu papel em um processo de conservação com mudança controlada, pondo o interesse — e não apenas dos trabalhadores — sob a tutela da racionalização burocrática do Estado. O apelo ao carisma seria, então, um recurso do atraso, e contra ele se deveria insurgir o interesse do trabalhador, cuja racionalização nos sindicatos reclamaria o mercado como direção principal — e não o Estado, que negaria a construção da sua autonomia —, onde o moderno que lhe seria intrinsecamente constitutivo encontraria campo livre para estabelecer as raízes, ao longo do tempo e a partir "de baixo", de uma nova forma de Estado.
Como interpretação do Brasil e como ideologia orientada para a ação, a teoria do populismo nasce sob o registro do interesse moderno dos trabalhadores industriais e da necessidade da sua emancipação dos mecanismos de cooptação por parte do Estado. Nesse sentido, o seu paradigma é o mercado de São Paulo e a sua unidade estratégica de análise é o sindicalismo daquele estado da Federação. Centrada nos problemas da representação sindical e política dos trabalhadores industriais, essa teoria relega ao abandono o veio analítico da sociologia agrária e do movimento dos personagens sociais originários do campo, com o que induz a percepção doatraso como uma região social a ser colonizada por aqueles. Não à toa, muitas das correntes de opinião da esquerda, que, nos anos 70, acolheram a explicação da teoria do populismo, se voltaram, anacronicamente, para a experiência dos Conselhos Operários da época da juventude de Gramsci em Turim, na expectativa de mudar a sociedade e o Estado a partir das fábricas. Nesse particular, a teoria do populismo, inesperadamente, vinha reforçar o campo explicativo da versão weberiana de patrimonialismo de Estado, na medida em que, como ela, se limitava a contrapor à coalizão moderno-atraso, tradicionalmente prevalecente no sistema da ordem, a explicitação social do moderno, sem política e sem alianças com as classes retardatárias dos setores subalternos: o "operário" que emerge da teoria do populismo não está vocacionado, por definição, a se aliar ao camponês.
Essas versões weberianas na interpretação do Brasil, distantes entre si, como se tem procurado demonstrar, guardam, no entanto, algumas afinidades, sobretudo o paradigma paulista e a valorização da matriz do interesse como estratégicos para a democratização do país. Mais substantivamente, o diagnóstico da modernização operada em chave neopatrimonial, conforme a primeira versão aqui sumariada, e o da realizada, na segunda versão, sob o pacto nacional-populista, ambos indicando a necessidade de uma ruptura histórica com a tradição, apresentam elementos comuns, principalmente na indicação do papel negativo do Estado na formação da sociedade brasileira contemporânea. Entre tantas, a maior diferença que as distingue está na compreensão do tema estratégico do interesse, emancipatório em geral para uma, e, em particular, para a outra, e somente na medida em que está associado à questão da autonomia e da identidade de classe.
Essas versões fizeram fortuna — embora nem sempre estivesse visível, em especial em fins da década de 80 e no começo da de 90, o que as singularizava irredutivelmente —, e consistiram no suporte ideal das forças políticas que, após a promulgação da Constituição de 1988, se fizeram dominantes na opinião pública e nos segmentos organizados da sociedade, vindo, mais tarde, a assumir configuração partidária no PSDB e no PT, não por acaso originários do Estado de São Paulo (Barboza, 1995), o primeiro deles, como notório, ocupando a Presidência da República, e, o segundo, o lugar de maior partido de oposição do país. Contudo, a emancipação dos interesses da política dos do Estado não o tem feito virtuoso, assim como a desqualificação da idéia de República em favor da de mercado não tem produzido indivíduos dotados de direitos e gozando de iguais oportunidades na vida. O moderno interesse das elites econômicas de São Paulo, agora como antes, na Primeira República, somente se faz hegemônico no campo da política ao se coligar com as oligarquias — exemplar a aliança governamental entre o PSDB e o PFL —, as quais se utilizam do Estado e dos seus recursos a fim de reciclar e atualizar o seu domínio e identidade de classe. De outra parte, o moderno interesse dos trabalhadores industriais, apesar do vigor demonstrado nas grandes movimentações sociais dos anos 80 e da relativa força eleitoral do partido a que deu nascimento, ao dar as costas ao tema republicano e se tornar prisioneiro do seu interesse particular, não se vem revestindo de capacidade de universalização.
Sob o império do interesse, uma década depois de promulgada a mais democrática Carta constitucional que o país já conheceu, pode-se constatar, contra os melhores votos formulados pelas interpretações dominantes sobre o Brasil, que a ordem racional-legal não se faz acompanhar necessariamente de mais justiça — ademais, com o Executivo ultrapassando o Legislativo em matéria de legislação pelo uso das Medidas Provisórias, nem previsibilidade ela pode garantir —, assim como uma estrutura de classes sociologicamente "limpa" não erige automaticamente sobre si uma representação política que favoreça as maiorias. O moderno, pois, não veio a encantar o mundo dos brasileiros, pondo-os em um faroeste idílico propício à livre iniciativa e à realização de trajetórias individuais venturosas, mas a racionalizar a sua vida a partir de valores de mercado, como, aliás, seria de esperar de uma previsão weberiana.
As linhas principais dessas interpretações do Brasil se tornaram idéias-força e se encontraram com os atores que as conduziram à concretização — e, nisso, comprovaram o seu caráter não arbitrário —, mas o seu êxito intelectual e político está muito distante dos resultados práticos previstos nos seus diagnósticos: a malaise, se muda o cenário, é a mesma e se aprofunda nos níveis de exclusão e fragmentação social. Mais do que isso, o movimento novo que reanima a sociedade vem de um lugar insuspeitado: do atraso e da ralé de quatro séculos, onde o interesse é como se fosse virtual, uma expectativa e não um fato tangível, fora do mercado e do mundo dos direitos constituídos, dos trabalhadores sem terra. Esse movimento é, por natureza, republicano, na medida em que se dirige necessariamente ao Estado e à arena pública a fim de converter à cidadania indivíduos destituídos de direitos e até de interesses — salvo o natural de conservar a própria vida, uma vez que sequer fazem parte da força de trabalho, constituindo-se em "sobra" consolidada da população. Além disso, como o seu interesse não se reveste de materialidade, ao contrário do que ocorre com o campesinato clássico, para que ele venha à luz é indispensável a organização prévia e a concepção de uma adequada rede social que viabilize sua resistência nas invasões de terra e nos acampamentos. Dessa forma, ao menos para nascer, o seu interesse requer a virtude, intrínseca à sua manifestação a fórmula tocquevilliana do "interesse bem compreendido".
Nessa hora em que se esgotam as perspectivas de boa sociedade contidas nas promessas feitas pelas interpretações hegemônicas sobre o Brasil, em que cabia ao moderno, no "mercado" político e no mercado propriamente dito, dar passagem à liberdade e à igualdade, a relação entreatraso e República pode apontar para um recomeço. Em primeiro lugar, porque os seus temas de fundo são o da ampliação da cidadania e o da defesa da sociabilidade contra o que seria a naturalidade dos mecanismos de mercado em um mundo globalizado; e, em segundo, porque importa uma reabertura da avaliação da nossa história, e, com ela, do que foi a nossa Ibéria, certamente uma república de poucos, embora tenha se mostrado apta à incorporação dos setores emergentes na sociedade brasileira, como se verificava no imediato pré-64. Decerto que ela ficou para trás, como também ficou a idéia do Estado nacional como uma comunidade superposta aos interesses dos indivíduos que o compunham.
O interesse sem República, não importa quem seja o seu portador, vive a lógica do mercado, e a questão reside, então, na possibilidade de ela ser construída a partir de uma nova sociabilidade que se credencie a resolver a velha dissociação entre as esferas do público e do privado, para o que ainda são referências importantes as obras de Tocqueville e Gramsci, assim como o esforço da teoria contemporânea no sentido de fundamentar uma democracia deliberativa, com todas as suas implicações sobre uma reforma ético-moral — como a queria Gramsci, por exemplo — que venha a deslocar a questão da eticidade do plano do Estado para o da sociedade civil. A República é um espaço comunitário, em que os interesses também expressam valores e uma certa história comum; o grande desafio para uma nova interpretação do Brasil está em abrir o campo de indagações e possibilidades a fim de que a física moderna dos interesses "bem compreendidos" — vale dizer, do interesse dotado de capacidade de universalização na medida em que também venha a expressar valores públicos — se encontre com a metafísica brasileira [3], pondo-a sob a sua direção, e traduzindo para o plano da sociabilidade a tradição de valorização do público que a Ibéria praticou no interior do seu Estado, cumprindo assim o programa republicano de formar uma comunidade de cidadãos com iguais direitos à vida e à realização pessoal e que tenha a sua história como um dos sistemas de orientação que a projetem para a frente.
----------
Luiz Werneck Vianna é professor do Iuperj e autor, entre outros, de Liberalismo e sindicato no Brasil.
-----------
Notas
[1] Particularmente influente foi a sua Sociología de la modernización (Germani, 1969).
[2] Sobre o ponto, ver, de F. Weffort, Sindicatos e política, obra de ampla recepção entre os cientistas sociais brasileiros dos anos 70 e 80 (Weffort, s/d).
[3] Sobre a metafísica brasileira e suas relações com o mundo dos interesses, ver A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil (Werneck Vianna, 1997) e O quinto século — André Rebouças e a construção do Brasil (Rezende de Carvalho, 1997).
Referências bibliográficas
BARBOZA FILHO, Rubem. (1995). "FHC: os paulistas no poder". In: VV.AA. FHC: os paulistas no poder. Niterói: Casa Jorge Editorial.
CARVALHO, José Murilo. (1980). A construção da ordem. Rio de Janeiro: Campus.
FAORO, Raimundo. (1975). Os donos do poder. Porto Alegre/São Paulo: Ed. Globo/Ed. da Universidade de São Paulo.
FERNANDES, Florestan. (1975). A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar.
----------. (1976). A sociologia numa era de revolução social (2. ed.). Rio de Janeiro: Zahar.
FRANCO, Maria Silvia de Carvalho. (1969). Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros-USP.
GERMANI, Gino. (1969). Sociologia de la modernización. Buenos Aires:
Paidós.
MELO, Manoel Palácios Cunha. (1997). As ciências sociais no Brasil. Tese de Doutorado, IUPERJ.
REZENDE DE CARVALHO, Maria Alice. (1997). O quinto século — André Rebouças e a construção do Brasil. Tese de Doutorado, IUPERJ.
SCHWARTZMAN, Simon. (1982). Bases do autoritarismo brasileiro. Rio de Janeiro: Campus.
WEFFORT, Francisco C. (s/d). Sindicatos e política. Tese de Livre-Docência, USP.
WERNECK VIANNA, Luiz. (1997). A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan.
Fonte: Especial para Gramsci e o Brasil